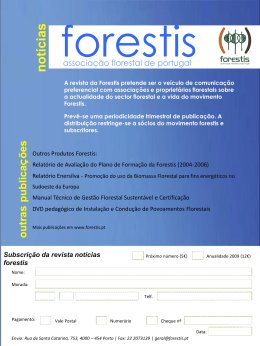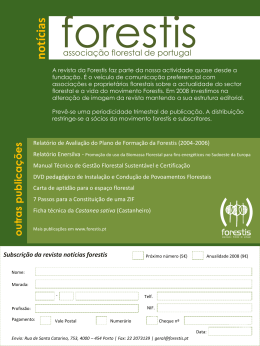Direitos das comunidades – Da retórica à prática Carlos Manuel Serra 1. Notas introdutórias Na sequência da Constituição de 1990, bem como da aprovação das primeiras políticas governamentais no domínio dos recursos naturais, resultantes do primeiro Governo democraticamente eleito, foi aprovado o pacote eleitoral fundamental constituído pela trilogia Lei da Terra (Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro), Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro) e Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei n.º 10/99, de 7 de Julho). Esta legislação assenta no princípio democrático de governação, conferindo às comunidades locais um amplo e significativo conjunto de poderes e direitos no que toca aos recursos naturais, bem como prevendo a criação de modalidades de gestão participativa. A própria comunidade local emerge como pessoa jurídica, com todas as consequências dai inerentes no plano do Direito1. Comemora-se, este ano, dez anos de existência da Lei de Florestas e Fauna Bravia (LFFB), à qual nos cingiremos no presente artigo, tempo mais do que suficiente para realizar uma reflexão sobre o processo de implementação, levantando os principais méritos bem como constrangimentos encontrados na prática. 1 O conceito de comunidade local foi consagrado no n.º 1 do artigo 1 da Lei da Terra, como “agrupamento de famílias e indivíduos, vivendo numa circunscrição territorial de nível de localidade ou inferior, que visa a salvaguarda de interesses comuns através da protecção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, sejam cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, pastagens, fontes de água, áreas de caça e de expansão”. Esta definição foi reforçada no n.º 5 do artigo 1 da Lei de Florestas e Fauna Bravia, com o acréscimo da expressão “áreas de caça”. 1 Coloca-se, portanto, a seguinte questão: em que medida esta lei, bem como a respectiva regulamentação, se encontra a ser correctamente implementada, especialmente no que se refere aos direitos comunitários na gestão dos recursos florestais? E, intrinsecamente associada a esta pergunta, coloca-se uma outra: até que ponto esta nova legislação se encontra a contribuir para a geração de desenvolvimento sustentável ao nível local? Um estudo levado a cabo em 2002 com o propósito de verificar se os direitos das comunidades, derivados da nova legislação de recursos naturais, constituíam realidade efectiva ou mera retórica, nomeadamente no contexto do maneio comunitário dos recursos naturais, culminou em diversas conclusões importantes: (1) a ausência de instrumentos de operacionalização da legislação, (2) fraco conhecimento desta, (3) fraqueza das instituições locais, (4) e fraca capacidade de fiscalização das actividades dos diferentes autores2. Conforme veremos adiante, volvidos sensivelmente seis anos, a situação pouco mudou. Seleccionaremos três dos principais marcos da legislação de florestas e fauna bravia, com o propósito de contribuir para debate e reflexão em torno da sua efectiva e real implementação, nomeadamente: (1) o direito à participação nos processos de consulta no âmbito do licenciamento florestal; (2) a parceria como factor de desenvolvimento local; (3) e a partilha de benefícios do uso e aproveitamento de recursos florestais. Estes marcos serão sumariamente analisados, enfatizando-se as dificuldades que se colocam à sua integral e correcta implementação, em prol do grande objectivo governamental de combate à pobreza absoluta, através do desenvolvimento local e do respeito pelos direitos das comunidades. NHANTUMBO, Isilda/MACQUEEN, Duncan, Direitos das Comunidades: Realidade ou Retórica, DNFFB, DFID e IIED, Maputo, 2003, p. 43. 2 2 Para o efeito, servimo-nos fundamentalmente da experiência no programa de trabalho levado a cabo, desde o ano de 2001, pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária3, com o apoio técnico da FAO e Financeiro do Reino dos Países Baixos, e que tem como centro de atenção a trilogia de leis acima referida, encontrando-se estruturado em diversos componentes, nomeadamente: (1) a formação jurídica de diversos actores (2) a pesquisa, (3) a publicação de diversos trabalhos e a (4) documentação e informação4. As componentes formação e pesquisa permitiram recolher um manancial de dados do terreno, parte destes encontra-se actualmente a ser tratado para oportuna divulgação. II. O direito à participação nos processos de consulta no âmbito do licenciamento florestal A consulta comunitária constitui um dos grandes pilares da legislação de recursos naturais, assumindo um espaço privilegiado nos processos de atribuição de direitos de uso e aproveitamento da terra, e enquadrase plenamente no entendimento de legislador constitucional de que a República de Moçambique é um Estado democrático5. 3 O Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) é uma instituição sob tutela do Ministério da Justiça, criada pelo Conselho de Ministros em 1997, e que começou a funcionar em pleno desde o ano de 2001, tem como objectivos fundamentais: “a formação, a capacitação e a qualificação profissional nomeadamente de magistrados judiciais e do ministério, conservadores, notários, assistentes jurídicos e outros quadros do sector judiciários” e “a investigação e a realização de estudos na área do direito, a organização de documentação e informação jurídica, bem como a participação na educação legal do cidadão”. 4 Este programa, na realidade, já vai no seu terceiro projecto de implementação: o primeiro decorreu entre os anos de 2001 e 2004, intitulando-se “Apoio ao Judiciário no domínio das Leis de Terras, do Ambiente e de Florestas e Fauna Bravia” (GCP/MOZ/069/NET.3); o segundo teve lugar no período de 2005 e 2008, tendo sido denominado de “Apoio Jurídico Descentralizado e Capacitação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Boa Governação a Nível Local” (GCP/MOZ/081/NET.3); o terceiro encontra-se prestes a iniciar, com um horizonte temporal de três anos (2009 a 2011), e será subordinado ao lema “Promover o Uso de Terra e dos Recursos em Prol de um Desenvolvimento Sustentável” (GCP/MOZ/096/NET.3). 5 Cfr. Artigos 1 e 3 da Constituição da República de Moçambique. Segundo o artigo 3, “a República de Moçambique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo de expressão, na organização política democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais do Homem”. 3 Na legislação de florestas e fauna bravia, foi igualmente consagrada como um dos requisitos substanciais do licenciamento florestal, sendo que, nos termos do artigo 35 do Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia (RLFFB), aprovado pelo Decreto n.º 12/2002, de 6 de Junho, tivesse recebido a designação de “auscultação” das comunidades locais6. Veja-se que, segundo o artigo 36, para que haja efectiva participação da comunidade local, impõe-se uma obrigatoriedade de fazer chegar a informação sobre os objectivos do encontro com determinada antecedência7. Um dos maiores problemas que se tem vindo a revelar, prende-se com a tendência de perspectivar a consulta comunitária como mero requisito formal, despido, portanto, de qualquer relevância material, fazendo com que não haja grande esforço na realização de um processo de participação efectivamente abrangente, dirigido à efectiva colecta da opinião das comunidades residentes nas áreas de exploração dos recursos naturais, com vista a contribuir para o combate à pobreza, bem como a prosseguir e alcançar o desejável desenvolvimento local. No caso mais frequente, a consulta é realizada somente ao nível das lideranças comunitárias, na sequência do falso pressuposto de que assim se cumpre o requisito legalmente imposto8. Na maior parte dos casos, as comunidades não chegam realmente a participar no processo, sendo somente avisadas, pelos seus líderes, de que foi tomada determinada decisão, ainda que esta os venha a afectar 6 Segundo o n.º 1 do artigo 35, do RLFFB, a auscultação às comunidades locais deverá ser realizada pelos órgãos da administração local do Estado, na presença do próprio requerente da concessão florestal. 7 À luz do artigo 36, do RLFFB, implica a realização de uma reunião com a comunidade local, a ser convocada pelo órgão da Administração Local onde se situa a área da concessão florestal, “com a indicação expressa e clara dos objectivos do encontro, com uma antecedência mínima de 15 dias assegurando o conhecimento e a participação da comunidade”. 8 Segundo Nhantumbo e Macqueem, quando é feita (a consulta), é superficial e resume-se no contacto com as estruturas administrativas e algumas autoridades comunitárias que legitima o pedido através das suas assinaturas”. NHANTUMBO, Izilda/MACQUEEN, Duncan, Direitos das Comunidades, Ob. Cit., p. 39. 4 significativamente. Noutras situações, quando as lideranças estão desprovidas de escrúpulos, são facilmente manipuláveis e entregam terras comunitárias mediante o pagamento de quantias monetárias ou da atribuição de outro tipo de benefícios. As pseudo-consultas, como assim lhes chamaríamos, decorrem, portanto, de uma interpretação literal e errónea do disposto na legislação, que confunde consultas comunitárias com consultas junto de lideranças comunitárias, ou então como meras e pontuais audiências públicas, significando, na prática, a realização de um único encontro, muitas vezes mal conduzido9. Sendo equacionadas como pressupostos essencialmente burocráticos, a acrescer a uma lista de requisitos já por si considerada longa, pretendese perder com as mesmas o menos tempo possível. Aliás, para determinados sectores, as consultas comunitárias são entendidas como obstáculos ao processo de investimento, até porque, segundo estes, a terra é propriedade do Estado, não fazendo sentido condicionar o capital à observância de uma formalidade de discutível necessidade. Claro que, no caso de ocorrência de uma pseudo-consulta, o processo de investimento é verticalmente imposto à comunidade, e sem que haja, grande parte das vezes, lugar à entrega de contrapartidas ou benefícios justos da exploração de recursos naturais em áreas comunitárias, o que ocasiona um enorme risco de ocorrência de conflitos, despoletando a necessidade de aceder à justiça para obter a reposição dos direitos violados. Veja-se o exemplo abaixo colocado, referente a um caso de uma consulta comunitária no contexto da legislação de terras, levantado pelo Extraído de TANNER, Christopher/BALEIRA, Sérgio, O quadro legal de acesso aos recursos naturais em Moçambique: o impacto das novas legislação e das consultas comunitárias sobre as condições de vida locais, série Sociedade e Justiça, Volume 1, Fevereiro de 2009, pp. 6 – 7. 9 5 CFJJ, no decurso de 2005, e que fornece elementos bastante úteis para reflexão10. Projecto Agrícola – Província de Maputo Este caso envolve 500 hectares na zona centro sul da Província de Maputo. A área foi definida como ‘terra baldia’ pelos técnicos dos SPGC no processo do pedido de terra, o que implica que ninguém a estava a usar e que estava portanto disponível para atribuição a um novo requerente. Contudo, para a comunidade, esta terra está longe de ser ‘terra baldia’ – tem importância religiosa (encontram-se aí sepulturas), e está a ser mantida para uso futuro e para os seus filhos. Um cidadão Moçambicano requereu o DUAT sobre a área e, de acordo com o processo, foi feita uma consulta, que foi assinada pela comunidade. A consulta parece ter sido uma visita à área pelo requerente “acompanhado por dois amigos” que disse querer ocupar 500 hectares. Os líderes comunitários disseram que era provável que pudesse ter 150 hectares, mas que teria que voltar de novo – todos os membros da comunidade deviam estar presentes. O requerente nunca voltou. Os líderes comunitários insistem em que nunca assinaram qualquer acta ou outro documento, mas aparentemente as assinaturas de ‘habitantes locais’ encontram-se no documento. O Chefe de Posto da Localidade (o posto governamental de nível mais baixo) confirma que assinaram … A comunidade local nega consistentemente que tenha tido lugar qualquer consulta (isto numa reunião de 17 pessoas incluindo o líder comunitário). Entretanto, a terra foi ocupada pelo requerente, que desde então ‘a vendeu’ a um outro investidor que quer levar a cabo actividades agro-pecuárias. Fonte: Moisés (2005); Seuane e Rivers-Moore (2005) A isto acrescentamos o envolvimento de funcionários da Administração Pública, individualidades influentes da nomenclatura política e empresarial e líderes comunitários no cometimento de ilegalidades, nomeadamente actos de abuso de poder, corrupção11, entre outros, fragilizando sobremaneira o processo de implementação do quadro legal sobre recursos naturais12. Importa frisar que, nestes casos, quando menos informação for veiculada ou partilhada melhor. O objectivo é, tão-somente, delapidar até à exaustão os recursos florestais, com vista à exportação de madeira Veja-se TANNER, Christopher/BALEIRA, Sérgio, O quadro legal (…), p. 16. Veja-se os dois relatórios produzidos pela investigadora Catherine Mackenzie, referente à situação florestal na província da Zambézia: Administração da Floresta na Zambézia – Um Take Away Chinês, realizado para o Fórum de Organizações Não Governamentais da Zambézia (FONDZA), 2006; e Tristezas Tropicais – Não há mais madeira, realizado para o Movimento Amigos da Floresta (Não publicado), 2008. 12 As ilegalidades ocorridas no processo de implementação da legislação foram sistematicamente referidas em quase todas as acções de formação conduzidas pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária, de 2001 a 2008. 10 11 6 na forma bruta (em toros), gerando benefícios para uma minoria privilegiada, através do cometimento de inúmeras ilegalidades13, e com recurso à exploração intensiva de mão-de-obra barata, em situação de semi-escravatura14. Como escrevemos anteriormente, “para que se cumpra o requisito formal, a consulta pode esgotar-se num único tempo (mesmo que não suficiente para se fazer uma verdadeira auscultação das sensibilidades), em um único espaço físico (mesmo que assim não se consiga a necessária cobertura da comunidade local) e junto de supostos representantes da comunidade (não se conseguindo fazer chegar a informação ao nível da base). Como resultado, não há lugar à legitimação necessária do processo de consulta, gerando-se um clima de desconfiança forte, o qual muitas vezes degenera em situações mais ou menos complexas e turbulentas de conflitualidade, com inúmeras consequências negativas para todas as partes envolvidas”15. III. A parceria como factor de desenvolvimento local O artigo 35 do RLFFB faz alusão à figura da parceria entre o investidor e a comunidade local16, enquadrando-se na perspectivação constitucional da República de Moçambique como Estado de justiça constitucional17. MACKENZIE, 2006. TERRA FIRMA, Global Forest Product Chains – A Mozambique case study identifying challenges and opportunities for China through a wood commodity chain sustainability, Prepared for IIED and FGLG, Maputo, 2007, pp. 45 – 46. 15 In. Prefácio à 2.ª Edição do Manual de Delimitação de Terras das Comunidades, da Comissão Interministerial para a Revisão da Lei de Terras, com o apoio técnico da FAO e Financeiro do Reino dos Países Baixos. 16 Segundo o n.º 2 do artigo 35, do RLFFB, sempre que a área que constitua objecto do pedido de concessão florestal esteja numa zona, total ou parcialmente ocupada pelas comunidades locais, haverá lugar à realização de uma negociação dos termos e condições de exploração entre as comunidades locais, o requerente e o Estado, traduzida na figura da parceria. 17 A parceria enquadra-se no espírito de um dos pilares fundamentais da Constituição da República de Moçambique, plasmado no artigo 1, que se traduz na configuração do Estado moçambicano como de justiça social, e no artigo 11, que define como um dos 13 14 7 A realidade prática tem demonstrado que a parceria constitui palavra de ordem politicamente correcta nas questões de desenvolvimento rural e promoção dos direitos das comunidades locais. Antes de mais, importa conceber a parceria como um instrumento de carácter não figurativo, que, em termos de reciprocidade, se encontra ao serviço do desenvolvimento sustentável, visto que, olhando para a sua génese, encontramos todos os elementos para implementar, em termos práticos, uma maior justiça social, buscando a distribuição de parte do valor do investimento privado para o desenvolvimento local, criando benefícios directos ou indirectos para as comunidades locais. Conforme defenderam Isilda Nhantumbo e Duncan Macqueem, “noutros países, as parcerias entre o sector privado e as comunidades têm trazido benefícios mútuos. O aspecto central é que os dois lados têm que perceber as vantagens (preferencialmente vantagens financeiras) resultantes das parcerias. Ao mesmo tempo as parcerias apenas funcionam quando integram ou são estabelecidas entre indivíduos capacitados a negociar, quando há clareza na legislação e existe um processo e contrato formal para legitimar as negociações e um sistema independente de aplicar a lei e repreender as transgressões. Neste momento estes mecanismos de operacionalização não existem e urge o seu desenvolvimento. (…) “Parcerias mutuamente benéficas são um veículo para a redução da pobreza e tal objectivo poderá ser alcançado através da regulamentação do sector privado18. Na sua variante mais simples – Investidor/comunidade local – a parceria traduz-se no possível cumprimento das seguintes obrigações: “o investidor compromete-se a facilitar o exercício de alguns dos direitos fundamentais das comunidades, como o direito ao trabalho (criando seus objectivos fundamentais, “a edificação de uma sociedade de justiça social e a criação de bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos cidadãos”. 18 NHANTUMBO, Isilda/MACQUEEN, Duncan, Ob. Cit., pp. 38 - 39. 8 directa ou indirectamente postos de trabalho) à educação (através da construção, reabilitação ou apetrechamento de uma escola), à saúde (através da construção, reabilitação ou apetrechamento de uma unidade sanitária), de acesso à água, enquanto direito fundamental constitucionalmente não previsto (fazendo chegar este importante recurso para satisfação de inúmeros usos legalmente protegidos), à habitação (garantindo o apoio na construção de habitações das comunidades locais), entre outros. Já a comunidade local, por sua vez, compromete-se a facilitar o acesso do investidor às terras comunitárias, bem como a fornecer recursos naturais solicitados, como ainda a fornecer a mão-de-obra necessária, entre outras obrigações”19. A realidade levantada pelos investigadores do CFJJ apresenta alguns exemplos paradigmáticos de parcerias, nos quais há, efectivamente, um comprometimento sério por parte do investidor, em primeira linha, bem como das comunidades locais, que são chamadas a participar activamente na partilha de benefícios ou, inclusivamente, no processo de investimento propriamente dito20. Dois aspectos imediatamente positivos: em primeiro lugar, as comunidades locais entram na rota do desenvolvimento; em segundo lugar, os índices de conflitualidade são baixos, dado o grau de satisfação alcançado. Contudo, os dados recolhidos no terreno revelam que a maioria das experiências está longe de constituir um bom exemplo de implementação do espírito e letra da lei, especialmente no que diz respeito à razão de ser da consagração legal das parcerias. Os termos das parcerias são, por vezes, mal elaborados, gerando situações de real desigualdade, ou, então, não são total ou parcialmente cumpridos21. Nesse sentido, o CFJJ tem vindo a constatar uma multiplicidade de 19 SERRA, Carlos, Desafios e Constrangimentos Legais das Parcerias entre as Comunidades Locais e o Sector Privado na Gestão dos Recursos Naturais em Moçambique, documento apresentado publicamente em seminário organizado pela IUCN – Moçambique, no dia 8 de Agosto de 2006, p. 2. 20 TANNER, Christopher/BALEIRA, Sérgio, O quadro legal (…), pp. 13 – 16. 21 Idem, pp. 16 – 19. 9 casos de falta de cumprimento dos compromissos assumidos pelos investidores aquando da celebração de parcerias, ocasionando um profundo descontentamento no seio das comunidades locais, o que pode conduzir à ocorrência de situações de conflito eminente ou real. Não deixa de ser relevante que, para além da falta de cumprimento dos termos da parceria, a legislação seja bastante vaga sobre o “tipo de bens e serviços que devem ser contemplados durante as negociações e a monitoria do processo”22. Mais uma vez estamos perante casos em que a lei foi formalmente cumprida, tendo sido celebrada a necessária parceria entre o investidor e a comunidade local, mas sem que tal acordo venha a produzir consequências no plano material, isto é, gerando benefícios reais para as comunidades locais23. As razões podem advir do próprio conteúdo do contrato, do silêncio da lei no que toca à previsão de mecanismos de implementação, mas também da falta de sinceridade de alguns dos investidores, bem como de outros parceiros. Relativamente à exploração florestal, em particular, este cenário decorre das dificuldades surgidas no processo de implementação das primeiras concessões florestais, regime privilegiado por excelência para construção de parcerias. De acordo com alguns estudos realizados, as concessões não vieram, como se esperava, melhorar o quadro da exploração florestal em Moçambique, substituindo gradualmente as polémicas e destrutivas licenças simples, rumo à sustentabilidade florestal24. Pelo contrário, tendo sido permitida a entrada de muitos operadores sem o adequado perfil, associado à extrema dificuldade de controlo por parte das entidades públicas, e tendo presente a existência NHANTUMBO, Isilda/MACQUEEN, Duncan, Ob. Cit., p. 39. Veja-se, nesse sentido, OGLE, Alan/NHANTUMBO, Isilda, Improving the Competitiveness of the Timber and Wood Sector in Mozambique, Prepared for the Confederation of Mozambican Business Associations under the Mozambique Trade and Investment project, USAID, Maputo, 2006, p. 37. 24 MACKENZIE, 2006 e 2008. 22 23 10 de crime organizado no sector florestal, verificou-se que, afinal, a maioria dos concessionários opera, presentemente, como se titulares de licenças simples se tratassem, actuando sem o devido plano de maneio, ou com um plano altamente inadequado para a conservação da floresta, ou ainda simplesmente passando por cima de toda a regulamentação, limitando-se a promover a extracção pura e simples das espécies com valor comercial, até ao seu esgotamento. Obviamente que, com semelhante perfil de operadores, muito pouco se pode esperar em termos de respeito pelos direitos das comunidades locais, havendo inclusivamente casos em que aqueles vedam o acesso da população locais a áreas comunitárias, incluindo zonas sagradas, ou aos recursos necessários à sua sobrevivência, violando expressamente o disposto na legislação sobre esta matéria25. Ainda que haja lugar à celebração de parcerias, no âmbito das quais são definidas obrigações de parte a parte, estas correm o risco de, em grande parte dos casos, mais não passarem do que letra morta, originando situações de eminente conflito entre as comunidades e os concessionários. Sempre que uma comunidade não está contente com o operador florestal, manifesta-se imediatamente através da invasão das terras sob o regime da concessão florestal, praticando a caça, queimadas, agricultura itinerante e abate de árvores, caçando, praticando a agricultura itinerante26. A isto acresça-se o facto de não existir nenhuma modalidade de monitoramento relativamente aos compromissos sociais dos operadores florestais, ao impacto social das actividades florestais, bem como aos Segundo o artigo 32 do RLFFB, constitui obrigação do concessionário, entre outras, “Permitir o acesso das comunidades locais aos recursos naturais de que estes careçam para o consumo próprio nos termos da Lei n.º 10/99, de 7 de Julho” 26 Este tipo de situações tem sido constantemente reportado pelos participantes aos cursos realizados no programa de capacitação de paralegais em legislação dos recursos naturais e desenvolvimento, em curso no CFJJ desde 2006. A maior parte dos formandos trabalham ao nível local, junto das comunidades rurais, e, como tal, alimentam o processo de formação com exemplos da vida real. 25 11 padrões de mão-de-obra dos empregados florestais, cujos salários e regalias se encontram bem abaixo do mínimo legalmente estipulado27. IV. A partilha de benefícios do uso e aproveitamento de recursos naturais Em torno deste assunto muitas linhas se têm escrito, fazendo com que seja, quase certamente, o que mais atenção tem merecido em toda a problemática florestal. Na sequência da aprovação do RLFFB, determinou-se que “vinte por cento de qualquer taxa de exploração florestal ou faunística destina-se ao benefício das comunidades locais da área onde foram extraídos os recursos”28. Através do Diploma Ministerial n.º 93/2005, de 4 de Maio, foram aprovados mecanismos de canalização e utilização dos vinte por cento das taxas florestais e faunísticas. De acordo com os cerca de três anos de implementação do Diploma Ministerial dos 20%, várias são as ilações que podem ser extraídas a partir da realidade: Em primeiro lugar, um pouco por todo o País, algumas centenas de comunidades locais começaram a ser beneficiadas através da percentagem de 20% das taxas de exploração florestal, gerando, nalguns casos, uma melhoria das condições de vida. Porém, a cobertura não foi total, visto haver ainda muitas comunidades que não foram beneficiadas ou que, por razões diversas, foram preteridas em favor de outras, não obstante fazerem parte da mesma área onde decorreu a exploração florestal. Seguidamente, após um período em que muita polémica foi levantada na interpretação do Diploma dos 20%, causando diversas experiências 27 28 NHANTUMBO, Isilda/MACQUEEN, Duncan, Ob. Cit., p. 40. Cfr. Artigo 102/1, do RLFFB. 12 na implementação, designadamente quanto aos mecanismos de canalização e quanto ao próprio destino a dar aos montantes a transferir, foi elaborado um Manual de Procedimentos, buscando o desejável esclarecimento e necessária harmonização. Ainda assim persistem problemas ao nível da própria modalidade de canalização, havendo casos em que as somas monetárias são transferidas para os órgãos locais de Estado29, em vez de darem entrada em contas abertas para as comunidades beneficiárias, deixando espaço para as mais diversas e erróneas interpretações, havendo quem entenda que, assim, o dinheiro possa não chegar, total ou parcialmente, ao destino, podendo estar a receber aplicação indevida30. Depois, o exercício do direito aos 20% encontra-se condicionado, a médio e longo prazo, à sustentabilidade com que o recurso florestal é gerido e utilizado. Caso não se proteja devidamente a floresta, não haverá, para as gerações futuras, quaisquer benefícios da exploração florestal, e, com isto, serão comprometidos todos objectivos que foram definidos aquando da consagração deste direito das comunidades locais. Há um défice informativo no processo de gestão das taxas de exploração dos recursos florestais, e que ocorre desde o início. Isto é, em momento algum as comunidades recebem a informação que, das suas áreas, foram explorados X metros³ de madeira, que geraram para os cofres do Estado Y mil meticais, sobre os quais deverá incidir uma percentagem de 20% para as comunidades das áreas de exploração florestal31. Tudo se passa demasiado no final do processo, no qual as comunidades recebem a informação de que irão beneficiar-se de determinado É o caso da decisão do Governo da Província de Nampula. Uma das justificações é que não existem estabelecimentos bancários na maioria dos distritos, sabendo que o Diploma dos 20% determina a abertura de uma conta bancária em nome da comunidade beneficiária. Outro é que os montantes são, por vezes, tão insignificantes, que não justificam a abertura de uma conta, dado que esta pressupõe igualmente custos. 31 MACKENZIE, 2008. 29 30 13 montante monetário, lançado em abstracto, levando-as a não fazer uso dos adequados mecanismos de pressão para o exercício de direitos. Coloca-se ainda a questão de saber se os eventuais benefícios advindos da legislação, que no que diz respeito aos 20%, quer ainda derivados das parcerias eventualmente celebradas, são susceptíveis de compensar a pressão que se encontra a ser realizada sobre os recursos naturais, especialmente os florestais, ao que nós respondemos com muitas reservas, dada a crescente problemática ambiental que caracteriza o País32. Para além dos 20%, importa fazer referência a outros mecanismos de criação de benefícios para as comunidades, dos quais emerge a possibilidade de estas se tornarem concessionárias florestais, nos termos da LFFB. Neste caso, uma vez reunidas as condições legalmente definidas, caberia à comunidade gerir a sua própria concessão florestal, na sequência da celebração de um contrato com o Estado, por um prazo até 50 anos. Porém, salvo raras excepções, as comunidades locais têm ficado à margem do processo de celebração de contratos de concessão florestal. 5. Considerações finais Moçambique possui um quadro jurídico-legal no domínio dos recursos naturais consideravelmente notório, especialmente no reconhecimento dos direitos das comunidades como salvaguarda do desenvolvimento sustentável a partir do nível local, através da consagração de um conjunto diversificado de mecanismos, entre os quais destacamos a consulta comunitária, a parceria e o direito aos 20%. 32 Veja-se NHANTUMBO, Isilda/MACQUEEN, Duncan, Ob. Cit., p. 40. 14 Nos já cerca de 10 anos da LFFB, várias foram as experiências positivas no que se refere à implementação deste instrumento legal e da sua regulamentação. Estas experiências estão associadas normalmente a um envolvimento seriamente comprometido das instituições do Estado, bem como da existência de operadores privados intrinsecamente interessados no cumprimento da lei e no bom relacionamento com as comunidades locais, bem com no apoio prestado por organizações da sociedade civil às comunidades locais. Porém, abundam demasiados exemplos negativos, revelando, entre outros aspectos, uma intenção excessivamente centrada no mero cumprimento formal da lei ou, então, simplesmente no seu não cumprimento, como são exemplos paradigmáticos as pseudo-consultas, as pseudo-parcerias ou os constrangimentos na canalização de 20% a comunidades localizadas em áreas onde decorrem actividades de exploração florestal. Tudo isto nos conduz para a necessidade de equacionar como transitar da teoria para a prática, isto é, como tornar implementável um quadro jurídico-legal que assenta no postulado do desenvolvimento sustentável, bem como no respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. A realidade demonstra tão-somente um sério défice na aplicação da lei, apesar dos inúmeros programas de divulgação e disseminação dos instrumentos jurídico-legais. Urge trabalhar na definição de mecanismos direccionados à implementação da legislação, autêntico calcanhar de Aquiles do sistema jurídico moçambicano, e na concepção de uma modalidade de monitoramento da referida implementação, susceptível de garantir a observância da lei e, simultaneamente, alimentar o próprio processo de actualização e melhoria do quadro jurídico-legal, sempre que se constarem erros, omissões, imprecisões e contradições cometidos pelo legislador. 15 Há que prosseguir o trabalho junto das entidades públicas responsáveis pela implementação, não apenas em termos de aperfeiçoamento do processo propriamente dito, mas também na dissipação de eventuais interpretações incorrectas ou eventualmente contraditórias da legislação, especialmente no domínio das florestas e fauna bravia. No capítulo da administração da justiça, espera-se do judiciário uma maior intervenção quando estão em causa situações de violação da lei e dos direitos fundamentais das comunidades locais, particularmente do Ministério Público, órgão que tem a defesa da legalidade como atribuição constitucional33. Aguarda-se por parte do Estado uma maior enfoque na criação de condições para o exercício real do direito constitucionalmente consagrado de acesso à justiça34, quer através do fortalecimento da instituição pública que tem, por excelência, um papel fundamental no apoio aos cidadãos mais carenciados – o Instituto de Assistência e Patrocínio Judiciário (IPAJ), quer na legitimação da intervenção de outros actores que, actualmente, contribuem para reduzir o fosso entre a justiça e os cidadãos, como é o caso da figura do Paralegal35. Finalmente, uma atenção especial para o processo legislativo, que deve necessariamente pautar-se pela harmonia, simplicidade e objectividade, bem como pela definição de mecanismos de implementação de cada novo instrumento jurídico-legal aprovado, prevendo, entre outros aspectos importantes, um programa de monitoria e avaliação. Cfr. Artigo 236, da Constituição da República de Moçambique. Cfr. Artigo 62, da Constituição da República de Moçambique. 35 O Paralegal foi definido ao nível do programa de formação conduzido pelo CFJJ, como uma peça chave para facilitar o acesso à justiça e promover acções e intervenções para que os direitos resultam em mais benefícios concretos, contribuindo ao alívio da pobreza. A justiça, e no meio do processo, o Paralegal, visto como formador e como conselheiro, são elementos chaves na luta contra a pobreza, e para um desenvolvimento equitativo e sustentável onde todos os moçambicanos participem e ganhem do exercício construtivo e eficaz dos direitos atribuídos por lei, e consagrados na Constituição da República de Moçambique”. 33 34 16 Bibliografia • COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA A REVISÃO DA LEI DE TERRAS, Manual de Delimitação das Terras das Comunidades, Reimpressão, CFJJ/FAO, Maputo, 2008. • MACKENZIE, Catherine, Administração da Floresta na Zambézia – Um Take Away Chinês, realizado para o Fórum de Organizações Não Governamentais da Zambézia (FONDZA), 2006. • MACKENZIE, Catherine, Tristezas Tropicais – Não há mais madeira, realizado para o Movimento Amigos da Floresta (Não publicado). 2008. • NHANTUMBO, Isilda/MACQUEEN, Duncan, Direitos das Comunidades: Realidade ou Retórica, DNFFB, DFID e IIED, Maputo, 2003. • OGLE, Alan/NHANTUMBO, Isilda, Improving the Competitiveness of the Timber and Wood Sector in Mozambique, Prepared for the Confederation of Mozambican Business Associations under the Mozambique Trade and Investment project, USAID, Maputo, 2006. • SERRA, Carlos, Desafios e Constrangimentos Legais das Parcerias entre as Comunidades Locais e o Sector Privado na Gestão dos Recursos Naturais em Moçambique, documento apresentado publicamente em seminário organizado pela IUCN – Moçambique, no dia 8 de Agosto de 2006. • SERRA, Carlos/ CHICUE, Jorge, Lei Comentada de Florestas e Fauna Bravia, Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Maputo, 2005. • SERRA, Carlos / CUNHA, Fernando, Manual de Direito do Ambiente, 2.ª Edição, CFJJ, Maputo, 2008. • TANNER, Christopher, A Relação entre a Posse de Terra e os Recursos Naturais, Documento apresentado na 3.ª Conferência Nacional sobre o Maneio Comunitário dos Recursos Naturais, 21 de Julho de 2004, Maputo, 2004. • TANNER, Christopher/BALEIRA, Sérgio, O quadro legal de acesso aos recursos naturais em Moçambique: o impacto da nova legislação e 17 das consultas comunitárias sobre as condições de vida locais, série Sociedade e Justiça, Volume 1, Fevereiro de 2009. • TERRA FIRMA, Global Forest Product Chains – A Mozambique case study identifying challenges and opportunities for China through a wood commodity chain sustainability, Prepared for IIED and FGLG, Maputo, 2007. 18
Download