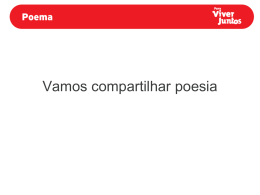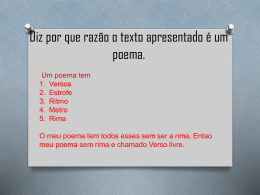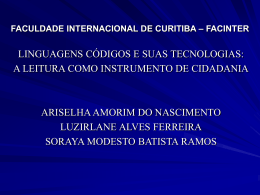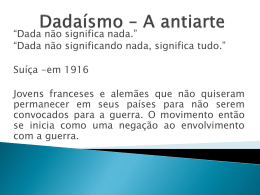UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE / INSTITUTO DE LETRAS / PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS / MESTRADO EM LITERATURA PORTUGUESA E AFRICANA / LINHA DE PESQUISA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS NOS ESTUDOS LITERÁRIOS MUNDO COMUM E POVOAMENTO DA PAISAGEM – LER COM O APRENDIZ DE FEITICEIRO DE CARLOS DE OLIVEIRA por LEONARDO GANDOLFI NITERÓI 2007 Leonardo Gandolfi Mundo comum e povoamento da paisagem – Ler com O aprendiz de feiticeiro de Carlos de Oliveira Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras da Universidade Federal Fluminense, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Letras. Área de concentração: Estudos de Literatura. Subárea: Literatura Portuguesa e Africana Orientadora: Profa. Dra. Ida Maria S. F. Alves NITERÓI 2007 Leonardo Gandolfi Mundo comum e povoamento da paisagem – Ler com O aprendiz de feiticeiro de Carlos de Oliveira Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras da Universidade Federal Fluminense, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Letras. Área de concentração: Estudos de Literatura. Subárea: Literatura Portuguesa e Africana BANCA EXAMINADORA __________________________________________________________________ Prof. Dr. Ida Maria Santos Ferreira Alves - Orientadora Universidade Federal Fluminense _____________________________________________________________________ Prof. Dr. José Horácio de Almeida Nascimento Costa Universidade de São Paulo ___________________________________________________________________ Prof. Dr. Celia Pedrosa Universidade Federal Fluminense ___________________________________________________________________ Prof. Dr. Silvio Renato Jorge - Suplente Universidade Federal Fluminense ___________________________________________________________________ Prof. Dr. Mônica Figueiredo - Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro Dedicatória e agradecimento: Ida Ferreira Alves, Fernando Muniz, Rosa Maria Martelo, Jorge Fernandes da Silveira, Ângela Sarmento, Franklin Alves, Fábio Malaguti, Ângela de Oliveira, Célia Pedrosa e Silvio Renato Jorge CNPq e CAPES – por bolsa e apoio para pesquisa em Portugal RESUMO Este trabalho percorre o livro O aprendiz de feiticeiro de Carlos de Oliveira em busca de imagens em que a primeira pessoa textual – sujeito, narrador, personagem – reconheça-se explicitamente como leitor, com a constante valorização do ato de leitura. Análise da estrutura dessa obra em torno da noção de leitura. Demarcação do espaço e das funções que o leitor assume aí e seu desdobramento na leitura do poema “Estalactite” de Micropaisagem, observando como a construção da referência à realidade – por meio, entre outras coisas, de um conceito de mímesis que valoriza a recepção – se efetiva a partir da mesma noção de leitura aprendida em O aprendiz de feiticeiro. PALAVRAS-CHAVE: Carlos de Oliveira, O aprendiz de feiticeiro, Poesia portuguesa contemporânea, leitura, leitor, mímesis. ABSTRACT In this study we go through the book O aprendiz de feiticeiro by Carlos de Oliveira searching for images in which the first person in the text – subject, narrator, character – recognises him/herself explicitly as a reader, constantly valuing the act of reading. It is thus an analysis that always bears in mind the notion of reading. We therefore circumscribe the space and the functions assumed by the reader in this work and intend to reveal his/ her manifold dimensions, which are evidenced in the poem “Estalactite”, from Micropaisagem. Employing, among others, a concept of mímesis that values reception, we pay particular attention to the way reference to reality is constructed through the same notion of the act of reading learnt from O aprendiz de feiticeiro. KEY-WORDS: Carlos de Oliveira, O aprendiz de feiticeiro, Portuguese contemporary literature; reading, reader, mimesis. SUMÁRIO 1.INTRODUÇÃO.............................................................................................. 9 2. BALIZAS DO TRABALHO 2.1. Leitura e povoamento................................................................... 2.2. Povoamento e mímesis.................................................................. 12 15 3. MUNDO COMUM 3.1. Protocolos de leitura para O aprendiz de feiticeiro....................... 3.2. Todos os textos – o texto............................................................... 3.3. Criptógrafo e musa – a personagem Gelnaa.................................. 3.4. Biografia e leitura – a primeira pessoa de alguns textos................ 3.5. Sujeito e leitura – o narrador de “A viagem”................................. 3.6. Leitura e tempo em “Janela acesa”................................................. 27 31 36 43 59 67 4. POVOAMENTO DA PAISAGEM – “ESTALACTITE” 4.1. Preâmbulo....................................................................................... 4.2. O porquê da leitura......................................................................... 4.3. Paisagem, linguagem...................................................................... 4.4. Sujeito e objeto, objeto e sujeito..................................................... 4.5. The dancer from the dance.............................................................. 4.6. Camões e Cabral............................................................................. 4.7. Ponto Morto..................................................................................... 4.8. Eliot, Yeats e Pessoa....................................................................... 4.9. Foco do silêncio.............................................................................. 4.10. Arquétipo do vôo.......................................................................... 4.11. Povoamento da paisagem.............................................................. 76 77 79 80 85 87 91 94 95 99 102 5. CONCLUSÃO................................................................................................. 110 6. BIBLIOGRAFIA 6.1. De Carlos de Oliveira...................................................................... 6.2. De outros escritores......................................................................... 6.3. Sobre Carlos de Oliveira.................................................................. 6.4. Teórico-crítica.................................................................................. 115 115 116 117 Somente as coisas tocadas pelo amor das outras têm voz. Fiama Hasse Pais Brandão, As fábulas 1. INTRODUÇÃO Este trabalho se constitui, predominantemente, na abordagem analítica de O Aprendiz de Feiticeiro (1971) de Carlos de Oliveira, livro de textos diversos, mas detentor de uma evidente unidade interna. Um dos principais fatores dessa unidade é a constância com que a primeira pessoa tão dominante ao longo do livro – como autor, narrador e personagem – se representa, de maneira privilegiada, como um leitor. No entanto, sua leitura é mais que um simples gesto, na medida em que esse leitor é transformado por ela e age nela, interage, ou em outras palavras, o escritor- leitor encena a leitura partir de suas próprias experiências e história s, seja no registro de outras referências literárias, seja com lembranças pessoais ou, como será mais comum, na união dessas duas possibilidades. Até porque as referências literárias também fazem parte das memórias pessoais. Com essa perspectiva, entre os diferentes protocolos de leitura (SCHOLES , 1989) que os textos deste livro vão exigindo – o biográfico, o ensaístico, entre outros –, vai-se construindo a imagem de um leitor povoador de paisagens, que são os poemas. Por isso, pretendemos também reler parte do longo poema (ou conjunto de poemas) “Estalactite”, que compõe o livro Micropaisagem (1968), com o que colhemos em O aprendiz de feiticeiro. Carlos de Oliveira é um poeta de grande importância no panorama da poesia portuguesa do século XX e essa importância se deve a muitos fatores. O principal deles talvez seja a coerência de seu próprio percurso. Seus primeiros livros (décadas de 40 e 50), tanto em prosa como em verso, são marcados por uma forte presença do ideário neo-realista que defendia então uma bandeira de literatura engajada e de denúncia com fins objetivos de intervenção e transformação político-socia l. Porém, com o tempo, mais precisamente ao longo da década de 60, Carlos de Oliveira vai reavaliando essa ação diretiva e se volta mais para a realidade material do texto – do canto dos primeiros livros à caligrafia dos últimos – criando uma literatura assumidamente do rigor e compromissada, sobretudo mas não só, com sua especificidade estética. Essa mudança de tom acarretou o retorno aos antigos livros e sua reescrita, depurando a forma e redimensionando o seu carácter político-social. Esse posicionamento o aproximou de poetas mais novos como aqueles que integraram a publicação Poesia 61, especialmente 9 Gastão Cruz e Fiama Hasse Pais Brandão. Tal proximidade fez não só com que repensasse a estrutura da linguagem poética, mas também possibilitou a esse novos poetas a discussão sobre literatura, conhecimento e ética Em O Aprendiz de Feiticeiro – livro ainda pouco estudado na bibliografia sobre Carlos de Oliveira – procuraremos evidenciar o quão importante é para esse autor a encenação do que se lê a partir de um instrumental que pertence a cada leitor e seu “mundo comum”, para citar sua expressão. Com essa visão, o texto terá uma repercussão diferente em cada leitor, a qual, no entanto, não se caracterizará como dispersão. Pelo contrário, será a pluralidade necessária que, como veremos, proporcionará o povoamento da paisagem que se desenha em toda obra de Carlos de Oliveira. Visto assim, consideramos que O Aprendiz de Feiticeiro pode alterar sensivelmente – já que chama a atenção para esse povoamento das paisagens da escrita – o restante da obra do autor, pois dá a ver a consciência da leitura que ativa nos poemas uma referência à realidade, realidade dupla: a paisagem geográfica que o formou como indivíduo e a do poema, na sua autonomia e figuração. Tal jogo, presente em sua escrita, assume um caráter ético muito forte, já que está ligado a uma operação de conhecimento: aqui se vê que a obra de Carlos de Oliveira, embora acabe por se desvincular do Neo-Realismo, não abandona sua vontade social, que se antes vinha de fora para dentro do texto, agora vai de dentro para fora. Assim, a leitura dessa poesia é gesto cognitivo que paga algum tributo, como veremos, ao conceito da mímesis aristotélica e seu potencial de cognição, lida à luz tanto de outra bibliografia de Aristóteles (a relação ato e potência), quanto de outros teóricos como Costa Lima e Paul Ricoeur. É a “função” leitor que ligará a referência à realidade, ou melhor, é a leitura – experiência própria de cada leitor – que ativará a referência à realidade no texto (e isso se chama mímesis). Em nosso trabalho colocaremos em diálogo também alguns dos críticos que igualmente privilegiaram a questão da referência, na leitura da poesia de Carlos de Oliveira, como Manuel Gusmão, Rosa Maria Martelo e Silvina Lopes Rodrigues, entre outros. Na estruturação de nosso trabalho, o capítulo Mundo comum é inteiramente dedicado a O aprendiz de feiticeiro. Nele veremos como a unidade desse livro – rescrita e organização de textos dispersos do autor – é fruto sobretudo da temática da leitura, ora através de uma personagem central como Gelnaa, leitora primeira, ora através da insistência da imagem do autor como um leitor apaixonado pelo objeto livro. Nesse 10 capítulo também discutiremos como a mudança incessante dos protocolos de leitura acaba por gerar uma movimentação que, por sua vez, torna o trabalho do leitor um trabalho muito ativo e exigente, valorizando-o. No segundo, veremos como o instrumental que nos fornece O Aprendiz de Feiticeiro – através sobretudo da valorização desse mundo comum, o do leitor – pode modificar a leitura do poemailustração “Estalactite”, revelando-se as estratégias para que sua paisagem inóspita possa ser finalmente povoada. 11 2. BALIZAS DO TRABALHO 2.1.LEITURA E POVOAMENTO Podemos dizer que a poesia de Carlos de Oliveira dá a conhecer uma realidade específica. Paisagem já mencionada pelo menos desde as primeiras resenhas de Gastão Cruz, na década de sessenta, ou desde o cuidadoso ensaio que Nelson de Matos dedicou em 1969 ao até então recentíssimo Micropaisagem 1 . Mas é claro que a passagem do poema a esse conhecimento de uma realidade a que nos referimos não é algo direto, imediato. Há muito, sabemos que grande parte da poesia moderna tem fim em si mesma, sem que isso signifique um gesto de alienação. Com isso, não há como negar que, na poesia de Carlos de Oliveira, haja esse acesso a uma paisagem específica que aparece através de índices bem concretos: estalactite, calcário, água, pedra, cal, cristal, gelo, poços, só para recuperar parte da lista feita por Nelson de Matos no estudo mencionado anteriormente. Uma das principais questões é tentar entender como o poema, modernamente tendo fim em si mesmo, também pode dar- nos a conhecer uma paisagem. Para isso, talvez não seja absurdo utilizarmos uma metáfora brusca e falarmos que o poema é a própria paisagem (principalmente a da Gândara, lugar onde passou a infância). Ou melhor, quando lemos o poema, conhecemos a paisagem, realidade específica, que só o poema, apenas ele, pode nos fazer conhecer. Como lermos então essa poesia? Há diversos caminhos. O escolhido por nós configurar-se-á apenas como uma possibilidade: a de o leitor de Carlos de Oliveira, em contato com o poema, experimentar essa realidade, povoá- la, levando em consideração aquilo que essa paisagem tem de grave, de inabitável. Ou seja, se o lugar é árido e o 1 Gastão Cruz diz acerca do soneto “Rudes e breves as palavras pesam” presente em “Cantata”: “Analisando as relações entre o “canto” e o “mundo”, Carlos de Oliveira verifica que a “torre” do seu “canto” não se limita a ter no mundo alicerces, mas se identifica com ele. Donde as palavras nomeiam uma realidade e são essa mesma realidade.” (CRUZ, 1999, p.64). Já Nelson de Matos percebe em Micropaisagem “(...) o limitado vocabulário todo com grande incidência substantiva: as constantes referências a um mundo mineral fossilizado ou em movimento (...)” (M ATOS, 1972, p.146-147). E depois, mais a frente, ainda escreve: “A secura no entanto em grande parte se mantém e é ela, sem dúvida, uma das principais características da escrita de Carlos de Oliveira ” (itálicos do autor) (Idem, p.149). Até que sentencia sem, no entanto, qualquer inclinação ingênua a realismos ou a neo-realismos: “Não nos iludamos, nada existe aqui que não seja pura representação” (Idem, p.150). 12 poema é o lugar, teremos uma poesia difícil, de acesso breve, não por ser obscura – e não o é –, mas por ser substantiva, elíptica, material, concreta e ainda assim silenciosa, tanto nas suas imagens como em sua sintaxe. Nesse sentido a poesia de Carlos de Oliveira ainda teria uma inclinação social, já que “denunciaria”, através mesmo da forma, a dureza de uma realidade social. O poema não nos fala, por exemplo, dos problemas da Gândara, mas configura os próprios problemas através da encenação deles 2 . Tal encenação se dá evidentemente pelo rigor e precisão da forma. Assim o ato de leitura é o momento em que o leitor não é informado sobre a falta de água, mas experimenta a sensação estética análoga à da sede. Esta será a possibilidade de povoamento. Por assumirmos essa analogia entre a realidade experimentada física (e socialmente) e a realidade estética do poema, precisaremos de uma fundamentação teórica da mímesis. Tal abordagem não é nova no que se refere à obra de Carlos de Oliveira, visto que essa relação foi abordada, entre outros, por Rosa Maria Martelo, Américo Lindeza e Manuel Gusmão, embora de formas distintas. Para nós, a mímesis poderá nos ajudar a compreender como a paisagem do poema pode ser povoada pelo ato de leitura. Para isso, retornaremos à Poética de Aristóteles, entre outros textos seus, e perceberemos que o conceito de mímesis, como já se sabe, não está necessariamente preso ao de imitatio; ele vai além dele. Isto é: a mímesis está tanto na relação entre objeto estético e realidade (natureza), quanto na relação entre objeto estético e espectador. Sem ir, no entanto, imediatamente a uma teoria da recepção 3 , o que procuraremos em parte da obra de Carlos de Oliveira é o privilegiado lugar do leitor, cuja imagem que escolhemos do mundo comum quer simbolizar. É ele quem povoará o poema e sua paisagem4 . Para isso, centraremos nossa atenção em O Aprendiz de feiticeiro, livro de textos dispersos que o autor escreveu ao longo de sua vida – resenhas, esboços de contos, entrevistas, ensaios e afins –, para nele encontrarmos algo que nos ajude no que diz respeito à relação entre leitor e texto, segundo Carlos de 2 O que se faz aqui, de certa forma, é uma referência indireta à comparação que Eduardo Lourenço faz entre o “Cântico Negro” de José Régio e a “Ode Marítima” ou a “Saudação a Walt Whitman” de Álvaro de Campos. Enquanto no primeiro tería mos apenas uma confissão de revolta, nos outros dois teríamos a própria manifestação dessa revolta. Ou seja, o que temos de fato é aquela diferença entre, de um lado, dizer que se fez algo e, do outro, realmente fazê -lo. (LOURENÇO, 1974, p.152). 3 Dado o reduzido tempo para redação de uma dissertação e o fato de ser uma leitura da escrita de Carlos de Oliveira e não uma abordagem teórica da função do leitor, não concentraremos exatamente nosso instrumental teórico em uma teoria do efeito estético, mas sim numa conceituação de mímesis, já que privilegia nossa delimitação do que seja aqui a paisagem. 4 Para utilizarmos termos do próprio Carlos de Oliveira no subtítulo de sua última narrativa Finisterra: paisagem e povoamento. 13 Oliveira. A tarefa primeira é ir aos textos, alguns, percorrendo as variadas referências feitas ao ato de leitura. Em seguida, dar a essas referências, quando possível, certa linearidade, transformando-as numa espécie de narrativa que configura, de certo forma, um papel possível do leitor nessa poesia. Papel fundamental no desdobramento do processo de mímesis, visto que é na reverberação de sentido, ou seja, quando o poema se une a cada leitor (o “cada” quer apontar para alguma multiplicidade) que acontece o tal povoamento da paisagem que, sabemos, é o próprio poema, em um processo apenas cognitivo porque estético. A partir desse levantamento em O Aprendiz de feiticeiro, perceberemos que Carlos de Oliveira tem uma visão em que convergem as figuras do escritor e do leitor. Antes do escritor, ele se coloca sempre ou quase sempre como leitor 5 . Ou melhor, não há antes nem depois, como se primeiro ele fosse o leitor e em seguida o escritor. Não. Seu posicionamento é simultâneo. Carlos de Oliveira, a partir de O Aprendiz de feiticeiro, é um autor- leitor, leitor-autor. Leitor-autor no entanto todo escritor é, na medida em que sua obra necessariamente estará inserida num contexto literário, ou seja, em qualquer obra haverá um diálogo implícito ou não 6 . Porém o caso de Carlos de Oliveira, em certo sentido, vai um pouco mais além, pois o que temos nesses textos é a própria encenação do ato de leitura por parte do escritor. Antes de observamos alguns exemplos, adiantemos que Carlos de Oliveira na própria escrita de seu texto – se não diz – deixa entender através mesmo de seu gestual encenado no narrador e primeira pessoa textual do livro em questão – algo de biográfico – que quem está ali é um leitor, um apaixonado leitor. Dito isso, podemos sintetizar alguns objetivos imediatos de nosso trabalho. O primeiro deles é buscar e discutir a encenação do ato de leitura realizada pelo narrador de O Aprendiz de Feiticeiro. Entendê- la como a própria maneira de Carlos de Oliveira, o sujeito, estar ante os textos que lê, questionando, assim e também, as relações entre escrita, representação e conhecimento do mundo. Somente a partir disso, poderemos discutir o gesto e movimento de leitura em sua poesia. Perceberemos sua importância, a partir do instrumental dado pelo próprio autor em O Aprendiz de Feiticeiro. Com isso, 5 Isso ocorreu-nos principalmente via leitura de dois também leitores autores: o primeiro é Borges e o segundo, um autor contemporâneo, o catalão Enrique Vila-Matas, através sobretudo de dois de seus livros: O mal de Montano e Bartleby e cia. Toda obra de Borges é um elogio à leitura, o poema “Um leitor”, no entanto, pode pontuar tal elogio; seguem apenas seus dois primeiros versos: “Os outros que se jactem das páginas que escreveram; / a mim me orgulham as que li” (BORGES, 1999, p. 418). 14 entender esse movimento de leitura como aquele que ativa no poema a referência à realidade, realidade tanto da paisagem como realidade do poema. Ver nessa operação, que é sobretudo de conhecimento a alteridade, uma operação da mímesis, já que dá a ver essas realidades. 2.2. POVOAMENTO E MÍMESIS Dizer que Carlos de Oliveira é um poeta realista talvez seja incorrer em erro. Mas, dizer o contrário, também seria incorreto. Precisamos entender a mímesis para além da idéia de cópia. Com isso, podemos chegar a um termo mediador em que a realidade não seja algo a se evitar nem algo, como muito já se disse, de onde somente se parte para se chegar ao estético, como se o estético não fizesse parte do que se entende por realidade. Não é à toa que herdamos a palavra mímesis dos gregos. Não há tradução exata para o termo, nem deve haver. Como veremos, circunscrevê- la à representação ou mesmo, por exagero, à apresentação é limitar seu potencial. Para evitar isso, discutiremos alguns desdobramentos da mímesis em Platão e Aristóteles. E em seguida alguns comentários de Costa Lima e principalmente de Paul Ricoeur. Feito isso, poderemos entender melhor a relação entre mundo, leitor e referência. O termo mímesis é anterior a Platão. No entanto, foi ele quem deu consistência à palavra 7 . Embora já possamos ver algo a respeito da mímesis em diálogos como Górgias e Crátilo, é na República que ela distingue-se, tanto que não aparece apenas com um significado. Primeiro veremos a mímesis como personificação. No Livro III da República, Platão diz que os poetas podem contar estórias por meio de “simples narrativa, através de imitação, ou por meio de ambas” (392d). São três as possibilidades: ou utiliza-se um discurso que, hoje, chamaríamos de indireto, ou um que seria o direto, com a presença mesma da voz dos personagens fingida pelo poeta; ou mesclam-se ambas. A primeiro 6 T.S. Eliot em “Tradição e talento individual”: “Nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação completa sozinha. O significado e apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os poetas e os artistas mortos” (ELIOT , 1989, p. 39). E vivos também. 15 caracterizaria a poesia ditirâmbica; a segunda, a tragédia e a comédia; e a terceira, a épica. O autor disfarça-se com uma voz que não é a sua, ou melhor, ele transforma-se em outra pessoa, personifica-se. E é justamente tal procedimento que, segundo Platão, é condenável na república platônica. Já que cada pessoa, para bem desempenhar seu trabalho, pode apenas possuir uma função; um desvio dessa função comprometeria o funcionamento da cidade. Um trecho de A República quando Platão fala acerca da possível repercussão na cidade do exemplo negativo dado pelos poetas: – Considera pois, ó Adimanto, o seguinte: se os guardiões devem ser imitadores ou não. Ou resulta do que dissemos anteriormente que cada um só exerce bem uma profissão, e não muitas, mas, se tentasse exercer muitas, falharia em alcançar qualquer reputação? (394e) Depois de criticar Homero pela imitação de personage ns, ele transfere a atitude do poeta para os guardiões da cidade. A implicação moral é imediata. Até porque não há em Platão separação entre o moral e o poético 8 . Segundo Paul Woodruff (WOODRUFF, 1992, p. 75), Platão não tem medo que o público, ao assistir as ações dramáticas, seja enganado pelo ato mimético. O filósofo não menospreza a capacidade de discernimento do público. O que ele teme é que os cidadãos se tornem como os poetas, ou seja, que possam assumir vozes que não são suas, funções que não lhes cabem e assim prejudiquem o bom funcionamento da cidade. O que importa aqui para uma leitura da poesia de Carlos de Oliveira é a crença de Platão numa repercussão moral imediata da poesia, embora aqui ela seja negativa. Agora vejamos a mímesis como produção de imagem. Essa segunda acepção desse conceito na República de Platão, em verdade, reparte-se em duas. No início do Livro X, deparamos-nos com essa pergunta, há muito esperada, de Sócrates: “– Serás capaz de me dizer em geral o que é a mimese?” (595c). O filósofo dá como exemplo os objetos cama e mesa. Primeiro há a forma: uma forma para a cama e outra distinta para a mesa. É a partir disso que os marceneiros produzem camas e mesas. Nada mais são do que cópias imperfeitas do eidos, a forma única e real da cama e da mesa. Estamos diante da teoria platônica das idéias. E não seria pela mímesis que ela se dá? Dessa desdobra-se outra mímesis, cujo exemplo do filósofo agora é o pintor. Depois de copiadas pela primeira vez das idéias, mesa e cama são copiadas pela 7 8 Principalmente no livro III e X da República. Assim como em Carlos de Oliveira o estético está diretamente condicionado pelo ético e vice-versa. 16 segundo vez agora pelo pintor. Se a primeira cópia havia sido autorizada, dessa segunda não podemos dizer o mesmo. Segundo Platão, o marceneiro imita a verdade; e o pintor, a imitação da verdade; o que não é bom: - Considera então o seguinte: relativamente a cada objecto, com que fim faz a pintura? Com o de imitar a realidade, como ela realmente é, ou a aparência, como ela aparece? É imitação da aparência ou da realidade? - Da aparência (598b). A analogia é logo feita com a poesia e, diferente do livro III, Platão não faz distinção entre textos não-narrativos e narrativos. Todos são produtos da mímesis cuja metáfora do espelho, usada aqui pelo filósofo, é elucidativa. Sócrates diz que a produção de imagens, por quem de fato não as conhece, é: (...) variada e rápida de executar, muito rápida mesmo, se quiseres pegar num espelho e andar com ele por todo o lado. Em breve criarás o Sol e os astros no céu, em breve a ti mesmo e aos demais seres animados, os utensílios, as plantas e tudo quanto há pouco se referiu (596d). O perigo da produção de imagens se assemelha ao perigo do Livro III. A questão não é que os gregos sejam enganados pela representação, mas que eles sejam convencidos que o conhecimento do poeta, através de imagens a partir da aparência, seja tão grande a ponto de ele poder dizer, amiúde, como deve se comportar um general, ou seja, no que consiste sua arte, melhor mesmo de que o próprio general. Há o general verdadeiro, único, existente somente no plano ideal. E há os demais, os possíveis, apenas semelhantes ao verdadeiro. O problema é que pode haver um terceiro nível de generais, aqueles semelhantes aos semelhantes, que pelo poder da mímesis podem acabar sendo mais convincentes do que aqueles de segundo nível. Em relação a esse tópico, talvez seja isso o que mais importa para a compreensão da realidade, ou da referência à realidade na poesia de Carlos de Oliveira. Talvez seja a partir desse ponto também que Aristóteles comece. O fato de Aristóteles não definir previamente o que seja mímesis, implica pensarmos que ele utiliza um conceito platônico do termo. Mas qual? No entanto, diferente de Platão, nele tal conceito não repercute negativamente nem possui qualquer reverberação metafísica. O papel desse filósofo será o de, na mímesis, respeitar sua dimensão para o ético, sem deixar que isso a paralise. Aqui ela é congênita aos homens, 17 e é por ela que eles aprendem. Não só aprendem, mas, segundo Aristóteles, se comprazem com isso. Sinal disto é o que acontece na experiência: nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância, por exemplo [as representações de] animais ferozes e [de] cadáveres. Causa é que o aprender não só muito apraz aos filósofos, mas também igualmente aos demais homens, se bem que menos participem dele. Efetivamente, tal é o motivo por que se deleitam perante as imagens: olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja cada uma delas, [e dirão], por exemplo, “isto é aquilo”. (Poética, IV, 14) Daí a possibilidade do verossímil, não o que é, mas o que poderia ser. O “isto é aquilo” possibilita a mímesis. É uma operação metafórica de dissociação e recontextualização. A imagem é separada, afastada de sua instância primeira, e vinculada à outra ou outras da ordem, como diria Aristóteles, do possível, i.e., da potência. É com essa distância que se dá não só o aprendizado, mas o estético. O que importa mais não é o grau de fidelidade ao objeto – aqui, como em Platão, o espectador não será enganado –, mas o quanto ele se aproxima, atua e é atualizado por quem o experimenta. A imagem não é a coisa; e sim, a falta da coisa. Daí, a grande importância da Tragédia. Algo de horrível está acontecendo diante de nós e ao mesmo tempo não está acontecendo, por isso permanecemos no teatro. Por isso, a catarsis, como motivo da experiência mimética. Para entendermos tal efeito, talvez seja necessário fazer uma rápida distinção entre mímesis e verossimilhança. A primeira é um possível desdobramento do verossímil. Antes, no entanto, é necessário acompanhar as relações da verossimilhança com a verdade. Como já sabemos, com Aristóteles, a vantagem da poesia sobre a história reside justamente em tal tópico. A primeira possuiria maior poder cognitivo, porque estético, sobre a segunda, devido ao seu maior alcance. O embate é entre o que é e o que pode ser. O que pode ser inclui o que é; por isso o ultrapassa. A relação básica é a de semelhança e diferença. O verossímil se assemelha ao que é e também se difere, chegando assim ao que pode ser. É aqui que a mímesis se desdobra. Ela é justamente a conseqüência disso no espectador da Tragédia. Se na verossimilhança o jogo é entre semelhança e diferença, na mímesis – uma possível conseqüência do verossímil – será entre simpatia e hostilidade, ou seja, é algo que queremos e não queremos próximo de nós. No encantamento mimético, até o último instante, estamos na obra, ou melhor, 18 somos também a obra. No entanto, no momento-chave, quando nós mesmos sofreremos as conseqüências de Édipo, desligamo- nos afastando- nos. Daí o páthos. (porque se não nos desligássemos, não haveria movimento nem catarsis). Uma das razões da exclusão da mímesis da crítica moderna é a confusão feita com a palavra latina imitatio. Costa Lima fala um pouco disso: “Não é hoje segredo que sua apropriação pelos tratadistas italianos teve um equívoco por base: mímesis entendida por imitatio” (COSTA LIMA, 1995, p. 63). A leitura da Poética de Aristóteles pelos homens do Renascimento foi feita com muito fervor. A vontade de organização, que eles entenderam nesse livro, dizia respeito “exatamente” ao espírito da época. É válido lembrar que, no século XV, o homem buscava erigir uma verdade, de alguma forma, diferente daquela de ordem religiosa. O melhor contraponto seria seguir os modelos fornecidos pela natureza. Daí uma leitura que privilegie a imitação. Diferente da mímesis, no imitatio o que mais importa é a aproximação do objeto estético da phýsis. Não que essa phýsis fosse desinteressante para Aristóteles; pelo contrário, basta atentarmos para A Física aristotélica, livro ao qual recorreremos ainda. Mas ela só adquiria razão de ser quando posta em movimento, ou seja, quando entrasse no jogo com o espectador, quando se tornasse páthos. A partir da mímesis em Aristóteles, o comentador Paul Woodruff faz um levantamento do que não se entende por mímesis (WOODRUFF, 199, p. 89-91). Já vimos que o termo não pode ser equivalente à imitação, embora seja essa sua definição mais recorrente, via herança quinhentista. A mímesis também não é a ficção, mas pertence à ficção, ou seja, é parte constituinte do mecanismo ficcional: aquilo com o qual a ficção nos atinge. A questão é diferente quando se fala da mímesis como reprodução. Segundo o mesmo Woodruff, por um lado, a mímesis é reprodução; por outro, não. Eis seu exemplo: Se um operário, para não errar na medida, faz uma nova rédea a partir do modelo de uma outra rédea anterior, ele não é um artista que opera por mímesis, mas um operário (...) Apesar de o operário ter imitado o modelo, seu objeto final não é uma imitação de rédea (idem, p.90). A mímesis opera por reprodução, mas não se limita a ela; se não, no exemplo acima, não teríamos talvez uma rédea e sim uma imitação, uma imagem, ou melhor, um mímema da rédea. Mímema será o objeto, produto da ação mimética. Também não é 19 representação, já que somente algumas representações podem ser miméticas. Podemos dizer, por exemplo, que nesta há mímesis e naquela, não. Os termos se tocam, mas não se equivalem. Pela mesma razão, o conceito em Aristotélico também não pode se equivaler à expressão, produção de semelhança ou de imagens. Em verdade, a mímesis talvez seja o que nelas se movimenta e atinge os espectadores da Tragédia e a nós, leitores de Carlos de Oliveira. Se a ficção cria, talvez seja a mímesis que transforme essa criação em experiência própria. A grande questão é como pode a poesia tratar e participar da realidade sem ser passivamente descritiva. Essa phýsis, que aqui tomamos como paisagem, é a referência a algo, o lugar, o exterior ao poema. A operação não é somente de descrição, mas também de composição, pois não se trata de uma visão pacífica. A paisagem, no poema, é um lugar alegórico que – além de ser, na poesia de Carlos de Oliveira, sobretudo, a Gândara – é também a questão da linguagem como experiência crítica e resistente – forma de vivência do homem, permanência no mundo sujeita à experiência da brevidade. Ou seja, buscar lugares geográficos e encontrar lugares lingüísticos que nem por isso deixam de ser também geográficos, culturais. É como se o texto povoasse a paisagem: a mímesis não se dá em expor, em versos, a realidade, mas em provocar no leitor, através do processo de autocrítica do poema (distanciamento) uma sensação, porque estética, análoga à experiência da paisagem em suas contradições e limitações físicas (aproximação). Essa vivência talvez esteja perto daquilo que falamos acerca do páthos. Artaud, quando falava da função social da arte, argumentava que a arte nunca havia salvado ninguém de ter fome, o mínimo que poderia fazer seria provocar em quem a experimenta a sensação próxima a da fome. (ARTAUD, 1999, p.1). Embora seja principalmente vista como maléfica na filosofia platônica, importa destacar a importância moral e até social da mímesis. Essa vitalidade, de certa forma, está presente na obra de Carlos de Oliveira. Mas o que importa mesmo é chamar atenção para seu legado aristotélico, lido aqui, como veremos, através da relação ato e potência. O que teremos em sua poesia é a revalorização da phýsis, distante da maneira renascentista, que, como vimos, através do imitatio, pouca distinção fez entre natureza e verdade e entre verdade e verossimilhança. Em Carlos de Oliveira, no entanto, essa phýsis não só está atrelada, mas forma uma unidade com o páthos, que é aquilo que, na tragédia, move o espectador; e no poema, o leitor. 20 Chegamos ao ponto fundamental: a repercussão do que há no poema em quem o lê. A mímesis é aquilo que na produção de imagens nos atinge, ou seja, aquilo que nos vincula ao poema. Para Costa Lima, “(...) a mímesis não se origina da vontade de se assemelhar a algo, a alguém ou a alguma forma de conduta sua, mas sim da demanda de constituir uma identidade para quem a empreende” (COSTA LIMA, 2000, p. 323), tanto autor como leitor. Por essa via ganhamos embasamento para chegar com maior segurança a um Costa Lima mais antigo, aquele que em Mímese e modernidade falava que “o próprio da mímese de produção é provocar o alargamento do real (...)”, o produto mimético “só é capaz de funcionar pela participação ativa do receptor” (COSTA LIMA, 2003, p. 181). Para ele, é como se a referência à realidade fosse apenas um dispositivo para que o leitor, subjetividade outra, a desenvolva. E é aqui que está Carlos de Oliveira. A paisagem é o dispositivo para que o leitor ocupe o poema. Ele experimenta-a (a paisagem no poema) através das significações que constrói (o povoamento). Tal processo se dá, não por uma alta exposição realista da paisagem, mas por um auto-reconhecimento do poema como poema, ou seja, da realidade do poema. Essa recorrente consciência do texto tanto afasta a paisagem enquanto realidade, transformando o lugar em referência de lugar, como também aproxima alguma outra coisa que atualiza a mesma paisagem e faz com que a experimentemos em suas dificuldades e contradições. Como em Aristóteles, no entanto, esse conceito de mímesis é utilizado às vezes com uma definição não tão clara (até porque talvez pressuponha entre seus alunos um pré-conhecimento desse conceito, já que a Poética constitui-se de algumas notas para aula), tentemos, agora a partir de outra leitura, dar suporte a ele através de outros conceitos que em princípio não guardam relação direta com a Poética. Na Metafísica, ao conceituar o que é substância, Aristóteles chega à forma e, com isso, àquilo a que chamamos ato e potência. Essa passagem é tema de toda a Metafísica. Não vamos aqui tentar demonstrá- la, não só por falta de tempo como principalmente por nossa distância do tema, que em muito ultrapassa o âmbito deste trabalho. “Digamos de imediato que o problema da substância é o mais delicado, o mais complexo (...) para aquele que procura entender a metafísica aristotélica” (REALE, 1997, p. 45). Assim, apontaremos para o tema, em específico para ato e potência, na medida em que ele nos ajude a lidar com a mímesis. Se os conceitos de ato e potência de fato não correspondem exatamente aos mecanismos que estruturam o conceito de mímesis, eles podem ao menos se aproximar, 21 na medida em que integram, agora sim, mecanismos que estruturam as substâncias, a realidade. E, como sabemos, a mímesis é uma forma de conhecer essa mesma realidade. O que propomos é a possibilidade de encarar a construção mimética como o ato cuja potência seria a realidade. É assim que lemos na Física que o bronze seria potencialmente uma estátua de bronze (Física 1, p.199). Já na Metafísca lemos: “It seems that everything which actually functions has a potentiality” (Metafísica, p. 141143). O que não quer dizer que a potência seja mais importante que o ato: “Can there be motion if there is no actual cause? Wood will not move itself – carpentry must act upon it; nor will the menses or the earth move themselves – the seeds must act upon the earth, and the semem on the menses” (Idem). A passagem da potência para o ato se dá através de conhecimento e trabalho. E essa atualização implica em principalmente dar forma às coisas em potência. Assim, se formos agora ao tratado De Anima, leremos que “a matéria é ela mesma enquanto potência, sendo a forma enteléquia [atualização], e isto em dois sentidos: como conhecimento e como exercício, em acto, do próprio conhecimento” (De anima, p.51). Seria interessante lembrar que a mímesis imita (o verbo ainda é um problema) a ação dos homens e tal operação está profundamente ligado, como vimos, à cognição. Podemos agora trocar o verbo e dize r que a mímesis atualiza a ação dos homens e justamente por isso está ligada ao ato cognitivo. E porque atualiza e leva ao conhecimento, está também e principalmente relacionada à movimentação e transformação. Agora novamente a Física: The act of builidng, then, is the energizing or bringing into actuality of the potentiality of the materials qua materials; and the passage of the materials of a house into the texture of the house itself, so long as it is in progress, is their ‘movement’ qua materials of building. And this is the theory of all other ‘movement’ equally. (Physics III, i-ii) Construir a paisagem no texto, para além de imitá- la ou reproduzi- la, é atualizar a paisagem enquanto potência. É conferir a ela, embora já reúna os itens que a caracteriza m como tal, a capacidade de transformar-se. Logo, é através da mímesis, sobretudo entendida a partir dessa relação entre ato e potência, que o poema faz referência à realidade. Assim como cada ação humana é uma forma de atualização da realidade, a obra de arte também o é, na medida em que é mais uma ação humana – um trabalho, e em Carlos de Oliveira isso ganha um sentido ainda mais especial dado o uso e importância da palavra ‘trabalho’ em sua obra – sobre a realidade. E como essa obra constitui um todo em que as partes se determinam e funcionam entre si, sua relação com 22 a realidade é análoga à relação existente entre si e o leitor. Assim, o texto está para a realidade assim como a leitura está para o texto, melhor, da mesma forma que o texto atualiza a potencialidade do real, o leitor atualizará a potencialidade que para si é o texto. Trata-se de se chegar à melhor forma, para que o poema permita a presença, aqui, participativa e decisiva do leitor: o povoamento. Como veremos, a dimensão semântica do sujeito no poema não só permite, como exige que a leitura interceda nela. Nesse movimento, tanto ela conduz, como é conduzida pelo leitor. Quanto mais atualização do mundo, mais do mundo ela passa a ser parte integrante. É no que ela se reconhece como texto – daí a presença metapoética – que cada vez mais é parte da realidade, do mundo. Por isso não seria absurdo convocar para essa leitura a partir da mímesis tanto algum instrumental que valorize a forma – reconhecendo a relação entre o todo e as partes, sintática e semanticamente 9 – quanto um instrumental que considere que o texto, principalmente o poético, atualize-se no momento em que as estruturas poéticas, reconhecidas como características no objeto estético acabado, são transportadas, a partir da objetivação da descrição, para o processo da experiência com o texto, a qual permite ao leitor participar da gênese do objeto estético (JAUSS, 2002, p.876) Assim estaríamos diante de um texto em que, como muitas vezes acontece na poesia de Carlos de Oliveira, aquilo que é intra-textual reconhece-se no extra-textual, não porque a leitura do poema não tenha limite, mas porque é sempre uma manifestação direta do funcionamento da realidade. Ou para falar com Iser: “Se o texto literário é um ato intencional dirigido ao mundo, então o mundo com que ele se relaciona não é simplesmente nele repetido, mas experimenta ajustes e correções” (ISER, 2002, p. 942). Podemos ainda ampliar esse horizonte: se ao invés da palavra ‘contexto’ ou ‘mundo’, individualizássemos a proposta. Assim como Barthes sugere num famoso trecho seu: “reescrever o texto da obra dentro do texto de nossas vidas” (apud S CHOLES, 1991, p.25). Posicionamento tão valorizado por Robert Scholes em seu Protocolo de leitura (Idem) – “A leitura é sempre o esforço conj ugado de compreender e de incorporar” (Idem). Trata-se de um trabalho que chama atenção por seu interesse tanto pela forma como pela maneira com que essa forma é recebida. A esse texto de Scholes em parte voltaremos mais adiante. 9 Como por exemplo Jakobson na leitura de “Le Chats” de Baudelaire (JAKOBSON, 2002, pg.833-854). 23 Para finalizar, podemos trazer rapidamente aqui algumas considerações de Paul Ricoeur que parecem seguir um caminho parecido com aquele proposto por Costa Lima, antes. Ricoeur também vê o potencial de criação na mímesis: se continuarmos a traduzir mimese por imitação, deve-se entender totalmente o contrário do decalque do real preexistente e falar de imitação criadora. E, se traduzimos mimese por representação, não se deve entender, por esta palavra, alguma duplicação da presença (...)” (RICOEUR, 1994, p.76). Em Tempo e narrativa distingue pedagogicamente – a partir da Poética – três modalidades de mímesis para melhor operacionalizar o conceito. Não vale a pena aqui estabelecer o campo de ação dos três, pois precisaríamos de alguns capítulos. Para o nosso trabalho, importa dizer apenas que o primeiro, o mais recorrente deles, está relacionado à transposição da ação humana, modelo da mímesis, para a forma da obra. O que irá nos interessar mais será, no entanto alguma coisa do segundo e do terceiro, pois lida de perto com o nosso tema: “a mimese que é, ele nos lembra [Aristóteles], uma atividade, a atividade mimética, não acha o termo visado por seu dinamismo só no texto poético, mas também no espectador ou no leitor” (Idem, p.77). O prazer previsto por Aristóteles é a finalidade do objeto mimético e, para Ricoeur, “esse prazer é ao mesmo tempo construído na obra e efetuado fora da obra” (Idem, p.80). É pelo prazer que se encontra o fator cognitivo da obra de arte. E o principal recurso para tal, como sabemos, é a catharsis – ela pressupõe sempre a presença do receptor, já que, seguindo ainda o autor, “é uma purificação (...), uma depuração – que tem sua sede no espectador” (Idem, p.83). No entanto coerentemente Ricoeur não deixa que a balança pese excessivamente para um lado apenas – só há determinado tipo de recepção, porque uma forma dada a permite e condiciona: “a dialética entre o dentro e o fora atinge seu ponto culminante na catharsis: experimentada pelo espectador, é construída na obra” (Idem). Se há, como veremos em Carlos de Oliveira, a possibilidade de o leitor traçar seu próprio caminho por dentro do texto, tal caminho não excede um espaço que pode apenas ser delimitado por esse mesmo texto; de novo Ricoeur: “Qualquer que seja a capacidade do espectador de abranger a obra de uma só vez, esse critério externo entra em composição com uma exigência interna da obra que é a única que importa aqui [na Poética]” (Idem, p.67). O filósofo francês chega mesmo a destacar alguns pontos da poética onde podemos notar essa referência, como ele mesmo diz, à “estética da recepção, em germe em Aristóteles” (Idem, pg.67) 24 quando diz que a poesia ensina o universal, que a tragédia, representando a piedade e o terror, ... realiza uma depuração deste gênero de emoções, ou ainda quando evoca o prazer que temos de ver os incidentes aterrorizantes ou lamentáveis concorrem para a inversão de sorte que constitui a tragédia – significa que é bem no ouvinte ou no leitor que se conclui o percurso da mimese (Idem, p.110). E, embora não mencione exatamente, deixa a entender a possível relação, aqui já traçada, entre o conceito de mímesis e os de ato e potência ao escrever que “Seguir uma história é atualizá- la na leitura” (Idem, p.118), ou quando, ainda antes, fala que “os termos da semântica da ação adquirem integração e atualidade”: Atualidade: termos que só tinham uma significação virtual na ordem paradigmática, isto é, uma pura capacidade de emprego, recebem uma significação efetiva graças ao encadeamento seqüencial que a intriga confere aos agentes, ao seu fazer e ao seu sofrer (Idem, pg.91). Em verdade a proposta de Ricoeur é muito mais ousada e pretende, na esteira de Gadamer, uma fusão de horizontes. Horizontes que em seu livro assumem a roupagem de tempos distintos. Ele busca na mímesis instrumental para entender como no espaço temporal da narrativa pode haver uma fusão de tempos distintos. Vejamos o comentário que faz de Santo Agostinho no que se refere a esse mesmo tópico: Dizendo que não há um tempo futuro, um tempo passado e um tempo presente, mas um tríplice presente, um presente das coisas futuras, um presente das coisas passadas e um presente das coisas presentes, Agostinho pôs-nos no caminho de uma investigação sobre a estrutura temporal mais primitiva da ação (idem, p.96). De certa forma is so faz algum sentido, como veremos, durante nossa percurso por O aprendiz de feiticeiro; e também mais tarde, na leitura que faremos, induzidos por esse mesmo livro, do poema “Estalactite”. O que interessa marcar agora é a importância dada por nós, através da mímesis, ao leitor no ato de recepção. Importância que não o torna solitário, onipotente. O contrário – ele não só é fiel, mas também inteiramente condicionado pela forma que o antecede. O que não quer dizer que não seja um ato livre, até porque a sua liberdade – isso que tanto valorizamos, mesmo quando a chamamos de insubmissão – está inteiramente conduzida pela consciência que tem dessa mesma forma que a motiva. A melhor imagem que possuímos, sem dúvida, é a de Aristóteles, através dos conceitos de ato e potência. Como atualizar algo que não existe em potência? Com isso, a relação leitor-obra é simétrica à relação obra- mundo. Assim como a obra é livre, pois, quando atualizada, confirma o mundo – a leitura é livre, pois, 25 quando atualizada, confirma a obra. Dizer que o leitor – pelo menos aquele que Carlos de Oliveira quer, é claro – corrompe a obra é tão absurdo quanto dizer que a obra corrompe o mundo. Já que esses dois eixos, leitura-obra e obra- mundo, são produzidos sobretudo por uma forma : fator que possibilita nessa obra tanto sua ligação com a realidade, o mundo (como ato, i.e., trabalho), quanto sua ligação com a leitura, o leitor (como potência. i.e., algo a ser trabalhado) 10 . Na análise que se segue, não veremos no entanto uma preocupação última de aliar, para um conceito de mimesis, uma perspectiva estruturalista a um instrumental retirado a alguma estética da recepção e do efeito. Pelo menos por agora, interessa-nos não propriamente essa questão teórica, embora ela às vezes nos pudesse ser muito útil, mas sim a motivação que ela produz numa obra em que se tem notado, digamos, já há algum tempo e de forma quase indiscutível, uma preocupação excessiva com o trabalho da forma. Longe de negar isso, nosso texto de alguma maneira relaciona tal vontade de rigor a algo que nessa obra acaba sempre por se extraviar e errar. Em outras palavras, a preocupação da forma em Carlos de Oliveira está ligada à ‘forma’ que o leitor também pode dar ao texto, já que o texto é a potência que esse mesmo atualiza.. Esta é a motivação que nos leva a percorrer um livro tão importante como O aprendiz de feiticeiro, percorrê- lo em busca de uma espécie de resposta a este extravio, erro (lucidamente encenado) que, acreditamos, encontra alguma explicação nessas seguidas representações do leitor e do ato de leitura, como agora pretendemos demonstrar. 10 Giovanni Reale ao comentar Aristóteles: “(...) a matéria é ‘potência’, isto é, potencialidade, no sentido de que é capacidade de assumir ou de receber a forma: o bronze é ‘potência’ da estátua, porque na realidade é capacidade de receber e acolher a forma da estátua; a madeira é ‘potência’ dos diferentes objectos que com ela se podem fazer, porque é capacidade concreta de assumir as formas dos diferentes objectos” (REALE, 1997, p.51). 26 3. M UNDO COMUM Preciso quase sempre de imagens e, embora me digam que é um hábito grosseiro em escritos destes, não desisto de ligar tudo o que penso ao mundo comum, quotidiano: os objectos, a paisagem, os homens. C.O., “Imagem turva ” 3.1. PROTOCOLOS DE LEITURA PARA O APRENDIZ DE FEITICEIRO “O que me interessa em Osório Bastos não é o escritor frustrado mas o seu ‘adiar’, embora seja difícil por a frustração ali e o resto aqui, bem separados” (OLIVEIRA , 2004, p.141)1 , escreve o autor em “Fausto”, um dos muitos textos que integram o livro O aprendiz de feiticeiro. Escolhemos essa imagem, a do adiamento, porque nosso trabalho de alguma forma lidará com o tempo, com seu atraso e seu avanço, na obra de Carlos de Oliveira. A escrita de um tempo próprio da literatura ou, se quisermos, da poesia. Mas essa escrita, como veremos, mais do que uma forma de exercício de permanência – aquilo que geralmente se cobra dos grandes textos –, será a escrita de uma tentativa máxima de imersão no tempo presente. “Chega mos ao que julgo importante. O adiar de Osório Bastos conduz a uma falsa concepção fáustica da vida” (p.142). Esse adiamento, pequena imagem desse tempo de que falamos, como ele afirma, não é uma operação de imobilização e inscrição eterna para fora do tempo, como o exemplo do amor de Fausto por Margarida pode sugerir, mas sim a possibilidade da experiência daquilo que os tempos, inclusive o nosso, têm em comum: aquilo que nesses tempos pode ser partilhável. Referimo- nos à experiência da brevidade, melhor, à experiência do fim. A criação desse tempo da literatura em Carlos de Oliveira implica nisso, na possibilidade de seus textos darem a quem os ler tal 1 Neste capítulo as referências a O aprendiz de feiticeiro virão apenas com a indicação do número da página. Preferimos a edição da Assírio & Alvim (2004), já que é a última. Quanto às variantes que essa apresenta, comentaremos a seguir. 27 vivência. E nisso talvez resida um dos maiores trunfos dessa obra. Como veremos, é essa vivência, pelo poema, da errância e da brevidade que faz de sua obra um caminho por onde chegamos ao outro, num exercício de alteridade muito especial. Contudo, nossa menção a Osório Bastos, “futuro romancista, de 38 anos, grisalho, casado, pai de um filho” (p.141) servirá não exatamente para a verificação disso, pelo menos, não assim, diretamente. Osório Bastos e o seu adiar funcionarão aqui não apenas para iniciarmos a leitura de O aprendiz de feiticeiro, mas para já nesse livro destacar o tópico que mais nos interessa: o do povoamento da paisagem. E este tópico é o da leitura, mais especificamente do leitor e da recepção do texto. A menção neste momento a Osório Bastos acontece porque, de alguma forma, o texto “Fausto”, de onde a extraímos, parece na indefinição do que seja – um conto ou uma resenha sobre Enseada amena de Augusto Abelaira – com alguns textos de dois autores que de uma forma ou outra sugeriram a nós um percurso em que sobretudo o mais importante é sempre a paixão pelos livros. O primeiro é Borges e sua vasta coleção de personagens. O segundo trata-se de um autor catalão chamado Enrique Vila-Matas e de um livro em especial, O mal de montano, em que uma personagem incorpora e é a representação de toda a literatura. Em ambos, é a figura do leitor que ganha destaque. Em ambos, tal figura está relacionada a certa vivência que não abole o tempo, mas o multiplica em tempos distintos, contraditórios e complementares. A indefinida não- finalização que Carlos de Oliveira atribui a Osório Bastos2 também aqui usamos com a finalidade de olharmos melhor para outro livro que apenas aparentemente se finalizou. O aprendiz de feiticeiro em sua montagem reúne textos e blocos de textos oriundos de épocas diferentes e escritos com finalidades também diferentes. Falamos que se trata de um livro que apenas aparentemente se finalizou, porque cada texto exige um posicionamento distinto do leitor. Não porque trate de temas muito diferentes. Não é isso. Mas porque foram escritos não só em circunstâncias diversas, mas para funções diversas. De modo que não podemos dizer: isto é um conto e aquilo é um ensaio. Carlos de Oliveira sabia que um escritor trabalha com palavras. Por isso toda manifestação escrita sua, mesmo que não resultasse num livro de poemas ou num romance, deveria ser fruto do mesmo rigor com que escrevia aqueles. Nisso a lição de seu amigo e “mestre” (p.16) Afonso Duarte é patente: “A palavra que digas / A carta 2 Osório Bastos é o personagem de Enseada Amena de Augusto Abelaira e o que interessa destacar é apenas o seu adiamento em relação às coisas, posição análoga ao Bartleby de Melville, que aliás motivou Bartleby e Cia de Vila Matas, uma história sobre escritores que não escrevem. 28 que escreva, / Que sejam obra de arte” (p.167). Como homem público (se alguma vez o foi, porque nunca quis sê- lo) manifestou-se sempre de forma que suas palavras não pudessem atrapalhar o curso de seus livros ou que, se atrapalhassem, atrapalhassem pouco. Chegou ao extremo – pelo menos foi como quis que o conhecêssemos a partir de O aprendiz de feiticeiro – de levar tal posição rigorosa mesmo às cartas que escrevia. Falando ainda sobre Afonso Duarte escreve: “Segui- lhe a lição à risca: que as cartas sejam obra de arte. Mas incapaz de obras de arte no já lá vou de cada dia reduzi a minha correspondência ao mínimo possível para sobreviver socialmente: dois, três leitores; quatro, cinco amigos” (p.167). É essa economia que garantiu que esses textos, esparsos na imprensa ou mesmo inéditos, alguns anos depois pudessem ser reunidos num volume como O aprendiz de feiticeiro. O grande problema é a multiplicidade, portanto, de direções que se toma a partir da leitura do livro. Nossa tarefa seria quase impossível se nos propuséssemos a mapear a particularidade de cada texto, porque, como já sabemos, cada um desses textos muitas vezes exige uma postura diferente do leitor. Em outras palavras, exigem contratos de leitura distintos: conto, resenha, uma entrevista que deu e até mesmo uma que não deu. Cada uma dessas modalidades textuais, por mais abertas que possam ser, exigem um determinado posicionamento. Não podemos ler uma entrevista como se lêssemos um conto. Ou não podemos encarar uma carta como se estivéssemos diante de um prefácio. Por maior liberdade que o leitor deve possuir, não podemos tratar esses textos da mesma maneira. Para falarmos com Robert Scholes (S CHOLES, 1991, p.18-19) cada texto pressupõe um protocolo de leitura. Por mais que nossa leitura se configure como produção. “Ler é escrever, é viver, é ler, é escrever” (Idem, p.23). Essa produção somente avança, i.e., a leitura somente é escrita se for detentora de um trabalho, um esforço de leitura que, como sabemos, recupere ou tente ir ao encontro de tudo aquilo que possibilitou a produção do texto, com tudo aquilo que fez com que o texto existisse materialmente na folha. No debate entre a hermenêutica e alguns desconstrutivistas, que não vale a pena reproduzirmos aqui, Robert Scholes, assim como muitos também o fizeram, afirma a impossibilidade de definir exatamente o protocolo de leitura de um determinado texto. O que não quer dizer que nós não devamos trabalhar para desenhar as suas linhas de força, tarefa – até porque não aponta para uma imobilização do texto – não só possível, mas necessária. “A leitura tem duas faces e orienta-se para duas direcções distintas, uma das quais visa a fonte e contexto original dos sinais que se decifram, baseando-se a outra na situação textual da pessoa que procede à leitura” 29 (idem, p.23). Assim chegamos a alguns pontos que podem ser interessantes, entre eles: “A leitura é sempre o esforço conjugado de compreender e incorporar” (idem, p.25). A palavra esforço implica em uma tarefa que quase deixa ver algo de falhado. Se em Carlos de Oliveira houver tal “falhanço”, como ele mesmo diz, veremos isso através do trabalho com as palavras do autor português 3 . Por isso seria mais interessante convocar Scholes outra vez e deixá- lo dizer que a leitura, agora sim, é “um processo activo que envolve um misto de pesquisa e de imaginação” (idem, p.21). Nossa tarefa, embora prometa o título do subcapítulo, não é determinar os protocolos de leitura, seriam muitos, para O aprendiz de feiticeiro, mas, ao menos, aprender a não tratar seus textos da mesma forma ou até retirar algum proveito dessas diferenças e poder observar se elas produzem significados ou não para a interpretação da obra de Carlos de Oliveira. E dentre essas muitas direções, escolhemos aquela que de certa forma permeia muitos desses textos, muitos vezes atravessando registros diferentes. Nosso trabalho é o de perseguir a imagem da leitura em O aprendiz de feiticeiro. Ver como em ensaios, entrevistas e mesmo em contos, a questão da recepção, mais até que a da produção, é mencionada pela primeira pessoa do livro que ora, devido aos contratos distintos de leitura, chama-se autor (e portanto seria possível uma idéia de biografia em Carlos de Oliveira, por mais distante que isso ainda possa ser), ora chamase de narrador e às vezes, dado sua não-fixação, apenas de a primeira pessoa do texto, um personagem da linguagem. É claro que na preparação para a publicação do livro em sua primeira edição (OLIVEIRA , 1971), esses textos passaram por certa homegenização tanto estilística como semântica para dar a unidade que o livro tem. Aliás, a consciência do rigor está presente em O aprendiz de feiticeiro assim como está em Finisterra e Entre duas memórias, só para mencionarmos dois livros seus em que a organização e unidade são a tônica. Essa menção ao leitor se dá das mais variadas formas, todas, entretanto, parecem se conjugar num mesmo propósito: o da necessidade de uma leitura ativa, participativa em que o texto mesmo em sua feitura não só necessita do leitor, mas, quando lido, dá a ver, entre outras coisas, o próprio ato de leitura. Ou como se vê em “Micropaisagem”, não o livro – ao qual chegaremos apenas no capítulo dedicado à encenação da leitura –, mas a penúltima parte de O aprendiz de feiticeiro, homônima do livro de poemas de 1968. O que vemos? “Um texto diante do espelho: vendo-se, pensando-se” (p.185). 3 “Mas então, que alegria triste assumir como última conseqüência de ser livre a responsabilidade do falhanço” (p.164). 30 3.2. TODOS OS TEXTOS – O TEXTO A título de exemplo façamos um breve passeio por caminhos do bosque que é este livro. “Assim continuarei até entrar na floresta donde não se volta. Que seja o mais tarde possível. Apesar de tudo gosto de perder-me entre as árvores” (p.123). Entremos para ver alguns temas, algumas modalidades de texto e um dos principais recursos que fornece unidade ao volume. O Aprendiz de feiticeiro, nome que remonta a uma narrativa tradicional recriada por Goethe em um pequeno poema homônimo de 1797 sobre um pequeno bruxo que aproveita a rápida ausência de seu mestre para se apoderar de sua vassoura e arriscar alguns feitiços que não conseguirá reverter 4 . Claro que a máxima “o feitiço voltou contra o feiticeiro” aí talvez conheça sua origem ou pelo menos uma de suas primeiras manifestações. Esse poema de Goethe de algum modo pode ser visto como prenúncio de questões trabalhadas no Fausto. Como vimos, há também no livro de Carlos de Oliveira um texto homônimo do clássico maior do poeta alemão. Pensar no narrador ou primeira pessoa do livro de Carlos de Oliveira, que, como esse pequeno bruxo, não sabe controlar os poderes proporcionados pela magia é um começo. Quinto trecho do texto intitulado “Na floresta (1966 e 1970)”, citação integral, “Provérbio a propósito: semeias florestas, colhes tempestades. Como todos os aprendizes de feiticeiros. Ainda bem. O vento nas ramagens confusas. Quem tem medo do vento?” (p.124). Ou seja, aventurarmos-nos nessa floresta, bosque de algumas direções, para errar por elas. Quem tem medo desse passeio? Outra pergunta que também viria a propósito, quem tem medo de Carlos de Oliveira? Ou, melhor, quem tem medo desse convite que é O aprendiz de feiticeiro? Convite este menos implícito do que pode parecer: “O que falta é conhecer o segundo termo da relação autor- leitor, sondar o destino do romance ou do poema, a tarefa anónima que os modela continuamente e lhes dá vida” (p.68), escreve ele para uma resposta a uma entrevista (que não chegou a dar). Esses caminhos diversos incluem um breve olhar nas modalidades dis tintas de texto. Por ocasião de sua publicação em 1971, algumas resenhas já tentavam dar conta da multiplicidade do livro. O crítico João Gaspar Simões diz, devido aos muitos textos, ser uma “obra em prosa de gênero indefinido, ‘conversa à toa sobre literatura’ se nos é permitido usar deste designativo lançado ao azar pelo autor na dedicatória com que nos 31 enviou o seu in folio” (S IMÕES , 1971, p.18-19). A citação é curiosa, porque dá a ver um Carlos de Oliveira inédito, o da dedicatória a Gaspar Simões. Pequena nota que transforma a experiência de leitura de seu livro numa “conversa à toa sobre literatura”, deixando explícito – através sobretudo do tom carinhoso da dedicatória – a necessidade de aproximação entre autor e receptor, já proposta no livro. Mas o que queríamos chamar a atenção mesmo é o fato de Gaspar Simões considerar o volume uma “obra em prosa de gênero indefinido”. Nuno Sampayo, em outra resenha do mesmo ano, prefere não delimitar o raio de ação do livro: “O aprendiz de feiticeiro é uma coleção de memórias, projectos, esboços, tentames, opinião, uma viagem dentro de uma personalidade e em redor de uma cultura” (SAMPAYO , 1971, p.8). Já Urbano Tavares Rodrigues, por mais que quisesse, não consegue colar o autor empírico ao narrador do livro. Nesse sentido, a crônica seria a maneira possível de fazê- lo: “não se trata exatamente de um livro de crônicas, segundo a convencional classificação do gênero” (RODRIGUES , 1971, p.10). Baptista-Bastos, ainda em 1971, faz um pequeno levantamento dos diferentes protocolos: “A riqueza (a raridade) de O aprendiz de feiticeiro advém do seu aparente hibridismo: estranha mistura de memórias, de confissões, de discurso sócio- literário, de novela, de poema, de ensaio.” O “aparente hibridismo” é a “riqueza” do livro porque lhe fornece unidade. E depois o autor finaliza com acuidade, revelando de algum modo de onde vem a tal raridade (unidade na dispersão) da obra: “O aprendiz de feiticeiro é a história de uma pesquisa” (BAPTISTABASTOS, 1971, p.1-2). No livro, há alguns ensaios menores que se aproximam, porque já o foram, resenhas como é o caso de “Imagem turva (1947)” sobre Abel Boelho, “A pergunta (1947)” sobre algum teatro de Raúl Brandão ou “Autor, encenador, ator (1968)”, um cotejamento entre José Gomes Ferreira e Pessoa; outros ensaios um pouco maiores como é o caso de “Tesoiro ao sol (1957 e 1959)”, texto – que em parte acompanhava o segundo volume da antologia de contos populares portugueses, que organizara juntamente com o já mencionado José Gomes Ferreira – onde se lê que os textos (aqui orais) estão “condenados a morrer como arte alada e fluida que vai de narrador em narrador, de metamorfose em metamorfose” (p.90). Talvez seja esse um dos poucos momentos em que neste livro critica-se deliberadamente a mobilidade que os textos ganham quando disseminados pelo ato de leitura. Nesse sentido, há outro momento de 4 O poema de Goethe foi adaptado pelos Estúdios de Walt Disney e resultou no longa-metragem de animação Fantasia de 1938, com o ratinho Mickey. 32 crítica na segunda parte de “Almanaque literário (1949-1969)” em que escreve sobre um mal-entendido acerca de uma menção que fez à importância das representações sociais na obra de Camilo Castelo Branco: “Devia haver em todo o caso um limite constitucional à deturpação das palavras alheias”5 . E diz isso claramente em relação ao contexto político em que se insere: “é permitido ao cidadão português deturpar à vontade o que lê e o que não lê, mas quando a ideia deturpada estiver inteiramente às avessas, a Constituição nega- lhe o direito de ir mais longe” (p.54). O que só nos alerta para a impossibilidade de o texto dizer o que não pode dizer, ou seja, há protocolos e protocolos de leitura: uns admitem ambigüidade, outros; como o caso dessa entrevista, não. E mesmo os que permitem tais indefinições não podem dizer tudo aquilo que não dizem. Como veremos na encenação de leitura do poema “Estalactite”, isso que agora se diz ambíguo, lá se traduz muitas vezes na imagem do “silêncio”. E mesmo esse silêncio, que é aquilo que vem implícito no poema, não pode significar qualquer coisa. Pois, como já vimos na teorização da mímesis, durante a leitura atualiza-se apenas aquilo que de certa forma a potência permite. Isso confirma apenas que o papel da leitura, como o lemos em O aprendiz de feiticeiro, é, antes de tudo, crítico. E é de tal lucidez que se constrói a possibilidade de construção de uma paisagem a ser povoada pelo gesto de leitura. Continuemos pelo livro. Ao lado dos textos de cunho ensaístico, temos alguns contos como “Serenata (1965)”, “Corvos (1947)”, “A viagem (1970)”, “A bela adormecida (1957), “Janela acesa (1964)” ou o micro- finisterra que é a narrativa de “A fuga (1961 e 1967)”, cada um porém guardando certa peculiaridade, que de algum modo desestabiliza o já amplo formato do gênero, pois, o confunde com a escrita do diário, da crônica ou com a do próprio ensaio, como é o caso do já visto “Fausto (1966)”, que mistura o registro da resenha de Enseada amena de Abelaira com o de uma pequena narrativa. Ou ainda o curioso “Chuva (1947)”, que justapõe à narrativa de uma personagem, Luciana, a sua própria concepção, i.e., a primeira pessoa – que num registro ambíguo, cujo protocolo também o é (somam-se a figura biográfica com a de um narrador-personagem) – descobre-se em seu próprio ato de criação. “Seja como for, hoje, rompeu uma ponta de sol e desço à beira-rio. Levo Luciana comigo. Conheço-a ainda mal. Cabelo azulado, um pouco mais claro que a asa dum corvo (...) (p.81). De repente, a narrativa revela-se 5 Segundo o autor, essa foi uma “asneira” dita em uma “breve entrevista ao ‘Primeiro de Janeiro”. Pois algumas palavras suas foram deturpadas. É o risco que se corre quando o protocolo do texto não permite ambigüidades. 33 outra, a da sua feitura: “O tempo que demorou a descrição gastámo- lo nós a chegar. Exactamente o mesmo tempo” (p.82). Até que, talvez justamente por essa consciência meta-narrativa, vemos que a chuva, “nas poucas folhas do rascunho poisadas sobre a mesa diante da vidraça aberta, dissolveu o perfil de Luciana ainda mal esboçado, apagou- lhe a voz rouca, desfez- lhe o cabelo azul, sumiu-a sem eu dar por nada” (p.83). Veja-se que – embora saibamos que a descrição na narrativa é uma forma prática de prolongamento do tempo, conforme disse a voz, que é narrador-personagem e, ao mesmo tempo, narrador-externo, “o tempo que demorou a descrição gastámo- lo nós a chegar”, – ele continua a fazê- la, mesmo que para relativizá- la: a “as folhas do rascunho poisadas sobre a mesa diante da vidraça aberta”. A ocorrência num mesmo texto de uma narrador-personagem, aquele que de fato está com Luciana, e um narrador externo a este plano narrativo, aquele que diz que está escrevendo a história, mostra apenas a convivência de tempos distintos num mesmo espaço. Mecanismo que iremos acompanhar mais à frente durante leitura de “Janela acesa (1964)” e depois ainda no próximo capítulo, durante a leitura que faremos – a partir de algumas sugestões de O aprendiz de feiticeiro – do poema “Estalactite”. Ainda poderíamos apontar para outros textos que confundem o registro de uma entrevista, diário ou, no mínimo, crônica, em que assumidamente a primeira pessoa do texto parece se aproximar daquele que conhecemos por Carlos de Oliveira, o autor dos textos. Por exemplo, “Manual de jogos (1963)”, em que um apaixonado por livros descobre em um alfarrabista um velho volume sobre alguns jogos e faz conjecturas sobre seus primeiros donos- leitores, devido a uma dedicatória, conforme veremos mais à frente, na folha de rosto. Há também “Almanaque literário (1949-1969)” com trechos de intervenções na imprensa, entrevistas e outros registros afins do autor. No entanto, como sabemos, as indicações de proveniência dos textos não estão assinaladas no livro. A única discriminação são datas que entre parêntesis acompanham os títulos, no entanto, apenas no índice do livro. Já “O inquilino (1966)”, outro texto em que se pode utilizar um protocolo de leitura que aceite o biográfico, é um momento bem curioso em que o narrador(-autor) fala de seus projetos teatrais que nunca avançaram nem avançarão, fazendo eco um pouco ao Osório Bastos e “seu adiar” permanente. Adiar que confirma o rigor que o autor dejesava aos seus textos e que parece não conseguiu dar às duas peças que não pôde finalizar. “O inquilino”, a peça homônima do texto e não terminada, é símbolo daquilo a que os texto de Carlos de Oliveira evitavam ao máximo estarem expostos. Vejamos. “E de repente, apesar do cansaço, desatei a redigir 34 os versos de ‘O inquilino’ no envelope que recebera do laboratório. Uma desatenção do anjo ou do diabo encarregado de me deter. Não consigo explicá- la.”. Como vemos, o autor, através do registro biográfico, está construindo a imagem que a partir de um dado período quis que sua obra tivesse. “Não percebo também porque transcrevi há pouco essa fala sem riscar uma simples vírgula: correcções, rasuras, acrescentos, são o meu forte (e o meu fraco). Superstição? Quem sabe.” (p.40). Depois desse arroubo, digamos, de inspiração, outra coisa não poderia acontecer. “Levantei- me e andei para a janela, metido na pele do inquilino”. Havia algo de diferente na ordenação das coisas, escrever assim de uma só vez, por isso questionou a si mesmo e a seu recente personagem “se não haveria outras perguntas a fazer antes duma decisão que podia ferir o equilíbrio do mundo ou coisa parecida”. Vemos como sua obra tem implicações mais do que sociais, humanas. Sua poesia sedimenta-se sob o signo da oficina porque só esse trabalho pode dar o rigor suficiente para a ordenação do mundo, por mais precária e provisória que seja. Esse erro é rapidamente consertado pela própria natureza. Abalado “o equilíbrio do mundo” o resultado é este: “Neve por toda a parte: árvores, telhados, ruas, cintilando sob a luz das lâmpadas (...)”. A neve um Lisboa, depois de anos, foi o sinal do desequilíbrio causado pelo quase automatismo de “O inquilino”. A peça portanto deve ser abandonada. Isso mostra a necessidade do trabalho que move a obra de Carlos de Oliveira. O fenômeno funcionou como alarme, controle natural que decanta o andamento de sua escrita. “O filtro mágico das palavras (pensei, cheio de espanto), aí está ele. E senti a mão de Gelnaa apertar- me o ombro: – Nunca vi nada como isto” (p.41). 35 3.3. CRIPTÓGRAFO E MUSA – A PERSONAGEM G ELNAA “E senti a mão de Gelnaa apertar- me o ombro: – Nunca vi nada como isto” (p.41) E nem poderia. Gelnaa é a personagem que passeia por todo O aprendiz de feiticeiro. Ela é o principal fator de unidade de um livro cujo primeiro texto é de 1945 e o último de 1970. Ou seja, o livro, por mais que seus textos estejam sujeitos a reescritas, se inscreve num recorte temporal de vinte e cinco anos. “Só aparentemente é O aprendiz de feiticeiro a apresentação de soltos escritos de circunstâncias” (GUIMARÃES , 1991, p.8), escreveu Fernando Guimarães, vinte anos depois de primeira edição do livro. Já havíamos lido qualquer coisa sobre um “aparente hibridismo” e agora lemos que só “aparentemente” há “soltos escritos de circunstâncias”. Essa aparência traduz uma dispersão que em verdade converge para a profunda unidade que norteia o livro, unidade que se deve sobretudo à presença de Gelnaa. Como se sabe, o nome é um anagrama da mulher do autor, Ângela de Oliveira. Ao transformá- la no entanto em personagem do livro 6 , que passeia pelos diversos textos, entre eles aqueles em que ela normalmente poderia estar, como os que se aproximam de uma escrita diarística – apesar de propriamente não darem a ver fatos biográficos, mas utilizá- los em torno do tema tratado 7 – como é o caso de “Gás”, brevíssima narrativa em que o sujeito, narrador, personagem e, quem sabe, autor, a partir de experiências tão quotidianas, como por exemplo o que acontece próximo a sua janela, “falaremos como Lisboa anoitece no verão” (p.119), escreve sobre desmatamento e poluição incorporando para isso outras falas como as de Joyce e Tchekov. O que faz, aliás, sem aspas, mostrando de algum modo como todas as referências integram um mesmo todo. Até porque são biográficas também as suas experiências de leitura. Falávamos de Gelnaa, citemos então sua sempre breve, mas fundamental aparição: “Três nuvens rectilínias de céu a céu, três 6 O anagrama constitui já aqui um gesto de aproximação e distanciamento do protocolo de leitura da biografia. Ou, por outro lado, poderíamos dizer que constitui um gesto de distanciamento e aproximação do protocolo de leitura da ficção. Em O aprendiz de feiticeiro, temos portanto certa movimentação que não deixa que se fixe o estatuto da voz que diz o texto. E um dos principais fatores que caracterizam a unidade, apesar de tudo, dessa voz é a referência constante a Gelnaa. 7 “Não, não sou vegetalista, quer dizer, não sou nenhum exacerbado idólatra do bucolismo. Venho de famílias arenosas (pântanos, pinheiros, dunas), gente por assim dizer alimentada a cerne, avós carpinteiros 36 traços de fumo deixados pelos jactos duma patrulha. Urbanização nas alturas. Como é que a tua beleza, Gelnaa, há-de sobreviver sem uma máscara antigás” (p.121). É em sua breve participação que o texto, mesmo que em negativo, ganha nome, “Gás”. Acerca disso, Rosa Maria Martelo escreve que este diálogo entre sujeito e Gelnaa “irá ressurgir na maioria dos textos recolhidos, constituindo uma das linhas de sutura que permitem associar experiências disjuntas e momentos diferentes, tornando-se um factor de articulação macrotextual” (MARTELO , 1998, p.143). Arriscaríamos até dizer que Gelnaa é a principal linha de sutura de associação do livro, pois é sua presença que paradoxalmente aumenta no livro o caráter ficcional, já que introduz uma personagem que, independente do protocolo que o texto exija, está presente, mesmo que muitas vezes apenas em uma frase 8 . É essa pequena presença que dá a O aprendiz de feiticeiro a aparência às vezes de uma narrativa. Como bem reparou Martelo, na reunião das obras de Carlos de Oliveira, pela editora Caminho em 1992, o volume na bibliografia do autor aparece em uma seção intitulada “Crônicas” (OLIVEIRA , 1992, p.1162). Martelo prefere a classificação proposta por Manuel Gusmão que inclui o livro na seção “Prosa” juntamente com os romances. O que só ressalta o potencial ficcional de O aprendiz de feiticeiro ou, ao contrário e com certa provocação, aproxima os romances do potencial “biográfico” deste livro. Em parte, para além do caráter de reescrita e do decantado estilo presente em todos os livros, a grande responsável por isso é Gelnaa, presença que por si só também é provocante: é uma personagem que, porém, remonta a uma referência externa, apesar do distanciamento e ocultamento que o anagrama produz. O que pode ser caracterizado como uma estratégia ficcio nal. Ao fim, vemos sobretudo como de certa forma esse esforço de classificação mais do que difícil, soa obsoleto para O aprendiz de feiticeiro. Se estas modalidades estão no livro, precisam de um novo entendimento nosso do que elas sejam. Em outras palavras, dizer autobiografia ou ficção já não é suficiente para falar com estes textos. Ou precisamos de novos protocolos para acreditar – o que só adiaria futuros problemas – ou precisamos sabê-los precários e moventes. Precisamos tê- los como interseccionáveis, ou seja, enquanto ainda os utilizarmos, não podemos imobilizá- los, mas sempre colocá- los em insistente diálogo. de soalhos, pranchas, moveis trabalhados, grandes plantadores e lavrantes de madeira. Mas isso é outra coisa.” (p.119) 8 Martelo escreve que o “sujeito da enunciação-escrevente tem a mesma dimensão de presença-ausência que caracteriza Gelnaa (Ângela-personagem)” (M ARTELO, 1998, p.145) 37 Leiamos somente alguns textos em que Gelnaa está presente e percebamos como ela introduz de algum modo o protocolo da ficção e, a um tempo, o da biografia, na maioria das vezes a textos que não admitiriam nem um nem outro. Em O aprendiz de feiticeiro há vinte e quatro textos que cobrem vinte cinco anos. Desses vinte e quatro, dez explicitamente mencionam Gelnaa. Seu nome aparece num total de vint e nove vezes ao longo do livro. Além desses dez textos, em “Serenata (1965)” seu nome forma outro anagrama, Jane L. Já em outro, “Janela acessa (1964)”, o nome de Gelnaa não é mencionado, mas sabemos que é ela quem segura o livro na breve narrativa, conforme ainda veremos adiante. Além disso, a palavra ‘janela’ no próprio título de algum modo também forma outro anagrama. Portanto, acrescentando mais essas aparições, o número de textos passa para doze, metade, como vimos, do número total. Ou seja, Gelnaa está em metade dos textos do livro e neles aparece um número significativo de vezes, vinte nove. Isso confirma apenas o que já desconfiávamos: que Gelnaa é tão importante quanto a primeira pessoa (narrador, personagem, autor, escritor). A dedicatória do livro não se encontra no início, mas dentro do texto “Na floresta”9 , mais especificamente em seu sétimo tópico: “Falei sobretudo de árvores e amor. Chegou a altura de oferecer este livro a Gelnaa, mulher- floresta, acolhedora e imperscrutável.” (p.138). Ao fim desse mesmo texto, que veremos mais amiúde à frente, chega-se a algumas equivalências matemáticas: “floresta = labirinto / labirinto = deserto / deserto = floresta” (p.139). Ser portanto a mulher- floresta, para além da declaração de amor, é desempenhar um papel importante na obra de um autor que escreve o seguinte: “Cada passo, livro, acaso, opção, paixão, me levou a uma floresta.” (p.121) Ou ainda em Sobre o lado esquerdo: “Contar os grãos de areia destas dunas é o meu ofício actual. Nunca julguei que fosse tão parecidos, na pequenez imponderável, na cintilação de sal e oiro que me desgasta os olhos” (OLIVEIRA , 1992, p.222). A obra de Carlos de Oliveira, de algum modo, sempre esteve nesse labirinto entre a “Amazônia” e “Gândara”, para falarmos com seu primeiro livro Turismo. Ou entre a memória e a projeção, como veremos na leitura do poema “Estalactite”, de certa forma, análogos à floresta e ao deserto. Ser portanto essa mulherfloresta é em O aprendiz de feiticeiro ser o interlocutor, a segunda pessoa do discurso a quem se dirige o texto. Gelnaa é o receptor ideal. O livro é dedicado a ela, pois também é um livro antes de um autor, um leitor. O aprendiz de feiticeiro é um livro sobre a leitura. “Revelação de um bom leitor que todo escritor deve ser também” (NAVARRO, 9 Carlos de Oliveira utiliza o modelo da epopéia ao inserir a dedicatória dentro do texto e não fora, como é feito principalmente a partir do Romantismo. 38 1971, p.41), palavras de António Rebordão Navarro por ocasião da publicação do livro. Ou ainda J. A. Osório Mateus: “Obra que, até pelo ocultar de seu unificador carácter fictus, se não oferece de imediato, que exige um ‘lavrar’ que o autor- leitor sabe não se limitar ao processo de escrita (MATEUS, 1971, p.87-88). Gelnaa representa o modelo de leitura que o “autor- leitor” também é e quer para si. Ainda em “Na floresta”, algumas páginas antes da dedicatória, lemos: “Mal se vê dentro destas frases. Só com a lâmpada da paciência. Felizmente não falta paciência a Gelnaa, que se tornou o meu criptógrafo. Decifra a escrita semi-secreta e copia-a à máquina” (p.124). Diríamos, se Carlos de Oliveira acreditasse nisso, que Gelnaa é sua musa inspiradora, assim como outras interlocutoras, a saber, Beatriz, Laura, Dinamene, Marília, Lídia. Gelnaa é apenas o seu criptógrafo. Aquela que pode, mais do que decifrar, entrar pela sua escrita cujos protocolos, como sabemos, são moventes. Portanto, não há decifração, mas sim abertura de caminhos. Para entrar na floresta somente uma mulher- floresta. Por isso, seja Gelnaa talvez a principal fornecedora de unidade ao livro. Ela nos representa, nós, os leitores. Ou seja, precisamos ser como criptógrafos e leitores- floresta. Entrarmos no textos, povoá- lo. Vejamos alguns momentos de Gelnaa no livro antes de pesquisar mais acerca dos protocolos. Gelnaa aparece em “O tesoiro ao sol”, um texto ensaístico sobre o conto popular português. Quando publicado pela primeira vez, é claro, no texto não havia menção alguma à personagem. No entanto, para O aprendiz de feiticeiro, acerca da presença ou não do mar nestas histórias, lemos: “Não encontrei nada, por exemplo, que evocasse a época dos Descobrimentos. Gelnaa aponta-me o seguinte passo de José Leite de Vasconcelos nas ‘Tradições populares de Portugal’ (1882): ‘Apesar de Portugal ser um país de navegadores, não tenho recolhido nem muitas nem muito extraordinários tradições do mar. O que há é a abundancia de cantigas marítimas’. Coincide” (p.110). O texto se estende por vinte e quatro páginas de caráter analítico e impessoal. Até que súbito encontramos a referência à personagem acima. O que de uma forma sutil desestabiliza o formato e ativa no leitor outro protocolo de leitura. Em “O inquilino (1966)”, da qual já lemos o trecho da tempestade de neve como possível filtro do texto de Carlos de Oliveira contra a inspiração, vemos como Gelnaa tem um papel importante. Além de dar certo caráter, ao mesmo tempo autobiográfico a esse texto que em certa medida já o tem10 , perturba sua linearidade, na medida em que desvia a 10 Como vimos, “O inquilino (1966)” é um texto que trata, principalmente, das peças que Carlos de Oliveira, autor, não escreveu. O que nos leva a um contrato que é sobretudo biográfico. Mas que, 39 pequena narrativa, sobre as peças que o autor não escreveu, para a janela, para ver, na rua, as árvores que o vento vai derrubando. Vejamos: A idéia [de uma possível peça com tema histórico] é mais ou menos contemporânea de ‘El-Rei Sebastião’ de José Régio e ‘O indesejado’ de Jorge de Sena (...). Faltam alguns com certeza, mas cito de memória, sem estantes para consultar, neste ermos dos arredores de Lisboa batido por um vento de tempestade que vai derrubando centenas de pinheiros, colaborando exemplarmente no arboricídio geral. Gelnaa, a escorrer chuva, entra pelo escritório: – A acácia grande caiu agora mesmo. A acácia grande, cem anos vagarosos de crescimento. O fascínio de certas árvores, o seu charme antigo recebemo-lo de plantadores mortos há muito e não podemos improvisá-lo ou substituí-lo durante a nossa vida. Não chega para tanto. Plantaremos outra acácia, claro, mas a que foi derrubada deixou mais um pouco de sombra nos olhos de Gelnaa (p.35). Ela é a concretização do que há por fora do texto, mas que nem por isso deixa de estar no texto. Até porque as árvores que caem por causa do vento podem funcionar como correspondentes às peças que o sujeito, embora quisesse, jamais escreverá. A fala de Gelnaa concretiza tal analogia. Analogia esta que faz com que o texto, que fala desses projetos não-realizados, possa também significar de algum modo a ação do tempo. A voz do narrador se transforma em eco da fala concreta de Gelnaa, “A acácia grande”. Sua voz faz com que represente essa ação do tempo tanto sobre o texto como sobre as árvores, até porque, como lemos em “Na floresta (1966 e 1970)”, texto e árvore constituem um movimento de convergência 11 . Esse movimento, cuja parte mais visível é a fala de Gelnaa, atinge o narrador e passa a ser visível também, como vimos na citação, somente a partir da personagem, “Plantaremos outra acácia, claro, mas a que foi derrubada deixou mais um pouco de sombra nos olhos de Gelnaa”. No último texto do livro, “A fuga (1961 e 1970)”, narrativa cujo narrador se aproxima da voz que narra outro livro, o último de Carlos de Oliveira, Finisterra. Paisagem e povoamento, o lugar de interlocutora de Gelnaa é, embora tal opere pela negativa, confirmado. O que revela a inevitável solidão que o trabalho de escrita tanto combate como reforça. Repulsa pelos convidados e, a só um tempo, convite para que venham: sabemos, devido a Gelnaa, uma personagem que encontra e não encontra equivalência na vida do autor – ou no texto da vida do autor – deixa de sê-lo exclusivamente. 11 O que só reforça o fato de Gelnaa ser a “mulher-floresta, acolhedora e impercrustável” (p.139). 40 Eles continuam a procurar-me, continuariam até ao fim do mundo se lhes parecesse necessário, e embora ignorem que passei alguns anos aqui hão de descobrir este abrigo. Não revelei a ninguém, nem mesmo a Gelnaa. Fiz apenas o que faz o bicho em perigo, fugi para a toca, sem pensar, num simples reflexo de defesa. Mas sei que vão aparecer como apareceriam onde quer que eu fosse. Arma, faro, matilha, duma abstracção que os torna implacáveis, de tão exterior à consciência individual” (p.189). Não sabemos quem são eles, leitores? poemas?, nem que lugar é esse, memória? texto? Mas isso não importa tanto, o que de fato conta aqui é que são exteriores “à consciência individual”, inclusive Gelnaa, segunda pessoa do discurso que talvez agora comece a ganhar ares de representação de uma alteridade. Como vimos no capítulo sobre a mimesis, um movimento de aproximação e distanc iamento necessário à construção ficcional: “Estou de facto só. Apesar de tu existires, Gelnaa, rejeito em bloco o passado, o presente, o futuro e escrevo as duas palavras, desolação, desilusão, que tanto ponderei. Para quê afinal se hoje não tenho outras?” (Idem) A personagem que passeia pelo livro e faz com que de fato suas árvores constituam uma floresta é a imagem do receptor dos textos de Carlos de Oliveira. A essa imagem, como veremos adiante, sobrepõe a do próprio narrador dos textos, em suas mais variadas modalidades. Nessa primeira pessoa, podemos ver não só uma preocupação com a leitura, como já vimos através de algumas citações do livro em questão, mas a imagem mesma de um leitor. Veremos a seguir que o narrador de O aprendiz de feiticeiro é um leitor. E Gelnaa, anagrama que disfarça algum apelo biográfico, revela tanto a companheira de uma vida como uma companheira dos textos. É o outro do discurso que está sempre presente por mais que a “solidão compacta”, que a escrita convoca, sempre insista. “Estou de facto só”, escreve. Mas, afinal, a literatura não é uma forma de aproximação, uma possibilidade de encontro? A porta sossegou. Afinal o presente, o futuro, interessam-me também. Não os rejeito, Gelnaa. Não rejeito nada. Espero. A solidão compacta desapareceu. Perante as estrelas torna-se difusa, que dizer, suportável. Perde a consistência interior, evola -se de mim (não toda evidentemente), dissolve-se no mundo. Respiro outra vez (p.196). A “consciência individual” perde-se tanto devido a um passado irrecuperável através da memória, como também devido à direção imprecisa que a obra toma no ato da leitura. É aqui que o leitor pode também ser a primeira pessoa do texto e a primeira pessoa do texto também pode ser o leitor. E nisso a poesia de Carlos de Oliveira é muitas vezes exemplar. Seja por meio de uma primeira pessoa cujas características 41 acabam sendo abrangentes, seja por meio de verbos no infinitivo, convites, como é o caso em “Estalactite” de Micropaisagem. A solidão desaparece porque o sujeito é tornado múltiplo. Assim, a paisagem, que o poema é, passa ser povoada, mesmo sendo um povoamento condenado à errância, por esse sujeito expandido pelo ato de leitura do poema. Como diz o trecho citado, sua dissolução no mundo é a única maneira de continuar respirando. Por isso talvez que a última e decisiva fala de Gelnaa no livro faça referência a um “comboio eléctrico”. Brinquedo este que encontramos em outro poeta cuja perseguição, em muitos sentidos, era também o fim dessa “solidão compacta” através de sua dissolução no mundo como forma de permanência 12 . Memória, estrelas. Mesmo nos dias chuvosos ou de névoa. O planetário servia para isso. (Para alguns encontros também). Agradava-me ter à tarde, por antecipação, o céu invisível da noite e ia lá com freqüência. Exactamente como dizia Gelnaa: – O teu brinquedo, o teu comboio eléctrico (p.190). A imagem de estrelas e infância juntas já estavam presentes em “Árvore”, poema de Micropaisagem, sobretudo sua oitava estrofe: “(...) na constelação / exígua / que fulgura / ao canto do quarto: / o baú ponteado / como o céu / por tachas amarelas,/ por estrelas / pregadas na madeira / da árvore” (OLIVEIRA , 1992, p.266). E a imagem da criança percorre toda a obra de Carlos de Oliveira e culmina no desenho infantil de Finisterra, geralmente representando uma tentativa de perseguir o passado irrecuperável. No entanto aqui a menção a “Autopsicografia” de Pessoa deixa ver como o trabalho dessa escrita e dessa leitura, e o tanto que têm de lembrar e de esquecer, aproximação e distanciamento, dizem respeito à noção de um sujeito cuja dispersão aponta para algo de muito potente tanto relacionado à possibilidade de multiplicação, simultaneidade que possibilita o povoamento, como relacionado à necessidade da errância, ocasionada pela experiência da brevidade que é a experiência subjetiva no poema. 12 Última estrofe da “Autopsicografia” de Fernando Pessoa: “E assim nas calhas de roda / Gira, a entreter a razão, / Esse comboio de corda / Que se chama coração” (PESSOA, 1986). 42 3.4. BIOGRAFIA E LEITURA – A PRIMEIRA PESSOA DE ALGUNS TEXTOS Livros vivos, no texto, na presença quotidiana, entre o que se toca, olha, bebe, ama dia a dia. C.O., “Almanaque literário” Antes procuramos mostrar como O aprendiz de feiticeiro é um livro múltiplo, mas que possui uma unidade estruturante muito forte. No entanto tal unidade, não se caracteriza por encaixar todos os seus textos, muito diversos entre si, num padrão único de protocolo de leitura. Essa unidade é formada pelo caráter plural de cada texto, i.e., quando pensamos estar diante de um ensaio, possíveis aspectos da vida cotidiana do autor surgem no texto. Isso acontece de tal modo que também quando estamos diante de textos em que aparentemente o caráter autobiográfico é a tônica, algumas menções a outras leituras introduzem certo tom ficcional que alteram nossa expectativa de leitura. O resultado disso é que tais classificações são importantes apenas para vermos como estas se deslocam durante a leitura do texto. O que nos interessa é notar como estas mudanças podem se dar. Vemos alguns textos em que a autobiografia – trechos de entrevista, por exemplo – exigem do leitor outros protocolos. Assim como também vemos o inverso. Por isso chega a altura de falarmos da importância do termo biografia aqui. Ao utilizarmos tal palavra não estaríamos contradizendo em certa medida uma obra que nunca precisou que seu autor falasse por ela? Autor este que aliás sempre privilegiou uma vida pública silenciosa. Durante a leitura de O aprendiz de feiticeiro em nenhum momento podemos de fato falar de algo realmente autobiográfico, embora a todo o momento o leitor tenha vontade de o fazer. E nisso mais uma vez a presença de Gelnaa é central: ela suscita tanto uma aproximação da vida do autor, quanto um distanciamento. Se quisermos sempre ligarmos Gelnaa a Ângela de Oliveira, embora continuemos com alguns problemas, o protocolo biográfico minimamente talvez se cumpra. No entanto, Gelnaa pode ser uma personagem, como é, e não guardar qualquer relação imediata com alguma pessoa exterior ao livro O aprendiz de feiticeiro. O anagrama seria mais um achado do “inventor de jogos”. Ambos os posicionamentos 43 acima são extremos: o primeiro usa o protocolo exclusivo da autobiografia; o segundo, o exclusivo da ficção. Todos sabemos a importância da memória para a obra de Carlos de Oliveira: como o poema é o resultado de um esforço construtivo para recuperar algo que já se sabe irrecuperável, algo que mesmo se inteiramente recuperável seria presentificação de escassez, dureza e morte. Segue abaixo o célebre trecho em que o autor fala de uma mimetização da paisagem: Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa Senhora das Febres. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma emigração espantosa. Natural portanto que tudo isso me tenha tocado (melhor, tatuado). O lado social e o outro, porque há outro também, das minhas narrativas ou poemas (...) nasceu desse ambiente quase lunar habitado por homens e visto, aqui para nós, com pouca distanciação (p.184). A pergunta é a seguinte: a partir dessa perspectiva não haveria no texto de Carlos de Oliveira um esforço autobiográfico através desse retorno ao passado? Isso parece não ser possível, porque de alguma forma seus textos não permitem tal expectativa nossa. Talvez porque a primeira pessoa no poema, quando há, não se liga imediatamente a uma experiência – inclusive do autor – reconhecível e facilmente verificável; talvez porque esses versos dêem conta de um universo semântico em princípio abstratizante, com suas lentes que dão grandes dimensões a espaços e ações mínimas ao olho humano 13 . Muitas vezes também a já conhecida “consciência oficinal” (GUSMÃO, 1981, p.79) ou o “profissionalismo torturante” (RUBIM , 2003, p.115) desses textos ajudam a distanciá- los de um texto mais discursivo, melhor, que encontra mais facilmente no discurso cotidiano seus referentes sem maior necessidade de trabalho por parte da leitura. Queremos chamar atenção justamente para essa espécie de contradição que está nos poemas e, como vimos no subcapítulo anterior, também em O aprendiz de feiticeiro. Se neste livro a principal responsabilidade disso é de Gelnaa, nos poemas se dá por esse desejo de retorno – a memória que constrói – contraposto ao resultado final: que é o poema na mão do leitor, sendo lido, tomando caminhos incertos, errando de leitura em leitura e assim se afastando daquela vontade de lembrança. Como vimos, para além disso ou mesmo por essa causa, Gelnaa é a interlocutora. Nos poemas tal papel será realizado pela inevitável projeção do poema no ato de leitura, como veremos 13 Por exemplo, o poema “Estalactite”. 44 adiante a partir de “Estalactite”: “A tarefa, o trabalho do escritor (inventor de jogos para outros jogarem) consiste em garantir que a promessa mantenha a sua eficácia de promessa, em abrir uma ‘margem de silêncio’ que deixe lugar ao leitor para escrever o livro que lhe foi prometido” (RUBIM , 2003, p.118). Nesta parte do percurso de O aprendiz de feiticeiro, veremos alguns momentos em que a primeira pessoa dos textos revela-se, mais do que um ensaísta, um leitor apaixonado, sobretudo, pelo objeto livro. Ou seja, percorreremos alguns textos, uns aparentemente não-biográficos, em que possamos entrever alguns hábitos desta primeira pessoa do discurso, que a julgar quais são, podemos dizer que se aproxima do texto da vida de Carlos de Oliveira, autor empírico. Aquilo que em princípio julgávamos não ser necessário saber para lermos sua obra, mas que, a partir do momento que se revela, passa a integrá- la. A parte visível deste iceberg que é sua biografia, i.e., aquilo que é visível, porque interessa que o seja, é sempre a imagem de um Carlos de Oliveira leitor. Quando, quase sempre brevíssimo, o protocolo da biografia é ativado – por mais ficcional que essa biografia também seja, pois se trata afinal também de um texto – o que encontramos é sempre alguém encantado por livros e que valoriza ao extremo o ato de leitura. Ao fim de O aprendiz de feiticeiro, percebemos que o sujeito desses textos, por mais que se aproximem e se afastem do autor empírico, tem como ponto de convergência o interesse pela leitura. Às vezes mais evidente, como quando relata seus encontros com os livros, onde, quando e como: por exemplo, em “À espera de leitores (1959 e 1966)” ou “Manual de jogos (1963)”; às vezes, ao sabor da lembrança, como quando segue errando por versos, frases de autores: é o caso, entre outros, de “A viagem (1970)” e “Na floresta (1966 e 1970)”; ou finalmente quando escolhe sua leitora preferida, Gelnaa, como é o caso do importantíssimo “Janela acesa (1964)”. A partir da proposta do povoamento da paisagem, essa biografia valeria mais que uma autobiografia, na medida em que o poema passa a ser um espaço a ser povoado, um papel a ser desempenhado ou, como vimos, uma potência a ser atualizada. Pois esta vida que se escreve, por mais que criticamente encene tal tentativa, não consegue ou consegue apenas parcialmente – talvez venha daí sua perfeição – o retorno pela memória. Dito isso, podemos pensar de duas formas que podem parecer excludentes, mas não são: 1) o texto não consegue escrever o passado tal qual gostaria de fazê-lo, assim o poema seria o resultado deste “falhanço”, ou seja, porque não consegue, deixa um espaço de entrada para outras biografias; 2) o texto consegue inscrever-se com essa memória na medida em que encena a paisagem da infância, não a 45 descrevendo, mas reproduzindo seus mecanismos estruturais: a escassez, a dureza, a umidade de charcos, o movimento errante e incontrolável das dunas, a doença, enfim, uma sorte de itens que dificultam a fixação do homem na terra, através sobretudo de recursos estilísticos como elipses e outras formas de ambigüidades, apesar do registro muitas vezes denotativo. Com isso, a criação em texto de mecanismos análogos, em correspondência, aos de uma paisagem implica alguns deslocamentos. Vejamos: o transporte das características citadas da paisagem acabou por criar um resultado, digamos, oposto ao dela em relação ao seu povoamento. Enquanto a Gândara real e vivida pelo autor era um convite de fuga e emigração, já “esse ambiente quase lunar”, de que fala no texto, é vivido pelo leitor de outra forma: é como um convite a sua experimentação. Nos dois, no entanto, temos sentidos que dão a ver formas de brevidade, se a Gândara real suscita a emigração, sua recriação literária exige a errância. Visto isso, vamos a “O iceberg (1966)”, conjunto de dois textos dedicados à temática, digamos, da biografia. “Pensando bem não tenho biografia” (p.163), diz numa possível carta a uma estudante que lhe escreve pedindo dados biográficos. Dois pontos lemos nisso: 1) o protocolo parece ser o autobiográfico, pois de algum modo lida com a instância autor; 2) a estudante lhe pede obviamente porque não encontrou biografia alguma, ou seja, o texto já pressupõe certo silêncio do autor. No entanto a estudante o questiona e ele menciona tal fato no texto: o que por si só já mostra sua importância mesmo que pela ausência. Antes que tal silêncio se revele outra coisa, o autor – agora podemos dizer assim – continua: “Melhor, todo o escritor português marginalizado sofre biograficamente do que posso denominar complexo do iceberg: um terço visível, dois terços debaixo de água” (Idem). Esse silêncio é causado por alguma marginalidade, melhor, por contingências políticas do período, em outras palavras, pela censura. “A parte submersa pelas circunstâncias que nos impediram de exprimir o que pensamos, de participar na vida pública, é um peso (quase morto) que dia a dia nos puxa para o fundo” (Idem). O que abre a possibilidade de encararmos também sua obra como essa parte submersa de gelo que pode apenas aparecer através da relação outra, chame-se mimética, chame-se ficcional, da literatura que se dá em relação ao leitor. Por isso também, para além da Gândara, sua obra incorpora mecanismos de silêncio como, entre outras, a elipse. Assim quanto maior o “trabalho oficinal” – “Mesa, papel, caneta, luz eléctrica. E horas sobre horas de paciência, consciência profissional” (p.185) – maior o efeito que esse silêncio pode produzir: “Quanto mais depurada for a proposta (dentro de certos limites, claro está), maior a sua margem de silêncio, maior a sua inesperada carga 46 explosiva ” (p.184). É como se silêncio que a censura lhe impôs – não se trata mais da biografia de um homem, mas da de uma época – fosse incorporado e depois devolvido na mesma medida: “A proposta, a pequena bomba de relógio, é entregue ao leitor. Se a explosão se der ouve-se melhor no silêncio” (Idem). Tais mecanismos de sentido e silêncio que o leitor – e ele precisa ser ativo, claro está – atualiza são criados a partir de uma forma de instância biográfica: “a linha de flutuação vai subindo e a parte que se vê diminui proporcionalmente”. Sua poesia justamente por se inscrever em negativa a uma biografia, através da vontade de silêncio, confirma a escrita dessa vida: “Esta acumulação de dados negativos transformou-nos a existência naquilo que os franceses gostam de chamar a travessia do deserto (aqui solitária, mas solidária, compreende?)” (p.164). A imagem do deserto, da secura, sabemos, é muito cara à poesia de Carlos de Oliveira, imagem comparada a de uma biografia. Não bastasse isso, acaba por criar uma filiação já vista: “A parte submersa do iceberg cada vez maior, faz-se também do que não houve em cima, suporta o peso dos acontecimentos por acontecer, como diria (talvez) Fernando Pessoa” (p.165). Ou seja, suporta o peso do que ainda pode acontecer, imprevisível, como o rumo incerto do poema que, como sabemos, “no seu perfil / incerto / e caligráfico, / já sonha outra forma” (O LIVEIRA , 1992, p.223). Mas voltemos à parte visível do iceberg, pelo menos aquela que podemos ver em O aprendiz de feiticeiro. Sempre numa zona de intercessão entre o ensaio, a ficção e a crônica, há momentos em que podemos identificá- la mais rapidamente, como é o caso da entrevista dada a Maria Teresa Horta e transformada no texto “Micropaisagem (1969)” em que vemos apenas as respostas rearranjadas e numeradas. Aqui o sujeito fala da importância da memória, sua terra de origem. É um dos momentos mais explícitos de Carlos de Oliveira ao falar de sua obra: “A paisagem da infância que não é nenhum paraíso perdido mas a pobreza, a nudez, a carênc ia de quase tudo. Desses elementos se sustenta bastante toda a escrita de que sou capaz, uma vezes explícitos, muitas outras apenas sugeridos na brevidade dos textos” (p.186). Fala ainda sobre o então último livro, Micropaisagem : “não é um desses livros súbitos em que fala Eda Olivier 14 ” (p.183); e de possíveis influências: “«J’imite. Tout le monde imite, tout le monde ne le dit pas» (Aragon). Porém os poetas nestas coisas não devem ser tomados muito à letra. Quem não sabe que o poeta é um fingidor?” (p.185) Ao responder uma pergunta sobre influência, ele ironicamente se vale de citações, Aragon e de novo Pessoa. 14 Eda Olivier é outro anagrama criado pelo “inventor de jogos”: de Oliveira. 47 Outro texto em que o autor pode aparecer é “A dádiva suprema (1956 e 1958)”. Trate-se de uma aparição quase física, textual, pois tudo se dá através de citações, que faz de Afonso Duarte: “Certo dia de outubro, ao entardecer, Gelnaa e eu descemos do carro e fomos surpreende- lo na adega, em mangas de camisa, sem a bengala das calçadas escorregadias da cidade, debruçado sobre as dornas” (p.14). Antes desse trecho tão narrativo, encontramos outro um pouco menos: “«O prédio onde resido é de aluguer: Velhas salas de tecto apainelado». Assim descreveu Afonso Duarte a sua casa de Coimbra num dos sonetos sobre a morte da rola. O prédio vai agora meter obras e o poeta já lá não vive” (p.13). Na segunda parte do texto, mais uma vez o autor fala da importância da paisagem de sua infância para o desenvolvimento de sua escrita, dizendo por ocasião da morte de Duarte, que de certa forma os textos mimetizam uma realidade. Sem dúvida, um ponto alto do livro: Escrever é lavrar, penso comigo, olhando esta Ereira onde se fecha hoje o círculo que o seu cantor traçou com a própria vida. E lavrar, numa terra de camponeses e escritores abandonados, quer dizer sacrifício, penitência, alma de ferro. Xistos, areais, cobertos de flores, de frutas, se a chuva deixar, o sol quiser, o tempo não reduzir as sementes e o coração a cinza. Tanta colheita perdida na literatura e eu que o diga nesta linguagem de vocábulos como enxadas, na voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios, que os cavadores e os mendigos me ensinaram, lá para trás, no alvor da infância: um pouco de frio e neblina coalhada, sons ásperos, animais feridos. Agora, pouco importa. Caminho entre o povo, atrás do caixão de Afonso Duarte, o extraordinário gravador de lápides rústicas, e sinto que nem todas as colheitas se perdem, que as coisas se compensam umas às outras no seu obscuro equilíbrio natural (p.15-16). A idéia de que o texto pode reproduzir alguns mecanismos da paisagem é uma ocorrência em O aprendiz de feiticeiro. Por isso, escrever é como lavrar, cria um espaço a ser ocupado: o que proporciona algo entre uma “colheita perdida”, nome também do terceiro livro de poemas do autor, e uma outra ainda, quem sabe, a se perder num “obscuro equilíbrio natural”, parecido com aquele “filtro mágico das palavras” (p.41) que vimos com a tempestade de neve em “O inquilino (1966)”. Também aqui vemos essa “voz lenta, difícil, lenta, difícil, entrecortadas de silêncios” aprendida com os camponeses em que vemos o mesmo silêncio necessário para que o leitor ouça a explosão que ativa no texto (p.184). No entanto, julgamos que o protocolo da biografia ajuda mais quando identificado à posição de leitor que o autor ocupa no livro. Pois é a partir dessa freqüente recorrência que podemos perceber como é importante para os textos de Carlos 48 de Oliveira, principalmente para os poemas, o ato de recepção, forma de atualização da potência que é o texto, possibilidade de relação mimética entre obra e realidade, texto e referência. No livro, esse narrador que se mostra como leitor aparece muitas vezes. Primeiro dois exemplos mais rápidos – rápidos, porque o leitor se revela em um pequeno trecho apenas – mas não menos importantes. Em “Imagem turva (1947)”, pequeno comentário sobre a série de romances que formam a “Patologia Social”. Lemos: “Abel Botelho é uma fraca compleição de escritor. Empasta a linguagem com freqüência, torna a leitura custosa. Justificações estritamente biológicas, outras limitações naturalistas. Contudo, o inventário deste ciclo ganha aqui e ali o fulgor da compreensão social” (p.27). O autor escolhe Botelho, porque implicitamente o que está em jogo é o próprio Carlos de Oliveira. Um está para o naturalismo, assim como o outro poderia estar para o neo-realismo. No entanto, o autor de Casa na duna não cometeria o mesmo erro que o autor da Patologia Social: “Abel Botelho cingiu-se demasiado à sua própria escola, radicalizou-a” (p.28). Para agora, porém, talvez o mais interessant e nesse texto seja seu início. Identificamos a voz como aquela que analisa um outro texto e, a princípio, não deixa espaço para outros planos do discurso. No entanto, o texto começa assim: “Fechei há pouco o último volume da ‘Patologia Social’. Com a noite lá fora, adiantada, morna, e a cidade num grande silêncio” (idem). Ou seja, antes de analisar a obra, ele faz questão de se colocar como leitor empírico do livro, do objeto livro, integrando isso de alguma forma às suas ações diárias com “a noite lá fora”. A leitura é mais uma de suas atividades: Virada a última página desta série de romances não encontro em verdade nada que de momento me possa melhor concretizar a ideia final e ainda turva da leitura que a noite quente, surgida de súbito, sem quê nem para quê, sobre dias inteiros de frias chuvadas (p.27). Chamamos a atenção para o fato do ensaísta colocar-se antes como leitor que todos somos: “Fechei há pouco o último volume da «Patologia Social»”. E integra a leitura que faz do texto ao texto de seus dias: “Com a noite lá fora, adiantada, morna, e a cidade num grande silêncio”. E assim segue por todo esse primeiro parágrafo, integrando a leitura que fará por escrito aos dias de seu “mundo comum”: (...) sobre dias inteiros de frias chuvadas. Preciso quase sempre de imagens e, embora me digam que é um hábito grosseiro em escritos destes, não desisto de ligar tudo o que penso ao mundo comum, quotidiano: os objectos, a paisagem, os homens. A chuva encharcou os 49 campos e agora, às mãos do calor nocturno, extemporâneo, os pequenos pântanos, os poços, os afundamentos, evaporam já em cheiro discreto mas nítido de terra que apodrece e fermenta (Idem). Ao mesmo tempo que se coloca, deixa que o texto de Botelho, que criticará ainda, agir sobre a primeira pessoa do texto. Vemos acima isso acontecer: “evaporam já em cheiro discreto mas nítido de terra que apodrece e fermenta”. É o próprio ato de leitura sendo assimilado pelo leitor, o texto integrando-se ao sujeito que lê. Somente depois disso pode começar, através da já ameaçada imparcialidade de um texto de crítica, a trocar o protocolo: “Abel Botelho é uma fraca compleição de escritor” (Idem). E segue em frente pela resenha, como se nada acontecera. Outro texto em que encontramos algo parecido é em “À espera de leitores (1959 e 1966)”. Nele, como indicam as datas de produção há duas partes; a primeira é dedicada ao «Maria Adelaide» de Teixeira-Gomes e a segunda à questão: “Porque não se lê Irene Lisboa?”. O que mais nos interessa e mais faz jus ao seu interessante título está na primeira parte e, como no texto anterior, logo no início. Antes porém de citá- lo, gostaríamos de nos certificar se o texto, antes de seu começo, segue de fato o modelo de uma resenha: “Há duas epígrafes na portada de «Maria Adelaide» e uma delas, de Paul Bourget, diz que «um romance não deve ser bem escrito». Cuidadoso escritor que foi Teixeira-Gomes semelhante aviso põe-nos de pé atrás. E com razão” (p.151). O texto transcorre assim até o fim. Nele, como no outro sobre Abel Botelho, Carlos de Oliveira estabelece uma relação com o escritor: ela será, como já se pode perceber, a do cuidado e trabalho com a linguagem para se chegar a um texto, nas palavras do autor de O aprendiz de feiticeiro, “muito despojado” (p.185), análogo, como se vê abaixo, ao romance de Teixeira-Gomes, aquele que a princípio “não deve ser bem escrito”: Não creio, apesar da citação de Paul Bourget e da mediana cultura de Ramiro d’Ager, que um artista como Texeira-Gomes considerasse escrever mal o que era pelo contrário escrever ainda melhor. Quereria talvez sugerir que a narrativa, a «história», exigia uma maneira mais direta, mais concisa e nua. Uma escrita que se prestasse menos soa grandes fulgores da palavra (p.152). Antes ainda escreve sobre o «Maria Adelaide» algo que muitos já escreveram sobre o Trabalho poético e seus romances: “A escrita atinge nestas páginas breves uma decantação verbal que as transforma na obra-prima de Teixeira-Gomes. Decantação verbal” (Idem). Ou seja, a autor acaba perseguindo em outros textos aquilo que mais 50 pode interessar para o seu. Mas, como dissemos, o que mais nos interessa nesse texto é seu início em que podemos ver o sujeito – agora mais do que nunca um leitor – encontrando-se com o livro que irá comentar: Aqui há anos encontrei um exemplar de «Maria Adelaide», de Texeira-Gomes, num estande da Feira do Livro: – Quanto é? – Leve-o, faz-se-lhe um preço de amigo. (Idem) Não bastasse a encenação da compra do livro naquilo que seria um comentário ou resenha do mesmo, o leitor conta a sua história em relação ao livro de TeixeiraGomes; feito isso, cria uma relação – mais do que com o livro – com seu exemplar: detalhes da edição e afins. Se nos é dado conhecer alguma coisa da vida de Carlos de Oliveira, por mais ficcional que isso também o seja, o que conhecemos, para além de seus posicionamentos em relação a sua obra, ou melhor, não o que conhecemos, mas o que vemos, é um leitor que faz imensa questão de dar a ver seus livros, não os que escreveu, mas os que frequentemente lê: Eu conhecia a novela duma leitura de empréstimo e desde então procurara-a com afinco por livreiros e alfarrabistas. Quando me achei finalmente cara a cara com a tentação (uma dessas sóbrias edições em elzevir 10 entrelinhado que saíam da tipografia da “Seara Nova”, à calçada do Tijolo), não resisti. Disse que sim. Mas a factura ensinou-me logo depois como os preços “de amigo” podem desolar ainda mais uma carteira já tão árida. (Idem) Para continuarmos com as mesmas questões – paginação, tipografia, etc. –, desloquemo- nos até “Almanaque literário (1949-1969)”, conjunto que reúne os mais diversos textos e, como diz as datas, num recorte de tempo tão extenso quanto o do próprio livro. De algum modo, esse almanaque, em sua diversidade, é uma amostra do próprio O aprendiz de feiticeiro, já que há diversos textos reunidos num só. Em sua décima primeira parte, a penúltima, lemos uma espécie de confissão do autor-narrador pelo fascínio que tem pelos livros, objetos, como indissociáveis dos textos que transportam: O livro-objecto. Há espíritos superiores que ficam insensíveis diante dele. O livro é o que lá está dentro e, uma vez que se leia com comodidade, importam pouco. Não sou um espírito superior mas se fosse creio que nada me afastaria do pecado quase sensual de olhar, tocar, folhear uma bela edição (p.71). Se o podemos, o momento a que conseguimos chegar mais próximo do autor, apesar de todos os protocolos e de seus frágeis pactos autobiográficos, é no momento em que Carlos de Oliveira fala de sua experiência com o livro, que, como se pode 51 perceber no trecho acima, é análoga à experiência de contato com um corpo a que se deseja. Mais uma vez compra o livro e descreve não o que se passa em suas páginas, mas os pormenores do exemplar: Ontem estive-me nas tintas e comprei uma nova edição das “Cartas” de Flaubert. Le texte a été composé en caractères garamond, corps 10, et le tirage executé sur papier blanc sans bois. La reliure (imitação de pele, melhor, uma estilização da sua textura, manchas, tons, nervuras) est due aux soins de la maison Elbinger. Na capa, apenas o fac-símile da assinatura do escritor, um sulco sinuoso, verde musgo, ao alto, sobre a esquerda. Lá dentro, aqui e ali, os velhos impressores, recuperados com bom gosto (Idem). Ora, o trecho acima não deixa dúvida de que tipo de escritor é Carlos de Oliveira, aquele que, como todo leitor apaixonado, valoriza ao máximo o livro, não dissociando o objeto do que vem nele. É por isso que antes de falar sobre os textos muitas vezes ele faz referência não só ao seu exemplar, mas como o adquiriu (como já vimos, frequentemente reclama dos preços). O exemplo de Flaubert no entanto atinge um nível ainda não visto aqui, pois Carlos de Oliveira lerá não o livro-texto, mas o “livro-objecto”, como o disse há pouco: mostra do poder que o leitor tem quando detentor de um livro em mãos. Vejamos seu trabalho de leitura: Viro e reviro as “Cartas” na vaga impressão de conhecer alguma coisa parecida com um pormenor deste arranjo gráfico. Que será? Torno a olhar a capa, a assinatura. De súbito sinto o declique duma lembrança submersa, puxo-a pelos cabelos e aí está ela. Corro à estante desarrumada, procuro na confusão de títulos e línguas, não encontro, procuro outra vez e, como a biblioteca-babilónia apesar de tudo de pode conferir (de lombada) em pouco tempo, acabo por achar. Dois volumes de péssima oficina, péssimo papel, péssima encadernação, péssimo tudo, à parte o romance que resiste lá dentro ao meia -bola-e-força editorial: “Os Maias” (...). Na capa, a única (e mesmo assim falhada) graça do conjunto: ao alto (demasiado ao alto), sobre a esquerda, o facsímile da assinatura do autor (p.72). Antes de vermos o final da leitura que se segue, seria interessante prestar atenção ao conjunto de traços mencionados pelo narrador que, de algum modo, diz muito da obra de Carlos de Oliveira. A saber: 1) a questão da memória como lugar frágil: “De súbito sinto o declique duma lembrança submersa, puxo-a pelos cabelos e aí está ela”; 2) crítica, mesmo que indireta, à sociedade portuguesa através das cond ições, “péssima oficina”15 em que lhe foram apresentado Os Maias (basta compararmos a 15 A palavra ‘oficina’ está relacionada à palavra ‘trabalho’, termo este muito valorizado pelo autor. Aliás, a tradução italiana para o volume Trabalho poético chama-se Officina poética (Ed. Accademia, Milano, 1975). 52 descrição que fez das Cartas de Flaubert); 3) a importância e a minúcia com que chega à assinatura, valorização das letras que vê, entre outros lugares, no “perfil incerto / e caligráfico” do poema “Lavosier”. Para além, é claro, da citação a Borges, talvez o grande modelo de leitor-autor. A letra de Eça de Queiroz é talvez mais nítida. Mas não quero falar de semelhanças caligráficas. Não há. Quero dizer que as duas assinaturas se aparentam em algo de amplamente formal a ressaltar do seu recorte, do seu desenho tomado no conjunto. Alguns pormenores, já se vê, embora de pouco importância: a breve e única interrupção entre o l e o a em Flaubert; o traço que sublinha o todo com uma volta final para a direita em Eça, volta que não existe em Flaubert; e as inevitáveis diferenças dos nomes diversos, aliás perturbando um pouco o “vulto” similar das assinaturas, até porque o automatismo, o carácter de chancela, de quase-carimbo, que as caracteriza, elide inúmeros detalhes da escrita normal (Idem). Através de uma justaposição que só o leitor pode realizar, o narrador funde as assinaturas de Eça e Flaubert, não a partir dos textos, como se esperaria de um ensaio que compare os dois romancistas, mas a partir do desenho caligráfico das assinaturas, estilizadas, impressas nas capas dos respectivos livros. É claro que por trás disso pode estar em jogo a relação muitas vezes de semelhança entre o autor de Primo Basílio e o autor de Madame Bovary, mas o efeito mais sentido talvez seja o de dar a ver que estamos de fato diante menos de duas pessoas, Flaubert e Eça, do que de dois objetos literalmente manipuláveis, dois livros: Os Maias e Cartas. Movimento de leitura que se utiliza de algum modo da biografia – afinal os dois livros estavam na estante do autor – para torná- la relativa depois da impessoalização que o texto exige, depois de publicado o livro. Utiliza o que há de mais pessoal em um texto, mais do que a assinatura, a caligrafia dessa assinatura; talvez o que de mais corporal haja num texto. Assim, acaba confirmando aquilo que já dissera no início deste mesmo texto quando se referia ao “pecado quase sensual de olhar, tocar, folhear uma bela edição”, menos pelo sensual e mais pelo que nesse sensual pressupõe um corpo. O resto, a inclinação da letra, a linha contínua (exceptuando o corte já assinalado), a abreviatura dos dois primeiros nomes colocada num plano ligeiramente superior, o encadeamento para os apelidos, o correr da mão, enfim, o arranjo global, o perfil destes signos pessoais, é perturbadoramente parecido. (72-73, grifos nossos) Ainda em “Almanaque literário”, voltando ao terceiro trecho, podemos de novo encontrar essa espécie de leitor empírico que Carlos de Oliveira deixa entrever. “Acabou a Feira do Livro com resultados práticos assim assim, nem muito de esfregar as mãos nem muito deprimentes” (p.55). A propósito de sua visita à feira, o leitor 53 começa por dar impressões da sociedade portuguesa a partir, como vimos há pouco, do objeto livro: “No entanto as edições de luxo (na sua maioria, de mau gosto) encontram bastante saída. Servem sobretudo para pôr nas salas provincianas, em cima das mesas de pé de galo (...)” (Idem). E continua sua crítica: “À parte as péssimas edições de luxo, produtos pequeno-burgueses do prelo, e dois ou três autores consagrados, a venda das obras portuguesas é difícil” (Idem). A partir disso, o autor desenvolve seus comentários, passa pela acusação da “mediocridade” nacional (p.56) e chega até a descrença na cultura que contaminou grande parte dos leitores portugueses (p.57). Ou seja, consegue a partir do livro-objeto, a partir de sua leitura em muitas direções, criticar alguns mecanismos de embrutecimento social em Portugal. Vale notarmos inclusive como menciona – e assim que o faz o integra – o título de seu livro, Pequenos burgueses, romance de forte cunho social, aliás como todos que publicou. No entanto, não demora muito e retorna às suas experiências especificas, as de um visitante de uma feira de livros. “Voltemos à Feira do Livro” (Idem). E então seguem algumas aquisições que aqui interessam menos pelos autores que representam do que pela raridade dos exemplares. “O «Mefistófeles em Lisboa», de Gomes Leal, tiragem única e rara, deve considerar-se de facto uma pechincha por vinte e cinco escudos” (Idem). Poucas vezes podemos ver a escrita de Carlos de Oliveira assim tão imediata, em que aparentemente não há filtros entre representação e realidade. Se o texto permanecesse apenas como publicação esporádica num jornal, como o foi uma vez, não utilizaríamos a expressão ‘aparentemente’, mas como autor o introduziu em sua obra, colocando-o em O aprendiz de feiticeiro, acabou por submetê- lo também – pois há outros, como sabem – ao estatuto da ficção. Seguimos com outros exemplares: “o «Anatômico Jocoso» (Biblioteca Universal Antiga e Moderna, 1899), obra dos fins do século XVIII (?), atribuída ao Dr. Pantaleão d’Escaria e a Frei Lucas de Santa Catarina” (Idem). E assim segue por alguns outros exemplares até que volta, a partir ainda dos livros, a falar da repercussão social da literatura, aqui a poesia, na sociedade portuguesa: “A poesia, não obstante vivermos numa terra de poetas, quem sabe se por isso mesmo, contenta-se com que eles se presenteiem reciprocamente os livros e se leiam uns aos outros” (p.59). Poucas vezes um comentário sobre o mercado de livros de poesia terá sido mais verdadeiro. Ainda há em “Almanaque literário (1949-1969)” outros momentos de destaque à figura do leitor, se bem que num registro diferente. Na conclusão de nosso trabalho, voltaremos a esse texto. 54 Ao continuar nossa busca por aque le que seria um protocolo em que haveria mais transparência em relação ao autor Carlos de Oliveira – por exemplo, quando se coloca como um apaixonado pelo objeto livro – chegamos ao curiosíssimo texto “Manual de Jogos (1963)”. Momento máximo em O aprendiz de feiticeiro em que vemos o narrador inteiramente dedicado a um exemplar de um livro: Este “Manual de jogos”, que traz como subtítulo “jogos de cartas, jogos de sala, jogos de prenda e jogos diversos”, de autor desconhecido, impresso nos fins do século XIX em Lisboa pela Casa Torreira & Filhos, é um volume grosso, cartonado a vermelho, com gravuras características da época, que têm aliás pouco a ver com o texto: apontamentos bucólicos, dentro de cercaduras ou grinaldas de hera, folhas, flores, o costume de então. Tipo redondo, corpo 12. Bom trabalho de prelo, tintagem uniforme e sem repassar o papel fino, bastante calandrado (p.19). A citação foi grande mas necessária. Vemos aí todo o cuidado de descrever os pormenores do exemplar. Um livro como esse interessaria muito ao inventor de jogos. Sabemos o ano, a editora, a cor da capa, tamanho da tipologia e até o desencontro que há entre os motivos floridos das ilustrações e o texto. Apesar de ser um livro raro, qualquer exemplar poderia ser descrito assim. Por isso, o autor agora se apossa mais do livro quando introduz as características e histórias do seu livro: O meu exemplar (primeira edição, hoje rara) descobri-o em Coimbra, por acaso, durante o despejo dum armazém de alfarrabista pobre. Não está mal conservado apesar de duas manchas amarelas de humidade no segundo terço do livro e um túnel de traça, ainda incipiente, que eu próprio limpei e desinfectei, assim como meti cola nova na lombada, esta sem dúvida em mau estado: a tela interior no fio, o papel de fora a esfarelar-se (p.20). Não temos dúvida, este exemplar é de fato do autor. Desde como o conseguiu até o esforço para salvá- lo das traças, da umidade e de seu péssimo estado de conservação. Porém há algo ainda sobre sua aquisição que não sabemos, algo muito importante para vermos como tem destaque em O aprendiz de feiticeiro a figura do leitor, importante para vermos como o trabalho da leitura demanda um posicionamento ativo de que quem o realiza 16 . Insistimos, não há dúvida de que quem fala aqui nunca 16 “Importa finalmente sublinhar que a poesia em movimento e sobre o movimento, que é a de Carlos de Oliveira, não se apresenta apenas como o fruto de um trabalho – um objecto em que esse trabalho se imobilizou definitivamente. Esse trabalho que a produz transforma-se, é certo, nela, em trabalho cristalizado (no objecto na página, o poema, com o seu número definido de frases, versos, palavras, com a sua organização estrófica, sintática, morfológica, lexical, fonológica), mas também o trabalho em 55 esteve tão próximo de ser, pela cumplicidade com que o faz, Carlos de Oliveira. O exemplar se torna cada vez mais dele: “O ante-rosto tem um carimbo azul do «Club Recreio Musical, 1887, Corgos», com a legenda circular em torno duma lira e, a cercar tudo, a indispensável grinalda, agora de louros” (p.20). A cumplicidade biográfica aumenta ainda mais quando a primeira pessoa, narrador, autor e leitor resolve dizer-nos que o livro já pertenceu a outros leitores. À lápis, ao lado do carimbo, a seguinte nota (com toda a certeza redigida apressadamente avaliando pela letra irregular, fugidia): «Ayres, tirei o livro do club mas descansa ninguém deu por nada, vê lá tu do que sou capaz por ti, escreveu-me a livraria, já não há em Lisboa, e eu não quero que te falte um coisa em que pões tanto empenho, é um segredo entre nós e uma prova de amor, guarda-o ambos bem, o segredo e o amor da tua Lydia» (21) Não há melhor forma de demonstrar o amor pelos livros do que presenteando alguém, de quem também gostamos, com eles: os livros. Roubar um livro por amor. Essa dedicatória – nela o autor está ausente – consegue de algum modo ser metonímia da relação sujeito- livros que atravessa todo O aprendiz de feiticeiro. E tudo isso estando ainda sob o protocolo biográfico, pois afinal o livro pertence a sua biblioteca. Não há dúvida de que de fato a folha de rosto possa ter essa dedicatória. Não pude averiguar quem foram Ayres e Lydia. Em todo o caso prestolhe homenagem a ela, que roubou por amor o “Manual” do club, correndo perigos de pôr cabelos em pé só para satisfazer o desejo ou o capricho de Ayres que nem sequer se deu ao trabalho de pegar num borracha e apagar a mensagem comprometedora (Idem). O momento é tão importante que antes de começar a ler, como faz com os demais livros aqui, o autor resolve investigar, quase como num romance policial, quem foram os amantes. Ao fazer isso, de alguma forma, ele realiza também o desejo de conhecer seus próprios leitores, porque como veremos no seguinte capítulo, a poesia de Carlos de Oliveira tem um forte potencial para projetar-se, i.e., para transformar-se no ato de leitura, integrar-se ao mundo do leitor, floresta onde quem a percorre traça suas veredas, paisagem a ser povoada. De algum modo ao investigar quem foram os amantes está tentando, inútil porém lucidamente, identificar com alguma precisão o leitor real. Que interesse seria o dele pelo “Manual”? Como disse, não encontrei nenhum elemento concreto sobre o par nas minhas investigações em Corgos, mas o dever de um estudioso quando os elementos faltam é erguer hipóteses. Não? De qualquer modo sugiro uma: a vontade de ser movimento pela leitura, em trabalho latente de sentido que provoca e exige o trabalho oficinal, rigoroso e apaixonado ética e ideologicamente, da leitura pelo qual aquele se continua.” (GUSMÃO, 1981, pg.86) 56 proprietário do “Manual” estava relacionada em Ayres sobretudo com os jogos de cartas, codificados e explicados na primeira parte do livro. Ou eu me engano ou Lydia conhecia -o mal (Idem). O autor de “Manual de jogos (1963)”, pois o texto de O aprendiz de feiticeiro também se chama assim, levanta hipóteses para a biografia Ayres, o dono anterior do livro chamado «Manual de jogos», publicado “nos fins do século XIX”, como nos deixou saber o narrador, o novo dono do livro. Se me permitem outro palpite, aí vai: era caixeiro. Por essa época não há um único Ayres no rol dos funcionários públicos, dos proprietários, dos comerciantes estabelecidos, das grandes crianças nascida na paróquia desde 1837, quer dizer, cinqüenta anos antes do roubo de Lydia. Caixeiro vindo de fora, é o mais provável, um tipo que fazia mão baixa na gaveta da loja para perder tudo à noite numa taberna mal alumiada. Ora o Ayres queria ganhar e nisso, que diabo, tinha razão. Daí a necessidade do «Manual», dum prévio trabalho teórico. (p.22). De fato parece que o autor conhece melhor Ayres que sua própria amante, Lydia, tamanho é seu afinco em conhecer o leitor do «Manual», que por analogia também é o “Manual” e que agora por metonímia são todos os textos de Carlos de Oliveira. Como se assim – sabendo da vida do leitor – pudesse dar conta do encontro entre seu texto e este leitor, melhor, dar conta das atualizações realizadas na potência que é a obra. No meio das hipóteses, palpites e desconfianças em que posso envolver este homem (este perigo público e familiar) uma certeza, a única: escapou sabe-se lá como ao castigo. Que triste justiça. Não achei de facto nenhum Ayres entre os indivíduos então julgados e condenados no tribunal de Corgos. Com desgosto o digo. (Idem) O crime é não saber quais as direções tomam nosso texto. Através de sua suposta biografia e a invenção da biografia dos outros, quem ganha destaque é a vida, não a do autor nem propriamente a vida dos leitores – porque parafraseando o próprio Carlos de Oliveira, “Quem não sabe ainda que o poeta é um fingidor?” (p.185) – mas a vida que nasce no encontro entre texto e leitor, a vida da leitura. Combinação daquelas forças de que fala Robert Scholes: “Aquilo a que dei o nome de movimento para trás e para frente e depois de impulsos centrípeto e centrífugo representa as forças diferenciais que accionam o processo de leitura” (S CHOLES , 1991, p.24). Processo de alguma forma semelhante já ao mecanismo mimético, desenvolvido principalmente por Aristóteles, de atualização de algo que é potencial na medida em que trabalha com algo dado – não 57 pode fugir dele – e o presentifica de acordo com as experiências – inclusive de leituras – que trazemos conosco, i.e., nossa biografia. Para terminar este momento de nosso trabalho, vale abrir um pequeno parêntesis no texto e acrescentar alguns dados específicos e importantes para o trabalho sempre delicado que envolve o termo ‘biografia’. Em momento algum quisemos de fato encontrar a biografia de Carlos de Oliveira em O aprendiz de feiticeiro. Nosso trabalho foi o de mostrar como ele se utilizou desse recurso, aquele que parece exigir a verdade do texto, para tornar mais efetivo, por mais mimética e fictícia que seja a referência ao real em sua poesia, como veremos em breve. Não houve inocência de acreditar fielmente no protocolo da autobiografia, ou seja, vermos da forma mais transparente possível Carlos de Oliveira em seu texto, por mais que ao fim e ao cabo seja esse de fato o projeto, mas, é claro, não de forma transparente. Fomos, melhor, fui 17 de fato à casa de Ângela de Oliveira, viúva do escritor. Além de me dizer que a cidade de Corgos em verdade aponta para o referente real que é a cidade de Cantanhede, disse-me que o «Manual de jogos» de fato existe, embora não tenha em sua folha de rosto nenhuma dedicatória que envolva “Ayres” nem “Lydia”. O que de modo algum pode invalidar o estatuto autobiográfico do texto, estatuto que envolve menos a verificabilidade dos fatos do que um acordo, uma aposta feita entre texto e leitor. O que só mostra como esse narrador sabia manipular e ser manipulado por seus textos. Enfim, para fechar esse parêntesis, Paul Valéry que diz o seguinte: “aquele que pensa reconstituir um autor a partir da sua obra acaba por fabricar um personagem imaginário” (VALÉRY, 1994, p.19). Sem virar a página deste mesmo livro, ainda podemos ler: “Retirar-se da literatura para retornar a esta”. Parece que sim. 17 Mudança exigida pelo caráter da informação que se segue. 58 3.5. SUJEITO E LEITURA – O NARRADOR DE “A VIAGEM” Vejamos como essas referências à leitura podem se dar em um plano distinto do que foi visto até agora. Voltemos ao início que também é o fim. Início porque é o primeiro do livro; fim, porque foi um dos últimos a ser escrito para O aprendiz de feiticeiro. “A viagem (1970)”, uma pequena narrativa, é, como dissemos, o texto de abertura do livro. Nele o narrador, em primeira pessoa, está viajando dentro do carro com uma acompanhante, que logo é nomeada: Gelnaa 18 . Nesse percurso, o narrador pronuncia em voz alta – Gelnaa está dormindo – o verso em latim de Adriano: “Animula vagula blandula”. Diz em voz alta como que fazendo justiça ao nome do livro, funciona como uma espécie de abracadabra. Para isso, citamos as palavras de Rosa Maria Martelo, palavras que confirmam o que anteriormente vimos acerca da biografia e antecipam nossos próximos passos: Curta narrativa de datação imediatamente anterior à publicação da obra, “A viagem”, cujo incipit é a forma verbal performativa “Digo”, num contexto frásico conotado com o domínio da magia ou da feitiçaria (“Digo as palavras em voz alta”), introduz o sujeito de enunciação privilegiando como função actancial a acção de dizer, sugerindo, assim, que não é a escrita que se aproxima da vida, como deverá acontecer na biografia, mas a vida, em sentido mais amplo, que se precipita (e se constitui) nas palavras ditas e escritas. (MARTELO , 1998, p.142) O texto a partir daqui, embora o narrador continue dirigindo o carro e Gelnaa continue dormindo, se transforma numa espécie de preenchimento do verso citado e acaba, sem grande mudança de tom, tornando-se um texto próximo ao de uma crônica: 18 Não tivemos tempo de falar ainda que a palavra ‘Gelnaa’ está muito próxima também de Geena, palavra presente em O livro do esplendor (Zohar) e que designa o lugar para aonde vão os pecadores. Zohar é um livro da mística judaica, publicado no século XII, um dos mais importantes para o conhecimento da cabala. Essa menção pode parecer despropositada, porém pode deixar de sê-la, visto que, ainda que de forma rápida, em O aprendiz feiticeiro o termo ‘cabala’ aparece duas vezes. A primeira em “O grão de areia (1945)”: “A princípio a morte de Jeeter custou-me, mas acabei por dar razão a Caldwell. Já nessa altura era impossível arrancá-lo à obsessão e aceitei o que parecia escrito nalgum livro de cabala aferrolhado por certo nos cofres de Augusta” (p.50). A segunda em “O iceberg (1966)”: “Podia falar agora de pitagorismo, curvas esotéricas, cabala, mil coisas parecidas. Mas não” (p.171). Para além disso, a prática do anagrama, como na cabala, está ligada a uma relação entre letra e número. Essa é uma questão a ser desenvolvida: uma relação entre o nome da criptógrafa e principal leitora com o nome do lugar para aonde vão os deserdados na tradição hebraica é curiosa. 59 “Não sei onde descobri o verso. Mas depois, ao acaso das leituras, fui-o reencontrando aqui e ali com o mesmo sobressalto” (p.8). Nesse instante o autor parte para um levantamento – de memória, pois afinal ele está dirigindo um carro – das diversas ocorrências do verso. Com a liberdade de leitor, ele vai de Aquilino Ribeiro até Marguerite Yourcenar, passando pelo Camões de “Alma minha gentil que te partiste”, pois segundo o Jorge de Sena de “Peregrinatio ad loca infecta”, esse verso de Camões se constituiria como variação do tal verso, primeiramente aqui lembrado através de Adriano. Antes porém desse pequeno périplo, o narrador, ao justificar seu interesse momentâneo pelo verso, deixa-nos ver como a ação da leitura, interna e lentamente, repercute e reverbera em si. O que acaba nos mostrando como essa viagem é, mais do que apenas desencadeada, movida pela apropriação do texto pelo leitor e pelas conseqüentes relações criadas a partir dessa leitura. Temos, por isso, tanto a viagem do narrador e Gelnaa em seu automóvel – “Carrego o pé no acelerador” (p.10) –, como a viagem feita através dos termos: “Animula vagula bandula”: Porque se trata dum mistério: a perturbação que estas palavras me provocam desde que as li a primeira vez e a freqüência inesperada com que as lembro ou digo involuntariamente, sobretudo naqueles instantes em que me visita, o quê? (p.8) O que retorna e o visita não será nada mais do que sua própria experiência subjetiva de narrador. Ou seja, o que lhe ocorre e o que desencadeia nele a ação dessas palavras quase má gicas a esta altura – espécie de mantra – é seu próprio modo de estar no mundo. O que nele age e perturba é sua própria consciência das coisas, a consciência de seu lugar e sua ação: (...) sobretudo naqueles instantes em que me visita, o quê?, como heide eu chamar a este desespero manso, sentimento de pequenez e desamparo, ternura insidiosa pelas coisas, que é talvez a máscara da autopiedade, o gato escondido com o rabo de fora? (Idem) Ao chegarmos aqui, podemos até dizer que “Animula blandula vagula” é a própria movimentação e errância da repercussão do verso no narrador e, por extensão, em nós; o contraste mesmo entre blandula e vagula simboliza a quase resignada hesitação (“desespero manso” ou “ternura insidiosa”) com que percorre as referências e se vê numa espécie de desconcerto. Aliás, essa palavra com implicações camonianas nos ocorre, parece, em boa hora, até porque nesse mesmo trecho há menção a certo 60 “sentimento de pequenez” 19 . Não bastasse o fato de Camões estar subtendido em quase toda boa poesia portuguesa do século XX, o próprio narrador já havia mencionado “Alma minha gentil que te partiste” (via Jorge de Sena) como variação em português para o verso do imperador romano Adriano, também protagonista do romance de Yourcenar20 . Ou seja, há um caminho a se cumprir aqui. Chamamos atenção para o importante papel e poder da repercussão da leitura em que m lê. Em seguida, temos o próprio autor-narrador comportando-se como o leitor que é: seguindo referências, perseguindo imagens ao sabor de lembranças 21 da leitura, deixando o “Animula vagula blandula” reverberar nele. Com isso, ele tanto é contaminado pelo verso como este também o contamina. E se transforma no próprio movimento sugerido pelo “vagula blandula”, flutuar, errar pelas referências e significados e chegar até a mudança como regra mesma das coisas. Por isso a pequenez, tão camoniana como a mudança 22 . O que modernamente se traduz na “máscara de autopiedade” ou no “gato escondido com o rabo de fora”, imagens de ausência. Isto é, desconcerto que é a condição mesma da subjetividade lírica 23 . Nesse sentido, o verso latino, devido ao percurso do narrador de A viagem, nunca como agora disse tanto à lírica portuguesa: Numa dessas páginas maiores que põem no frêmito da vida o toque do que é precário, passageiro, e simultaneamente consciência disso. Pobre e pequena alma, luz duma vela consumindo a cera de que nasce até se extinguir (p.8). Vemos que a fonte de onde vem essa possibilidade de assimilações do texto pelo leitor é a mesma de onde vem a fragilidade do sujeito, o tal “sentimento de pequenez e desamparo”. É aqui onde nasce, como diz o trecho citado acima, não apenas o “precário”, mas a “consciência” de sê- lo. Porque a pluralidade e errância de significações proporcionam a mudança, o passageiro, enfim, o que em poesia moderna se chama dispersão, “luz duma vela consumindo a cera de que nasce até se extinguir”. A 19 “Que não se arme e se indigne o Céu sereno / Contra um bicho da terra tão pequeno?” (Lus, I, 106) Além de Camões, podemos lembrar também do Álvaro de Campos de “Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra”, cujo movimento é muito parecido com o de “A viagem”: “Na estrada de Sintra ao luar, na tristeza, ante os campos e a noite, / Guiando o Chevrolet emprestado desconsoladamente, / Perco-me na estrada futura, sumo -me na distância que alcanço, / e, num desejo terrível, súbito, violento inconcebível, / Acelero... / Mas meu coração ficou no monte de pedras, de que me desviei ao vê-lo, / (...) Na estrada de Sintra, cada vez menos perto de mim... (PESSOA, 1986, 306-307) 21 O narrador não consegue lembrar onde, na vasta obra de Aquilino, encontrou o verso: “Recordo-me dele por exemplo numa página de Aquilino. E agora, localizá -lo na obra enorme? Folheei volumes e volumes: nada. Contudo, está lá. (...)” (8) 22 Como ilustração, um célebre verso de Camões: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” (CAMÕES, 1980, p.244). 23 De Camões de novo um verso: “Errei todo o discurso de meus anos” (Idem, 341). 20 61 viagem, porém, avança. Deixa de lado o verso de Adriano e lança mão de outros que insistem na memória do motorista no texto: Mas o trabalho subterrâneo deste verso não é solitário em mim. Outros versos, outras frases que me devoram, poucos de resto, trabalham também de maneira obscura para vir de quando em quando à superfície. Avisos, sinais de qualquer Morse nebuloso mas importantíssimo .(p. 9). Inserir em 1976 a palavra “trabalho” no título de seu livro apenas confirmou o caminho que sua obra já vinha percorrendo mais claramente desde livros como Cantata e Sobre o lado esquerdo, caminho em que a consciência do trabalho com a linguagem, a atenção à materialidade da palavra e todo o rigor no seu tratamento seriam, a partir de então, a tônica: “Esta coluna / de sílabas mais firmes, / esta chama / no vértice das dunas / fulgurando / apenas um momento, / este equilíbrio / tão perto da beleza, / este poema / anterior / ao vento” (O LIVEIRA , 1992, p.204). Assim, a palavra “trabalho” destacada anteriormente na citação de “A viagem (1970)”, de certa forma, participa dessa espécie de conscientização do texto em direção a sua própria materialidade. No entanto, por figurar ao lado do adjetivo “subterrâneo”, esse trabalho, partindo dessa mesma autoconsciência já tão característica no autor, atinge outro nível ainda mais cuidadoso. Trabalho subterrâneo aqui se liga, não só por contigüidade, mas por analogia, ao movimento, já insistente em nessa viagem, sugerido pelo verso de Adriano “Animula vagula blandula”. A insinuação é sutil: o trabalho é subterrâneo talvez porque seja quase secreto ou mesmo interno. Aqui podemos ir tanto na direção de uma metáfora mineral tão característica em Carlos de Oliveira 24 , como podemos ir na direção de algo que aconteça sem que possamos ver. Na verdade, uma direção não exclui a outra; o movimento de leitura pode ser simultâneo, porque complementar, nos dois sentidos. Mas fiquemos, por ora, com a segunda direção do “às escondidas”. Ou seja, o trabalho é subterrâneo, porque, embora algo aconteça – e o que acontece aqui necessita de empenho, disciplina, esforço, espaço, pois afinal trata-se de um trabalho –, acontece – por mais que se despenda energia – fora do campo habitual de visão. O que queremos é que se crie uma contraposição entre um trabalho que necessita ser visível e outro que não. E o trabalho, não ainda do autor, mas do leitor, é justamente esse último em que as coisas acontecem de forma subterrânea, às escondidas. Surge agora mais uma contraposição, como contrapostos estiveram antes vagula e blandula. O 24 “Vocábulos de sílica, aspereza, / chuva nas dunas, tojos, animais (...)” (OLIVEIRA, 1992, pg.227). 62 trabalho é secreto porque é único em cada leitor e por isso não está por extenso dado no texto. Ou melhor, “o trabalho subterrâneo” é aquele em que o verso, sempre referencial – no caso “Animula vagula blandula” –, aciona em quem o lê a construção do sentido, a atualização da potência. Somente por isso que o narrador de “A viagem (1970)”, aquele que está dirigindo seu carro, pode ir a Yourcenar, Aquilino, Sena e Camões, sem perder a viagem. Tal trabalho é o da própria reverberação do verso em quem o lê. Como se realmente fosse um processo interno e lento em que o texto criasse ramificações diversas. A imagem da reverberação parece apropriada, pois o narrador não se contenta apenas em evocar o verso, mas ele o pronuncia fisicamente através da voz, mesmo correndo o risco de acordar Gelnaa. Não satisfeito apenas em pronunciá- lo, torna-o ainda mais táctil para nós quando faz com que o vejamos materializando-o na fumaça de seu cigarro. Aliás é assim que se inicia o texto: Digo as palavras em voz alta: – Animula vagula blandula. E as palavras, suspensas no fumo do cigarro, param um momento a poucos centímetros da boca. Vejo o novelo denso ondear. De súbito a velocidade, as janelas abertas do carro, pegam nele, desenredam-no por cima do meu ombro direito (guio com a cabeça ligeiramente voltada sobre a direita) e puxam-no para trás (...) (p.8). O que o verso faz, como vimos agora ante os nossos olhos, foi desenrolar-se num “novelo denso a ondear” à frente de quem o proferiu, o leitor-narrador. Numa imagem de ondulação análoga ao trabalho subterrâneo de reverberação do verso, que aliás é também a própria encenação e tradução de vagula 25 . Ainda neste texto, temos a presença de mais dois outros textos, porque, como vimos, “o trabalho subterrâneo deste verso não é solitário” no narrador. Se “Animula vagula blandula” age principalmente através de referências literárias que vão de Yourcenar a Camões – “ó companheira que eu não tenho nem quero ter”, verso de Álvaro de Campos, não remeterá aqui propriamente a uma operação entre textos. O que chama atenção do motorista agora é Gelnaa que está ali a seu lado, assim como 25 “Vagus, a, um (adj). errante, vagabundo; livre; inconstante; incerto” (BUSSARELO, 1991). 63 estavam, de certa forma e também, Yourcenar e Jorge de Sena 26 . Esse segundo verso desencadeia nele sensações não muito distantes daquelas sugeridas pela experiência “do que é precário”, a partir do verso de Adriano. “Olho para Gelnaa e não compreendo: tenho-a e quero tê- la. Mas ao mesmo tempo compreendo: não a devia ter a ela; ou não vale a pena tê- la; ou então dói- me a sua fragilidade, sombra dum arquétipo, eterno neste momento” (p. 9). Chamemos atenção apenas para o desencadear de possibilidades que são simultâneas, mas que, mesmo assim, operam a partir de um sistema binário, querendo ultrapassá- lo ou jogar com os opostos. Compreender e não compreender; ter e não ter; e logo tudo posto em xeque. Ou seja, possibilidades e mudanças análogas àquelas que vimos no verso do imperador. Porém, se antes errávamos pelas referências, metonímia aqui da mudança sempre das coisas, agora erramos pela própria imagem do sujeito em relação a si, ao outro, Gelnaa, e em relação à passagem do tempo. Segue de onde paramos: Logo depois volto a não compreender: meu amor mortal, de carne e osso, tenho-te para sempre, agora. Coisas que se equivalem, na gramática relativa da vida. Não nos deram outra, Gelnaa. E mal acabo de pensar isto compreendo de novo: nenhuma companheira é possível e as solidões somadas pesam mais que uma só. Etc (p. 9). O verso de Álvaro de Campos citado pelo leitor e narrador de “A viagem (1970)” é o ponto donde se desencadeiam imagens que não necessariamente estavam em Campos, melhor, estavam enquanto potencialidade semântica, i.e., o verso como dispositivo 27 que aciona várias direções de leitura. Várias, porém, não quaisquer, é bom frisar: o movimento de leitura é diretamente condicionado pelo verso, atualiza-se apenas aquilo que a potência permite. Visto isso, podemos ver como há no narrador a preocupação de experimentar, no próprio plano da narrativa, a ação, “trabalho subterrâneo” do texto nele. E aqui chegamos ao ponto central, ponto já visto na leitura que fizemos da leitura-reverberação que o narrador- motorista faz dos versos de Adriano. 26 Num autor como Carlos de Oliveira, assim como em muitos autores contemporâneos, as referências literárias não se distinguem de outras referências como, principalmente, as do cotidiano, i.e., a experiência de leitura é mais uma entre muitas da experiência cotidiana do sujeito. 27 Cotejemos: “Um dispositivo de silêncio / nos pontos cardiais / desta página / instaura a maravilha / por alguns séculos” (JORGE , 2001, pg.164). A esses versos de Luiza Neto Jorge seguem-se alguns outros de Carlos de Oliveira: “O céu calcário / duma colina oca, / donde morosas gotas / de água ou pedra / hão-decair / daqui a alguns milénios / e acordar / as tênues flores / nas corolas de cal / (...)” (OLIVEIRA, 1992, pg.104). Parece que o dispositivo de silêncio de que Luiza fala pode ser figurado pelo céu calcário dessa colina oca, paisagem tão próxima a Carlos de Oliveira. O que era generalizado no poema de Luiza, no de Carlos de Oliveira é específico, localizado, mas não menos produtivo. Veremos mais sobre o significado de silêncio nesta obra a partir aqui do capítulo sobre o poema “Estalactite”. 64 Não falamos aqui somente da simples capacidade que a poesia de Carlos de Oliveira tem de trabalhar subterraneamente no leitor, mas falamos principalmente da necessidade que o autor tem de encenar tal trabalho no narrador dos textos de O aprendiz de feiticeiro. A encenação é tanto do próprio ato de leitura como já vimos antes – comprar o livro numa feira, abri- lo, ver a gramatura da página, o tamanho dos caracteres, a marca que o tempo imprimiu nele, seus outros donos – como, agora vemos, do efeito e assimilação desses versos pelas e nas experiências do leitor. Esse movimento persiste até o fim de “A viagem (1970)”. O narrador continua e nos traz outro texto; agora, de Camus, o trecho: “a terna indiferença do mundo”. Todo seu trabalho de leitura aqui é assimilado pela ação que ele está desempenhando agora: dirigir. É como se o fato de ele estar dirigindo fosse indissociável da leitura desse trecho de Camus. Reiterando: as ações do narrador são condicionadas e ao mesmo tempo condicionam as palavras citadas. Até porque aqui só existe motorista porque existe narrador. E só existe o narrador porque existe, no texto, a leitura – não qualquer leitura, mas, repetimos, a encenação da leitura do verso de Adriano, do de Álvaro de Campos e agora do trecho de Camus. O movimento inverso também é verdadeiro e até necessário: só existe a leitura, específica, porque existe o narrador; e, da mesma forma, o narrador em relação ao motorista que, afinal, é o elemento mais visível do texto. Vejamos então como isso se desenvolve no texto: De Camus: “a terna indiferença do mundo”. Entardece ao redor. O carro, um ponto móvel no meridiano da estrada que divide a terra em duas partes rigorosamente iguais, abre ele próprio o sulco da divisão, o único sítio por onde podemos passar, e se parássemos, o universo da esquerda e o universo da direita espraiavam-se no alcatrão ao encontro um do outro, bloqueando o caminho, como dois mares de fraga, húmus, água, árvores, o cataclismo vagaroso que mistura tudo na mesma terna indiferença, porque a ternura é isso, misturar, indiferenciar, e a indiferença (do mundo), como a própria palavra diz, também (p.9). O narrador é motivado a vencer essa “terna indiferença do mundo” – projeto que ele sabe vão, mas que mesmo assim o move: para ele não há outra possibilidade. O carro é seu instrumento para não deixar que os “dois mares de fraga” se unam e as coisas se tornem indiferentes, como de fato são. O que o sujeito faz é enfrentar as palavras de Camus, que agora são dele, do mundo. Essa é a ressonância possível dessas palavras nele. O trabalho delas nele é o fato de o carro, através do “sulco da divisão”, torná- lo, o mundo, diferente. É claro que essa pulsão utópica paga algum tributo à 65 estética neo-realista, entretanto o mais importante é que ele a ultrapassa em direção a uma outra utopia, que em verdade a inclui, que é a da palavra, da poesia 28 . Por isso ele dirige o carro, para riscar (e escrever) essa linha divisória que ele sabe provisória, metonímia do cálculo e rigor e que aponta para uma fragilidade tão cara à poesia de Carlos de Oliveira. Linha que, como já vimos, põe “no frêmito da vida o toque do que é precário, passageiro, e simultaneamente consciência disso”, ao mesmo tempo revelação do instável e da irreversibilidade disso. Agora, talvez, lembremos da citação, mesmo que indireta, de Camões, figurado aqui via “Animula vagula blandula”. O fim do texto é essa última tentativa, se bem que lucidamente falha, de romper “a terna indiferença do mundo”: Carrego no acelerador. (...) Cento e quarenta. As coisas afastam-se para passarmos. O murmúrio do vento ajuda, o motor silencioso ajuda, e a rapidez do carro transforma o céu num túnel ainda claro mas estreito, numa ogiva de vidro, por onde é preciso romper à justa senão parte -se toda esta arquitectura frágil. Cento e cinqüenta, cento e sessenta. Então a voz de Gelnaa, tranqüila e um pouco irônica, detém-me no primeiro degrau da vertigem (...) (p.10). O narrador só “carrega no acelerador” porque se lembra das palavras de Camus. Acelerar o carro é uma conseqüência direta da menção ao texto. E estrategicamente quem o pára é Gelnaa. Não podemos esquecer que a citação de Camus é a terceira, portanto é mais do que necessário colocarmos as outras duas em circulação e em contato com esta, porque afinal foram escolhidas e ordenadas num mesmo texto. Vistas nesse plano “Animula vagula blandula”, “ó companheira que eu não tenho nem quero ter” e “a terna indiferença do mundo” começam a se relacionar e apontam para caminhos de convergência. O verso de Adriano aponta para a própria errância do sujeito (pequena alma), também camoniano 29 , que pode ser o próprio deslocar-se do carro, traduzido por vagula, e que também, como vimos, deixa-se ver também no próprio movimento que é a leitura. Já blandula, que contrasta com vagula, encontra, em Camus aqui, paralelo no adjetivo “terno”. Até que vem Gelnaa – como sabemos, leitora e “companheira que eu não tenho nem quero ter” – interrompe todo movimento, que, sabemos, é o do carro, o 28 O movimento é o mesmo da obra de Carlos de Oliveira: se seus primeiros livros nos falam de um problema derivado das diferenças entre uma realidade desejada e outra possível, alcançável, porque estabelecida no eixo do social; seus últimos livros nos falam também de um problema, mas de um problema derivado sobretudo das diferenças entre uma realidade escrita e uma outra, impossível, porque inexistente fora da escrita. 29 Não só devido ao caso isolado de “Alma minha gentil que te partiste” (CAMÕES, 1980, pg.268), mas pelo tema mesmo do desconcerto, mudança e fragilidade subjetiva que perpassa toda a obra de Camões. 66 do sujeito e o da leitura, o movimento crítico. Embora de forma diferente, podemos ver também tal percurso no texto “Na floresta (1966 e 1970)” em que vemos os seguidos deslocamentos que o sujeito vai realizando ao perseguir, errando através da memória, a imagem da floresta (também metáfora dos livros) na poesia portuguesa: Em Torga, Sá-Carneiro e Pessoa, um elo comum, uma simples palavra: perder (perdida, perdido, perdi), de qualquer modo ligada à idéia de floresta. Menos em Sá-Carneiro, mais nos outros. Perder o quê? Evidentemente, o tempo que passa e o que passa com ele. Que se pode perder além disso? (p.135) Interrompemos aqui a leitura de “A viagem (1970)”. O que se quer evidenciar é que a leitura da poesia de Carlos de Oliveira, que ainda não foi lida, pode se tornar mais produtiva – essa é a questão – qua ndo lemos e entendemos algumas linhas traçadas pelo autor em seus textos de O Aprendiz de feiticeiro. Linhas em que afirma a capacidade que os textos têm de exercer um trabalho subterrâneo no leitor. O percurso que traçamos quis evidenciar justamente essa ação das palavras lidas (lembradas) em quem as lê; ação que faz, do leitor, sujeito, já que sua atitude ao longo da narrativa é conseqüência direta dessas mesmas palavras. 3.6. LEITURA E TEMPO EM “JANELA ACESA” A estrela mais próxima, a oito anos-luz, é Sírius (sem falar da Alfa do Centauro invisível no hemisfério norte). Se explodir agora, só daqui a oito anos deixarei de a ver. C.O., “A fuga” Neste capitulo de título “O mundo comum”, como pôde se perceber, concentramo-nos na leitura e na imagem do leitor. Mais do que isso, mostramos como tal imagem, seja no narrador seja através de Gelnaa, pode ser central em O aprendiz de 67 feiticeiro. O que faremos no próximo capítulo será mostrar como, especialmente na poesia, também nos será muito útil encontrarmos a figura do leitor dentro da própria proposta que é o poema. Sobre isso, Manuel Gusmão diz: A convocação do leitor é aliás apuradamente realizada na poesia de Carlos de Oliveira, muitas vezes só através das interrogações e outras formas de distância que internamente distendem, interrompem a tessitura do poema e, assim, exigem a participação do leitor que, ao ler, terá de repetir a questão e, logo, questionar-se (GUSMÃO, 1981, p.57, grifo nosso). Antes porém veremos a partir de “Janela acesa (1965)” alguns dos recursos proporcionados pela convocação do ato de recepção durante ainda o de produção, como deixa entender Manuel Gusmão. A leitura é um momento distinto da produção. Logo se durante essa último convoca-se a primeira, teremos uma convivência de tempos distintos dentro do mesmo espaço, o texto passa a ser um tempo de simultaneidades onde a sincronia faz com que suas seguidas presentificações possam ocupar o mesmo lugar, povoar essa mesma paisagem. Por isso que insistimos até agora na menção nos títulos, como vemos no índice do livro, às datas de produção inicial dos diversos textos, datas que por si só já evidenciam o espaço temporal de vinte cinco anos. Não bastasse isso, como sabemos, esses textos passaram por um excessivo processo de seguidas leituras e que se materializam no que conhecemos pelo nome de reescrita. Para isso, uma nota do livro que em algumas edições vem ao início, em outras ao fim, dependendo de onde esteja o índice; ela diz o seguinte: As datas mencionadas neste índice correspondem à redacção inicial dos textos. O autor remodelou bastante alguns (sobretudo os mais antigos) publicados em jornais e revistas. Aqui fica a sua versão definitiva, que substitui, para todos os efeitos, a primeira (p.202). O texto de Carlos de Oliveira pressupõe tanto movimento que a expressão “versão definitiva” precisa ser encarada com algum cuidado. Depois de publicado a primeira edição do livro em 1971 30 , a terceira edição, de 1979 31 , traz algumas modificações. Aliás, esse mesma edição, a última em vida do escritor serviu como modelo para as demais, incluindo essa que utilizamos. No entanto, a edição das Obras de Carlos de Oliveira, de 1992, publicado por uma editora diferente 32 das edições anteriores e também da edição posterior de 2004, traz algumas mudanças muito 30 31 Publicações Dom Quixote. Sá da Costa Editora. 68 curiosas, mudanças que entretanto foram excluídas da última edição. Não sabemos dizer se são meras gralhas – estranhamente muito coerentes – ou se são as últimas modificações, posteriores à edição de 1979 e que em vida do escritor não conheceram oportunidade de serem feitas. Vale citarmos três delas, tanto para mostrar como a “versão definitiva” aqui é discutível, quanto para uma possível e futura resolução do caso. Em todas as três há coerência e podem perfeitamente fazer parte do processo de reescrita. A primeira está em “Na floresta (1966 e 1970)”, no trecho Estupidez, inclemência, florestas que o amor ilumina por dentro, só o amor, e onde está ele? Neste crepúsculo geral indefinindo rostos, corpos, almas, só o amor é grande, só o amor cintila ainda na oca, cega, esfera do acaso que se chama como? vida, morte ou apenas tempo, tempo do desamor, da estupidez, da inclemência instituída. (p.138) 33 . A edição de 1992 retira a resposta. Logo o trecho que vai de ‘vida’ até ‘instituída’ está ausente. O que faz sentido levando em conta a lógica da reescrita em sua obra. O fato de ser a resposta de uma pergunta também pode ser significativo para sua exclusão. Não seria uma porta de entrada para o leitor, como disse Manuel Gusmão na citação acima que falava que a “convocação do leitor é aliás apuradamente realizada na poesia de Carlos de Oliveira, muitas vezes só através das interrogações (...)” (GUSMÃO, 1981, p.57). Outra diferença está presente no texto “Coisas desencadeadas (1965)” onde lemos poetas somente na edição de 1992 lemos homens: Se a poesia é como queria Maiakovski um encomenda social, o que a sociedade pede aos poetas de hoje, mesmo que peça nebulosamente, não anda longe disto: evitar que a tempestade das coisas desencadeadas nos corrompa ou destrua (p.181) 34 . A julgar pelo caráter profundamente social, inclusive depois de Cantata, da obra de Carlos de Oliveira, a julgar por ter se preocupado mais com os homens que com os poetas, a mudança de poetas para homens teria uma lógica dentro de sua obra. Finalmente em “Micropaisagem (1969)”, ao falar sobre a transferência de algumas características de paisagem de sua infância, a Gândara, para sua poesia vemos uma mudança, onde lemos “decantada”, na edição de 1992, está “desencantada”: “A matéria de alguns poemas da Micropaisagem, talvez mais decantada, mais indirecta, é a mesma” (p.184) 35 . É natural que em 1969 o autor se referisse ao então recente Micropaisagem 32 Editorial Caminho. Na edição de 1992, p..543. 34 Na edição de 1992, p.583. 35 Na edição de 1992, p.586. 33 69 como um livro decantado, pois afinal este é a confirmação da viragem de sua escrita percebida mais claramente em 1960, com Cantata, e depois levada a outras conseqüências em Entre duas memórias (1971), Pastoral (1976) e Finisterra. Paisagem e povoamento (1978). Depois porém, como sugerem os posteriores poemas e principalmente o último livro de prosa, podemos perceber o quanto há de desolação no que diz respeito tanto a essa tentativa de escrever a partir da memória, quanto no que diz respeito a própria questão da representação como um todo, sempre sujeita ao extravio, sempre regida, apesar de todo o rigor, pelo arbitrário, pela errância, enfim 36 . Toda essa anotação de variantes, ainda por serem resolvidas, tem por propósito de mostrar como esses textos estão, num todo, sujeitos a temporalidades diversas. A reescrita é uma dessas manifestações, há outras, é o que veremos agora em “Janela acesa (1964)” e depois no próximo capítulo através da leitura do poema. Robert Scholes em Protocolos de leitura diante possivelmente de um quadro de La Tour, escreve: “Para ler um texto, teremos de acrescentar algo” (SCHOLES , 1991, p.21). O quadro que vê (e que vem ilustrado no livro para que também possamos ver) é de uma jovem possivelmente com sua mãe diante de uma vela lendo um livro. Entre outras coisas, Scholes diz ser Maria, futura mãe de Jesus, a menina que lê o livro. Que livro? De acordo com a época em que foi pintado, “tratava-se de um texto de instrução bastante freqüente e apropriado” (Idem). E continua: “Na educação da virgem, a Bíblia constitui um livro muito importante para Maria, pois o seu papel futuro está nele prefigurado em linguagem profética, mesmo que ela esteja apenas a ler o antigo testamento” (Idem). O trabalho de leitura de Scholes segue e inicia a fusão de tempos distintos, o tempo aparentemente a que o quadro diz respeito, a época em que foi pintado e finalmente o momento em que é lido: “não se trata de um texto historicamente ideado; nele, Maria e sua mãe são vistas como contemporâneas do autor” (Idem). Essa, a primeira junção de tempos: o tempo de Maria, criança, e o tempo de La Tour, pintor. Agora vemos uma atualização do quadro em que o leitor ativa seu mecanismo, sua história: “Pode muito bem dar-se o caso de esta Maria ler um texto que inclua tanto o Antigo como o Novo Testamento” (Idem). Por mais que a leitura do autor possa exceder alguns limites, ele reconhece ter tido uma formação cristã, seu ato de leitura torna o quadro uma reunião de tempos distintos que ao conviverem uns com os outros produzem sentidos: 36 Um apontamento de Paul Valéry: “O rigor só se alcança pelo arbitrário” (VALÉRY, 1994, p. 9). 70 Em resumo: talvez Maria esteja a ler a sua própria história, o seu próprio livro. Situação singular ou impossível – dirá o leitor. Impossível, sim, concordo, mas ao mesmo tempo provável. Na verdade trata-se de uma alegoria da leitura. É o que fazemos e devemos fazer a cada instante, quando lemos. Se quisermos ler de facto, temos de ler o nosso próprio livro no texto que temos diante de nós; há que torná-lo pessoal, trazê-lo à nossa própria vida e pensamento, ao nosso juízo e acção pessoais (Idem, p.22). Depois de feito o exercício, o crítico – que de algum modo conjuga a recuperação dos tempos para os quais o quadro aponta com seu tempo: o tempo do leitor que torna presente os índices dados – arrisca uma breve teorização do que seja o ato de leitura e interpretação, trabalho que muitas vezes, por mais simples que possam parecer os textos, exige mais de um posicionamento do leitor: A leitura tem duas faces e orienta-se para duas direções distintas, uma das quais visa a fonte e contexto original dos sinais que se decifram, baseando-se a outra na situação textual da pessoa que procede à leitura. Pelo facto de a leitura constituir sempre matéria de pelo menos, dois tempos, dois locais e duas consciências, a interpretação mantém-se infinitamente fascinante, difícil e essencial (Idem, p.23). “Janela acesa (1964)” é sem dúvida um texto sobre a leitura. Tanto que se repararmos o lugar que ocupa no livro veremos que é posterior a “À espera de leitores (1959 e 1966)”, de que já falamos um pouco, e é anterior a “O que é o povo? (1970)”, texto curioso em que lemos, via Alexandre Pinheiro Torres, a expressão com maiúsculas “Leitor Distraído” (p.161), i.e., aquele leitor desinformado e passivo que julga que o povo é “um tema exclusivo dos neo-realistas” e “também o único tema deles” (Idem) 37 . Leitor esse que não interessa ao narrador. Em “Janela acesa” temos um narrador extremamente consciente do seu trabalho, para usarmos um termo caro ao autor. Usa com extrema lucidez sua memória que, por algum efeito narrativo, parecenos às vezes quase impessoal. Parece ao mesmo responsável tanto pela direção geral do filme como pela direção de fotografia: Trago a janela de muito longe, da casa de meu avô, e abro-a neste parede cega virada ao poente. Junto-lhe a lembrança das janelas a 37 Em O aprendiz de feiticeiro visivelmente há uma relação significativa na arrumação dos textos, i.e., a ordenação, que não é cronológica, e as relações de contigüidade no livro são produtoras de sentido. Além dos mencionados, poderíamos relacionar imediatamente outros textos, como por exemplo: “Gás (1967)” e “Na floresta (1966 e 1970)”; ou “Serenata (1965)”, “Chuva (1947)” e “Bela adormecida (1957)”. Esse recurso, é certo, ajuda a dar mais unidade ao volume. Outra informação talvez nos ajude: O aprendiz de feiticeiro foi publicado no mesmo ano que Entre duas memórias, o livro de poemas de Carlos de Oliveira, dotado de maior unidade, livro em que a contigüidade dos poemas é muito importante. Talvez a arrumação deste livro de poemas tenha contribuído para a arrumação do livro estudado aqui. Ou talvez tenha acontecido o contrário. 71 faiscar no outro lado da rua. Consigo assim a mesma mancha de sol, as mesmas nuvens coloridas de então. A parte superior da janela é redonda, um semicírculo perfeito de vidros amarelo-laranja, talvez menos denso que o laranja, mas isso depende muito da luz exterior: intensidade, hora do dia, verão, inverno, etc. Na parte de baixo, sensivelmente quadrada, vidros brancos vulgares (...) (p.155). O narrador-cenógrafo organiza sua descrição. A representação, no entanto, não decorre, porque os objetos já estavam no lugar. O contrário: eles só estão aqui porque serão representados. “Diante da janela ponho a cadeira” (Idem). Esses são justamente objetos recordados que o autor coloca no texto. “Nela me sentei a escrever os primeiros poemas, a folhear os primeiros livros proibidos. Partiu-se? Perdeu-se numa dessas mudanças a que a vida obriga as pessoas sem casa própria e um pouco instáveis?” (Idem). É como se o texto pudesse – e até aqui pode – tornar presente uma história, a do narrador, através de sua habilidade e rigor de construção: “Na cadeira sento a mulher. Ainda jovem, quando a conheci” (p.156). O que poderia ser uma fotografia agora precisa ganhar movimento. E nisso passamos a saber qual é de fato a função da mulher sentada na cadeira: “Escolhida a interprete, dispostos os elementos da cena, procedo agora como se estivesse a filmar” (Idem). A mulher, que o narrador conheceu ainda jovem e que ainda a conhece – “olhos mais claros que hoje (a vida escureceu- lhos bastante)” (Idem) – é a intérprete. De quê? Por enquanto diríamos da cena. Mas ela faz parte da mesma cena? Já que o cenário é a memória do narrador, a mulher sentada na cadeira poderia ser a intérprete de suas memórias, memórias estas do qual ela também faz parte. Se a memória é o que ajuda a constituir o que esse narrador é, essa mulher sentada seria a intérprete de sua vida? Começa assim seu retrato – o dela – em movimento: “A luz vem da janela. O semicírculo laranja ilumina o rosto da mulher, apanha- lhe o cabelo que noutras circunstâncias seria negro (...). Detenho a luz (o foco de estúdio) sobre o rosto quase irreal, oiro?, fogo?, na janela antiga” (Idem). Vale perceber que o quase laranja do início da narrativa (“amarelo- laranja, talvez menos denso que o laranja”), passada uma página, já pode ser chamado sem hesitação de “laranja”. O domínio da descrição em movimento é total. Vemos que o sujeito que compõe e filma controla, até agora, bem o seu texto, embora ele já esteja sujeito a mudanças de perspectiva causada pelo travelling da câmera: “Continuo a deslocar o foco no mesmo eixo vertical e provoco o eclipse lento do rosto. A sombra apodera-se do que a luz laranja abandona (...)” (Idem). Agora, talvez, começamos a perceber, embora já desconfiemos, de que texto a mulher sentada 72 na cadeira é intérprete. A descrição continua coerente, não sofre qualquer mudança de velocidade. As mudanças de perspectiva e cor decorrente do movimento continuam a ser muito controlada. Enfim textualmente o texto não muda de tom: “As mãos, poisadas no regaço, seguram um livro fechado. Vejo a capa: duas esquadrias largas, dois tons de castanho que o laranja da luz torna menos frios; o título e o nome do autor ambos em caixa baixa, tipo e corpo iguais” (p.157). Já conhecemos, porque já vimos antes, este pormenor na descrição de uma edição. Nesse preciosismo porém há um objetivo que vai um pouco além de antes: “Reconheço o livro. É este. Como, se estou ainda a acabá- lo? Não foi sequer passado a limpo quanto mais composto, impresso. A mulher não pode ter um exemplar já pronto. E contudo tem” (Idem). Os pormenores descritivos da capa reproduzem em detalhes a capa da primeira edição do próprio O aprendiz de feiticeiro, Publicações Dom Quixote, editado em 1971. A situação, se não é a mesma, é muito parecida com aquela que Scholes nos propôs como leitura do quadro em que a Virgem Maria estivesse lendo o Novo Testamento, livro de que, como sabemos, Maria faz parte. Neste caso, foi a fusão de tempos distintos causado pela leitura de Scholes que proporcionou essa sugestão de mise en abîme. Nesta “Janela acesa” – que aliás é a própria capa do livro – a intérprete – a mulher sentada na cadeira, que em outros momentos do livro é chamada de Gelnaa, cripotógrafa e mulherfloresta – é leitora do livro – e aqui não há metáforas no que diz respeito ao livro: é O aprendiz de feiticeiro – antes mesmo de ele ser editado. Somente o ato de recepção pode causar esta convivência de tempos diferentes. E a mulher sentada na cadeira, a intérprete, é a personificação do leitor neste livro que trata, entre outras coisas, da leitura. Logo, a presença dela pressupõe para o narrador, o produtor do texto, um outro tempo, o tempo da recepção que é diferente do tempo de produção. Esse outro tempo talvez seja responsável pelo extravio da objetividade do texto, apesar de todo o rigor e lucidez com que é construído. Ainda, Scholes: “Aquilo a que a princípio dei o nome de movimentos para trás e para frente e depois de impulsos centrípetos e centrífugo representa as forças diferenciais que accionam o processo de leitura” (S CHOLES, 1991, p.24). O que o narrador deste texto encena é a inevitabilidade deste impulso centrífugo (movimento para frente) no seu trabalho de construção a partir “de muito longe” e através da memória, cujo movimento representa-se para trás (impulso centrípeto). Poderíamos no entanto afirmar: Carlos de Oliveira está escrevendo e não lendo. Essas forças atuam na leitura e não na escrita. Uma possível resposta seria: Carlos de Oliveira, o narrador de O aprendiz de feiticeiro, ao escrever não deixa bem 73 claro seu posicionamento antes de tudo como leitor. Ou ainda: se quando escreve ele está de algum modo recuperando o passado, essa memória falhada e lucidamente escrita não seria uma forma de leitura desse passado, já que não consegue reproduzi- lo tal e qual? A mulher sentada na cadeira, como vimos, pode ser Gelnaa, que por conseguinte pode ser Ângela de Oliveira também, tanto pela a referência ao fato de ela ter nascido na Ilha da Madeira – “o cabelo solto num halo de bruma e brisa que faz pensar nos amanheceres da sua ilha” (p.156) –, quanto pelo fato da janela do título também se aproximar de um anagrama de seu nome. O que confunde e enriquece ainda mais os protocolos de leitura em deslocamento nesse texto. Ao fim, a obra de Carlos de Oliveira é a encenação de leitura do seu próprio texto, pois nela há o tempo de produção, como em qualquer texto, mas também há a encenação do tempo de sua recepção, como se assim ele conseguisse impedir o extravio de seu trabalho. Aliás a metáfora do trabalho em sua obra tenta também conter essa força centrífuga que potencializa seus textos, i.e., faz com que neles caibam algumas direções por vezes contrárias. Tudo isso porque o sujeito é sobretudo um leitor que sabe, como vimos ao longo de O aprendiz de feiticeiro, o poder que possui: “Digo as palavras em voz alta” (p.7). Continuemos com a narrativa da mulher que segura o livro,“este”: Imobilizo outra vez o foco. Sobre as mãos e o livro. Mãos duma força inesperada (a fragilidade das articulações, o comprimento esguio dos dedos, não conseguem escondê-la). A tonalidade que as envolve revela lhes toda a incandescência interior. Estão paradas, não folheiam o livro, apenas o seguram (p.157). O narrador controla ainda o foco e outras coisas, mas não previu a presença do livro nas mãos da mulher que ele sentou na cadeira. Provavelmente ela mantém o livro fechado – lembremos, ela é a intérprete –, porque já o leu antes do narrador colocá- la ali. Atenção também à “força inesperada” e “incandescência interior” aliada à “fragilidade das articulações” que revelam o misto de dependência e poder que a figura da leitora sugere. Sem o texto ela não representa nada; uma vez com ele, tem- no literalmente – a imagem é simbólica – em mãos. Tamanha é a tensão de forças entre produção e recepção encenada internamente que seu projeto de representação a partir da memória não consegue se manter por mais tempo: Então qualquer coisa cintila nesta imagem silenciosa. O verniz das unhas?, da cartolina? Não chego a sabê-lo. A mulher levanta-se da 74 cadeira (ao retardador). As mãos e o livro sobem, somem-se na sombra. E nisto a janela apaga-se. Por duas razões, suponho. O travelling acabou e a tensão (a cores) da memória não pode manter-se por muito tempo (Idem). Reparemos na falta de controle do narrador em relação a sua intérprete. “Na cadeira sento a mulher”. Sintaticamente ela comportava-se como objeto direto. Por isso até a curiosidade da imagem. Agora, no entanto, a “mulher levanta-se da cadeira (ao retardador)”. Ao tornar-se sujeito, impossibilita o projeto completo de representação do texto. Nisso desaparecem mulher, livro e janela. E o narrador, que controlava, nada mais pode que supor. O fato de a capa da primeira edição do livro reproduzir essa “janela acesa” possibilita dizermos que todo o volume está regido – para além já da presença, como vimos, da leitura ao longo de todo o volume – por essa convivência dos tempos produzida pela intérprete 38 . Podemos levar essa idéia mais adiante se lembrarmos que todos os demais romances de até então do autor reescritos e relançados pelas Publicações Dom Quixote a partir de 1969 já utilizavam como capa a mesma “janela acesa”, de O aprendiz de feiticeiro que só apareceria em 1971, com combinações de cores diferentes, no entanto. A julgar por isso todos esses livros estariam de certa forma contaminados pela ilustração de suas capas, ilustração que depois da leitura do texto em “Janela acesa” que, aliás traz data de redação inicial de 1964, ganha novos contornos. Adiante, no próximo capítulo, veremos como esse instrumental adquirido com a leitura deste livro pode nos ajudar a ler um poema de Micropaisagem, melhor, veremos como a ação do leitor de alguma forma já está prevista internamente no poema. Assim saberemos não só como se dá o povoamento (a leitura) da paisagem (o texto), mas também qual pode ser o seu propósito. 38 Apesar de a última edição até aqui, de 2004, trazer outra capa, a original vem reproduzida ao fim de “Janela acesa” através de uma nota de pé de página. 75 4. POVOAMENTO DA PAISAGEM – “ESTALACTITE” Sei apenas que chego, mais tarde ou mais cedo. C.O., “Corvos” 4.1. PREÂMBULO Começamos na década de trinta, possivelmente na Espanha ou França. O peruano César Vallejo, que irá morrer ainda em 1938, escreve o poema “He aquí que hoy saludo”, publicado futuramente no já póstumo Poemas en prosa. Não bastasse a já habitual linguagem acentuadamente metafórica e até hermética de sua poesia, ao fim deste poema Vallejo escreve entre chaves uma espécie de apêndice que diz o seguinte: “(Los lectores pueden poner el título que quieran en este poema)”: Os leitores podem colocar o título que quiserem neste poema. Nosso trabalho não é sobre a poesia de Vallejo, mas algo nos interessa e muito. Dizer que a poesia se faz mediante a intervenção do leitor talvez especifique pouco nosso objeto, até porque todos os poemas, ou pelo menos os melhores, exigem tal posicionamento do leitor. O que interessa é chamar atenção para aqueles textos que não só jogam com essa necessidade, mas a incorporam em sua forma, ou melhor, em sua formação. Em outras palavras: de que o poema fala? Entre coisas, do ato de sua própria leitura. 76 4.2. O PORQUÊ DA LEITURA E será por esse tópico que se dará a leitura da poesia, agora sim, de Carlos de Oliveira. Observar como no poema – “Estalactite” (Micropaisagem, 1968) – a tematização expressa da leitura constitui um dos fatores com os quais sua linguagem, a do poema, forma um campo semântico e estabelece a referência. Ao lado dessa tematização expressa da leitura, temos ainda nesse poema – uma espécie de poética do autor – outros dois momentos, discerníveis em análise: a tematização da memória como possibilidade de construção da referência e, finalmente, como conseqüência disso tudo, a possib ilidade de, no poema, se desenhar uma paisagem através, sobretudo, de termos que evocam certa materialidade específica, exemplo: água, orvalho, pedra, colina, cal, flor, palavras que vão caracterizando e estabelecendo o cenário; Nelson de Matos já falava de certas “imagens e vocábulos retirados ao reino mineral” (MATOS, 1971, p.117). Já segundo Manuel Gusmão, toda a poesia Carlos de Oliveira, não sem algum prejuízo, poderia ser dividida em duas fases. E precisamente o registro da paisagem seria uma das diferenças entre essas fases. Para a primeira: “Os elementos que referem o mundo natural representam dominantemente a natureza orgânica, animal e vegetal (...)” (GUSMÃO, 1981, p.65). Para a segundo: “Tem se falado insistentemente de mineralização do mundo na última fase da poesia de Carlos de Oliveira (...)” (Idem, p.72). Retomando: temos três pontos: leitura, memória e paisagem. Três pontos que em verdade constituem um todo inseparável. O vocabulário deste poema não é tão diferente do vocabulário ou de certas “zonas lexicais dominantes” (idem, p.23) presente em toda obra de Carlos de Oliveira, incluindo os poemas anteriores a Cantata (1960), incluindo os romances. Não é diferente, pois é através dele que se constitui o cenário, paisagem que, como se pode dizer, persiste e dá unidade a toda sua obra. Já a memória é um tópico também muito importante na leitura da obra de Carlos de Oliveira. Podemos dizer que ela é um dos principais recursos. De novo, Nelson Matos: “É a tentação do regresso, a procura do ponto inicial da terra lamacenta, o obscuro ponto da memória onde as coisas permanecem as mesmas e idênticas” (MATOS, 1971, p.131). Sabemos no entanto que esse ponto, como uma Idade de Ouro, não existe e esse é um projeto que já se inicia fadado ao incompleto. O poema (ou a paisagem no poema) se organiza a partir dessa coleta ou colheita feita na memória. É claro que o resultado disso não poderia ser diferente: o que temos é sempre algo parcial e insuficiente. Assim, um poema feito 77 disso tende à dispersão. Embora, segundo uma disciplina e metodologia rigorosas, o projeto acaba por não se realizar. A poesia de Carlos de Oliveira configura-se a partir desse erro. Sobre isso escreve Rosa Maria Martelo: “De certa forma o rigor estrutural, arquitectônico, de livros como Micropaisagem e Entre duas memórias (...) surge, então, como estratégia de coesão perante a descontinuidade que, apesar disso, permanece visível (...).” (MARTELO , 1998, p.300). É nessa falha – Rosa Maria Martelo a chama em certa altura de “princípio de precariedade” (Idem, 302) – que se dá a poesia de Carlos de Oliveira. Esse errar se dá – além dessa tentativa conscientemente falha de retorno – devido a uma inevitável projeção das palavras por meio do também inevitável ato de leitura. Ato de leitura que faz com que o leitor ocupe o poema, ocupe o espaço desenhado no poema. Tal projeção, além de acontecer por causa de seu potencial metafórico, é tematizada no próprio poema, melhor, é encenada durante o avançar do texto 1 . Mostrando assim o que havíamos visto já em O aprendiz de feiticeiro: a importância do ato de leitura nesta obra. O leitor se apropria e trabalha as imagens. Quais imagens? Entre outras, as próprias imagens do ato de leitura. Funciona como uma espécie de narrativa em abismo, com um vertiginoso espelho virado para outro. Pronto. Os três pontos: memória, leitura e paisagem. Os dois primeiros funcionarão como vetores para chegarmos ao terceiro. A partir da leitura do poema “Estalactite”, veremos como se dá o processo de referencialização na poesia de Carlos de Oliveira. Tal processo tem como motor o ponto de tensão entre esses dois vetores que se opõem: memória versus projeção (a leitura, como a vimos em O aprendiz). É na tensão entre esse dois vetores – um apontando para trás e o outro para frente – que se constrói a referência à paisagem no poema. Referência que privilegiará o aspecto, como veremos, de brevidade, presente nela. 1 Osvaldo Manuel Silvestre já reconhece essa tendência para a projeção. Para ele, assim como também para nós, o texto aponta igualmente para uma dispersão análoga àquela causada pelo retorno através da memória: “(...) a hipótese da ocorrência futura, conquanto racional, é de muito difícil contrastação empírica, razão pelo qual o poema não pode deixar de colocar a questão da sua virtualidade; e, seja como for, o poema na sua evidência material – signos sobre uma página em branco – enfatiza o contraste entre a sua matéria ‘palpável’ e a virtualidade de um micro-movimento a resolver-se num futuro tão pensável quanto dificilmente habitável” (SILVESTRE , 1996, p.84-85). 78 4.3. PAISAGEM, LINGUAGEM Percorrendo as imagens e sabendo que a repetição é uma recorrência no texto, identificamos basicamente dois campos semânticos para caracterizar o ponto, o tópico paisagem. Como já vimos, há uma insistência de palavras que caracterizam uma realidade específica, a da paisagem: pedra, cal, colina, calcário, água, gotas, flores, pétalas. Do outro lado, temos um vocabulário que, podemos dizer, caracterizam uma realidade textual: poema, linguagem, caligrafia, letras, signo, desenho, verso, página, papel. Ao perceber como se relacionam esse dois campos semânticos, é importante vermos como integram no poema menos o mesmo lugar do que o mesmo movimento. Exemplo da quinta estrofe: “suaves acidentes / da colina / silenciosa para / a cal / florir / nesta caligrafia / de pétalas / e letras” (p.239)2 . Há a mudança de campo semântico, mas não há mudança de ação, i.e., temos o fato de floração em caligrafia de pétalas e letras; não há mudança de ação, porque, embora distintos, esses campos se identificam e constituem uma unidade. Para cada campo semântico, dois itens. De um lado, “florir” e “pétalas”. Do outro, “caligrafia” e “letras”. Contudo os itens estão intercalados, entretecidos, confundidos: florir-caligrafia-pétalas-letras. Podemos, a partir disso, construir uma analogia menos explícita que subtendida: a floração está para as pétalas assim como a caligrafia está para as letras. Com esse exemplo, chamamos atenção apenas para uma possível aproximação entre os campos semânticos da paisagem e da linguagem: o poema como paisagem; e a paisagem como o poema. E será esse o cenário e a definição possível de paisagem, o lugar formado pela tensão entre memória e leitura e, ao mesmo tempo, o lugar onde se dará essa mesma tensão tão importante para o poema, como podemos ver na décima estrofe: “A lenta / contracção / das pétalas, / a tensa construção / de algo / mais denso (...)” (p.244)3 . 2 A partir daqui toda citação do Trabalho poético dirá respeito às Obras de Carlos de Oliveira (OLIVEIRA, p. 1992). 3 O conceito de paisagem que se construirá ao longo de nosso trabalho virá, pois, da relação direta com o objeto poema e dessa sua tensão interna entre memória e projeção. Para além disso, contamos também com os textos de Jean-Marc Besse (2006) e Teresa Emídio (2006), ambos das ciências geográficas. 79 4.4. SUJEITO E OBJETO , OBJETO E SUJEITO Vista essa aproximação, precisamos agora observar como se estabelecem os dois vetores: para trás, o da memória; e para frente, o da leitura. No entanto, no poema – inclusive formalmente – esse movimento é simultâneo, da mesma forma como são homólogos paisagem e texto. O que teremos, pois, é a convivência dos dois tempos, contraditoriamente – e essa é a maior qualidade do poema –, num só momento. Dois tempos e apenas um instante. Da mesma forma como aconteceu em O aprendiz de feiticeiro. O poema é instável, pois ele é todo esse ponto em que convivem memória e leitura, retorno e, num só tempo, projeção. I O céu calcário duma colina oca, donde morosas gotas de água ou pedra hão-de-cair daqui a alguns milênios e acordar as tênues flores nas corolas de cal tão próximas de mim que julgo ouvir, filtrado pelo túnel do tempo, da colina, o orvalho num jardim. (p.235) O céu calcário duma colina oca é o lugar, paisagem e poema, espaço oco, vazio porque ainda será preenchido, povoado, ou porque não pode nem poderá sê- lo. Quanto ao “calcário”, que no poema também vai dar em “cal” e “cálcio”, veremos ainda à frente seus sentidos e importância. É neste lugar que o texto lentamente, através de “morosas gotas”, se movimentará – não à toa pela queda (por meio do“ hão de cair”) – para frente, “daqui a alguns milênios”, como numa recepção do texto. E no que se projetam ativam outro dispositivo, literalmente acordando algo que dorme, objeto contraditório, espécie de flor inversa ou flor do mal, como veremos depois: “as tênues flores / nas corolas de cal”. O local em que a princípio estávamos projetou essas flores de cal para frente, ou seja, nós, o sujeito 4 , estamos nesse lugar anterior – antes do objeto – até que ouvimos: “as tênues flores / nas corolas de cal / tão próximas de mim / que julgo ouvir, /filtrado pelo túnel do tempo”. Agora o ponto de enunciação foi deslocado para depois das flores, que antes, podemos dizer, estavam no futuro, “hão-de-cair”, mas agora estão no 4 Como veremos, o poema permite que ocupemos o lugar da primeira pessoa do discurso. 80 passado, nós estamos – pois somos e não somos o eu do texto – num lugar posterior ao objeto. Tanto, que os versos a seguir soam irremediavelmente direcionados para trás. Ouçamos: “que julgo ouvir, / filtrado pelo túnel / do tempo, da colina, / o orvalho num jardim.” Aliás, um tempo que, deslocando-se, desloca também outro eixo, o do espaço, mostrando uma unidade na mudança: entre “O céu calcário” e “o orvalho num jardim” erram “as tênues flores”. O que está em jogo, podemos dizer, entre outras coisas, é o movimento do texto que permite à leitura que se aposse da primeira pessoa do poema, cada vez que acontece. Assim, em “Estalactite” o ato de produção muitas vezes acaba por se confundir com o de recepção. Ou melhor, o próprio ato de produção tenta encenar ou prever - até calcular, como veremos – sua recepção, a atualização do textopotência. Com isso o sujeito não se fixa num só ponto, como por exemplo o do autor. Aliás, este aqui é mais um leitor que dá direções ao texto, que entra por seus significados e erra, como “Na floresta” de O aprendiz de feiticeiro, através de suas imagens, enfim que colabora na construção/povoamento da grande paisagem ou micropaisagem que é o poema 5 . Não podemos seguir todas as estrofes do poema. Podemos no entanto localizar algumas imagens como, na segunda estrofe, a da “lenta contracção / das pétalas” (p.236) que chama atenção, juntamente com a morosidade das gotas mencionadas antes, para agora o “gota a gota”, lento que se repetirá ao longo do poemas com algumas variantes, exemplo “de verso em verso” (8° estrofe), “de flor para flor” (9° estrofe), “poro a poro pela a mão que escreve” (23° estrofe). Esse tempo lento pode ser símbolo da precisão e do cálculo, enfim consciência, com que o texto se estrutura, i.e., num movimento sempre crítico de colocar a si mesmo como objeto. Outra possibilidade para essa lentidão de seguir ponto a ponto – “gota a gota” – é mostrar a própria encenação de dispersão do poema entre seus leitores. Como se aos poucos, ele fosse contaminando quem o lesse, um a um, espalhando-se. E quem o lesse o contaminasse também. A leitura lentamente povoando a paisagem do poema por meio dos sentidos que constrói a partir de seus índices que, como se vê, entram “poro a poro / pela mão / que escreve” (p.257). Rosa Maria Martelo, embora não siga exatamente essa direção, diz: “De certa forma o corpo está disperso na paisagem textual (...)”. E depois: “esta disseminação reintroduz o auto-retrato, corpóreo, terrestre e perecível na paisagem precária” 5 “Cantar / é empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras / fique embora mais breve a nossa vida.” Terra da Harmonia, p.130). 81 (MARTELO, 1998, p.301). Onde se escreve auto-retrato, aqui lemos sujeito do texto, que na leitura somos também nós. Porém, da mesma forma que isso integra o mecanismo de construção do poema, isso também o impede de formá- lo como objeto final e concluído, pois entra em contradição direta com aquela força de origem, bem característica em Carlos de Oliveira, que está baseada, sobretudo, na memória. O que temos em mãos, portanto, passa a ser – não a construção ideal, sonhada, “arquétipo / do vôo” (p.255) – mas um objeto sempre inconcluso – e por isso estético – cujo princípio, como diz Rosa Maria Martelo, criticamente é o da precariedade. Mas voltemos à segunda estrofe e prestemos atenção: “Imaginar / o som do orvalho, / a lenta contracção / das pétalas, / o peso da água / a tal distância” (p.236). O verbo “imaginar” pode funcionar e funciona como projeção: “o som do orvalho, / a lenta contracção / das pétalas, / o peso da água” depois do sujeito. Agora chega-nos uma imagem muito curiosa, fundamental para caracterizar o tempo e, consecutivamente, a referência em “Estalactite”: “registar / nessa memória / ao contrário / o ritmo da pedra / dissolvida / quando poisa / gota a gota / nas flores antecipadas” (Idem). Vejam que do verbo “imaginar”, que projetava, fomos para o verbo “registar”. Um vetor apontando para frente, outro apontando para trás. No entanto, o processo de captação dessa imagem se dá através de uma “memória / ao contrário”, outra tensão entre vetores. Será ela que talvez torne simultâneos “imaginar” e “registar”. Porque, numa espécie de síntese possível somente no espaço textual, ela é tanto o para frente (projeção; sujeito antes do objeto; futuro; leitura) como o para trás (retorno; sujeito depois do objeto; passado; memória). Uma memória feita mais daquilo que poderia ser (verossimilhança) do que daquilo que é. Uma memória-futuro que, ao invés de lembrar, prevê, ou melhor, uma memória que lembra o que ainda acontecerá 6 . Isso se torna possível devido ao posicio namento no mínimo ambivalente do sujeito. Como vimos na primeira estrofe, ao mesmo tempo em que o ponto de enunciação está antes do acontecimento (projeção), ele está depois (retorno). Essa operação é simultânea porque privilegia um olhar 6 Giorgio Agambem, falando sobre a “que coisa é fiel o poeta”, vincula a possibilidade de uma memória ao contrário, invertida, não a uma memória-futuro, como fizemos, mas – e isso faz todo sentido também – ao esquecimento: “A fidelidade àquilo que não pode ser tematizado, mas também não simplesmente silenciado, é uma traição de natureza sagrada na qual a memória, girando subitamente como redemoinho, descore a frente de neve do esquecimento. Este gesto, este abraço invertido da memória e do esquecimento, que conserva intacta, no seu centro, a identidade do que é imemorial e inesquecível, é a vocação” (A GAMBEN, 1999, p.37-38). Seria interessante que ficássemos com ambos os posicionamentos, uma memória ao contrário porque nega a si mesma tentando avançar, uma memória ao contrário porque não consegue mais lembrar. 82 múltiplo para o objeto, por meio não só de ângulos, mas pelo menos de dois tempos diferentes. Tal procedimento se aproxima em muito de uma perspectiva cubista. Aliás, no livro posterior de Carlos de Oliveira, não à toa com o título Entre duas memórias, livro publicado no mesmo ano de O aprendiz, temos o poema “Descrição da Guerra em Guernica”, espécie de intervenção no quadro de Picasso, que também privilegia a convivência de perspectivas: “Entra pela janela / o anjo camponês; / com a terceira luz na mão; / minucioso, habituado / aos interiores de cereal” (p.330), “As outras duas luzes / são lisas, ofuscantes; / lembram a cal, o zinco branco / nas pedreiras” (p.331). É válido lembrar também de um poema como “Estrelas” de Sobre o lado esquerdo (1968), que fala por si mesmo através da figura do “inventor de jogos”, quando em contraposição ao “astrólogo”, que prima pela imobilização, pede ao sujeito do poema que: “Incline a cabeça para o lado, altere o ângulo de visão”. O resultado é a mudança e movimentação de todo o cenário antes imóvel: “Sigo o conselho: e as estrelas rebentam num grande fulgor, os revérberos embatem nos caixilhos que lembram a moldura de um desenho infantil” (p.205). Essa multiplicidade, fruto de uma tensão de forças que são tempos, dissolve “o ritmo da pedra”, matéria da paisagem constituída também em tensão tanto por um vocábulo, “ritmo”, que remete à linguagem; quanto por outro, “pedra”, que remete à matéria natural de configuração do lugar. Dissolver “o ritmo da pedra”, ”gota a gota”, lentidão necessária que, como vimos, dá ao texto a dispersão, disseminando a leitura, de leitor em leitor, para que a paisagem – precária, porque sujeita a esse movimento – seja povoada e finalmente tenhamos o objeto final, inconcluso, na figura dessas “flores antecipadas”. Se antes aquelas flores de cal apenas eram de cal, porque foram vistas por um ponto de enunciação posterior, por isso memória (e a memória consome); estas são antecipadas porque foram vistas por um ponto de enunciação anterior, assim projeção. Em verdade, “flores antecipadas” e flores de cal constituem o mesmo objeto visto em tempos diferentes – embora simultâneos no poema – pelo sujeito textual, foco e ponto de enunciação 7 . Silvina Rodrigues Lopes, ao ler “Estalactite”, vê também uma simultaneidade e relativização de tempos, quando fala “na seqüência de um processo moroso em que o princípio e o fim se sonham ou antecipam reciprocamente” (LOPES , 1995, p.19). 7 Manuel Gusmão de certa forma caminha em direção parecida quando anota o quiasmo formado no poema “Noite inquieta”: “Sou um pouco de dia anoitecendo / mas sou convosco a treva florescendo” (GUSMÃO, 1981, p.31) 83 Como vimos, a ação está entre “registar” e “imaginar”. Portanto estamos diante de uma referencialização do texto que não precisa ser representação (registar), nem apresentação (imaginar). Seria algo de intermédio mais próximo aqui de um conceito de mímesis aristotélica que caracteriza o objeto estético como uma atualização do real potencial. Como vimos, objeto que, na recepção, passa a ser potência nas mãos do espectador- leitor que o atualiza segundo suas possibilidades. Referimo-nos a um processo de atualização que não cessa de acontecer, já que a cada leitura se renova: contínuo processo que, no entanto, e por isso mesmo, não finaliza o objeto; mas confirma, para além de uma fragilidade, sua instabilidade. Não se trata, porém, somente de uma paisagem precária. Em Carlos de Oliveira, trata-se, sim, de um recorte preciso de uma paisagem precária, pois toda operação de sintaxe e imagens vista até agora no poema – trabalho duro que só um miglior fabbro poderia levar ao cabo – funciona menos como mecanismo formal e rigoroso de nomeação do que como modulação produtora de ambivalências insistentes. Gesto, entre registrar e imaginar que, somente por ser preciso e exato, torna o texto um objeto sempre em construção, na medida em que torna relativo o tempo e o lugar do sujeito no poema, o ponto de enunciação. Essa indefinição se torna possível apenas a partir da clareza e rigor de sua enunciação 8 : “o ritmo da pedra / dissolvida / quando poisa / gota a gota (...)”. A seqüência do texto confirma isso quando – através da conjunção condicional, já na terceira estrofe – parece jogar, agora de forma quase prosaica (embora o corte do verso continue sendo preciso como era nas estrofes anteriores), com o acento metapoético do texto. Justificamos graficamente seus versos para evidenciar sua sintaxe hipotática: “Se o poema / analisasse / a própria oscilação / interior, / cristalizasse / um outro / movimento / mais subtil, / o da estrutura / em que se geram / milênios depois / estas imaginárias / flores calcárias, / acharia / o seu micro-rigor” (p.237). Nas duas estrofes anteriores, como vimos, o que o texto fez, entre outras coisas, foi deslocar o ponto de vista em relação a um objeto em questão e que agora nomeamos: flor. Esta terceira estrofe começa por levantar justamente essa hipótese; como se ela, no entanto, não tivesse sido realizada. O deslocamento do ponto de vista pode encontrar tradução nessa “oscilação interior”, movimento cristalizado, i.e., imobilizado na própria forma de poema. O texto como apreensão do deslocamento sem, no entanto, sua interrupção; mais uma vez a justaposição de contrários: mobilidade, imobilidade. Desta forma, o 8 Rigor advindo da precariedade, indefinição advinda da precisão, convívio de contrários que poderia encontrar analogia num título de um autor tão caro a Carlos de Oliveira, Drummond: “Claro Enigma”. 84 poema trata tal gesto como hipótese passada e não como acontecimento passado. Se pensarmos na simultaneidade de tempos, conforme aprendemos em O aprendiz e vimos nas estrofes anteriores, essa hipótese pode conviver com a realização dela mesma no espaço do poema. Embora a oscilação já tenha acontecido, a suposição da oscilação que cronologicamente estaria antes do acontecimento, em “Estalactite”, aparece depois. Em verdade, a ordem se torna relativa. Portanto, como antes, a diacronia deixa de ser necessária fazendo com que o poema seja a concomitância de tempos distintos. Aliás – e isso é importante – o processo de reescrita ao qual Carlos de Oliveira submeteu seus textos – se visto aqui, junto disso – pode representar também essa movimentação do tempo, pois seu Trabalho poético apresenta-se como produto de uma grande sincronia, pois os livros mais antigos, aqui, são contemporâneos dos mais novos, da mesma forma como aconteceu com os texto de O aprendiz de feiticeiro. É como se o autor transportasse para o próprio estatuto material de sua obra a condição mesma que encena. 4.5. THE DANCER FROM THE DANCE Esse “movimento / mais subtil”, a um tempo cristalizado e em deslocamento, privilegia, mais que o objeto, sua disposição e relação com o espaço, i.e., “o da estrutura”. Num gesto esclarecedoramente crítico, o texto, através de abstração, separa não o objeto de seu movimento, mas sim o movimento do seu objeto. Possível somente no espaço textual, tal operação tanto lembra o modelo científico da Física em que a partir da verificação de um corpo em queda, a maçã, por exemplo, podemos examinar qualquer outro corpo que possa realizar o mesmo movimento; como lembra, em específico, um verso de W.B.Yeats em que propõe uma separação também radical. O último de “Among school children”, do livro The tower (1928): “How can we know the dancer from the dance?”. Conhecer quem dança a partir somente da dança, i.e., retirar a dança da dançarina e ficar somente com o movimento puro e simples é análogo aqui a destacar mais a oscilação do que aquilo que oscila 9 . Esta estrutura é aprendida para que 9 Na tradução de Paulo Vizioli: “Como apartar da dança a dançarina?” (YEATS, 1992, p.117) 85 o deslocamento se repita e se multiplique com qualquer que seja o sujeito a se deslocar. Ponto de enunciação, sujeito do texto cujo movimento é estar, como vimos, antes e depois do objeto, sujeito este que se manifesta durante o ato de leitura, ou melhor, sujeito, como veremos, que é o próprio ato de leitura, o leitor. Mas voltemos. É essa estrutura, movimento isolado de corpo, que possibilita no poema a geração – como que por cultivo ou, como queremos, por povoamento – “milênios depois / estas imaginárias / flores calcárias”. Esta estrofe trabalha como princípio motor do poema. O deslocamento começa a se tornar mais intenso, espalhando-se pelas instâncias do poema. Por isso seu tom seja, embora condicional, assertivo. O “outro movimento”, aquele “mais subtil / o da estrutura”, é um movimento que pode se dar apenas no texto. Ação produzida no espaço textual. Ação que privilegia mais o deslocamento do que aquilo que se desloca. Não porque não importe o sujeito, mas sim porque sua função, seu lugar, pode e deve ser desempenhada por diversos atos de enunciação na medida em que, em cada leitura, o movimento insiste com sujeitos e, portanto, objetos diferentes. É como se “Estalactite” fosse a metodologia a qual devesse estar submetido o sujeito, ou melhor, os sujeitos. Método que, no entanto, não nos leva de encontro a um objeto, mas sim, ao menos, a uma ambivalência, “flores calcárias”, oposição que tende tanto a tornar relativos os pólos como a, também e por conta disso, multiplicá- los. O resultado de toda essa operação é chegar a uma espécie de mínimo denominador comum, “o seu micro-rigor”10 , estrutura que possibilita a partir de focos distintos, o ato – ao mesmo tempo com diversos pontos de enunciação, isolados e em conjunto – de construção da referência à paisagem no texto. Trabalho que tem como protagonista a relação: espaço e objeto versus sujeito e leitura. Cada leitura, através da mesma ação, uma nova direção. E cada leitor int egrando, ocupando, também em tempos distintos, o cenário do poema. Ocupando, através de sua pequena ação: a parte – micropaisagem – que lhe cabe. Ajudando a povoar assim a grande e imensa, porque incessante, paisagem que é a do poema, a da linguagem. Paisagem desmedida que é o convívio dessa reunião de inúmeras micropaisagens desenhadas a cada leitura 11 . 10 Silvina Rodrigues Lopes parece notar essa potencialidade que o poema tem para se expandir cada vez mais: “a água dá origem a formas cuja diversidade a lei se desconhece” (LOPES, 1995, p. 19). A essa lei, micro -rigor, podemos talvez ter algum acesso se percebermos e atentarmos para o posicionamento plural do sujeito no poema. 11 Eduardo Prado Coelho em “Carlos de Oliveira: a atracção vocabular” a propósito de “O inquilino” de O aprendiz de feiticeiro: “E, quando o autor nos fala das suas peças não-escritas, que apenas ‘lê’ aos amigos, comove-se com essa forma discreta e subtil de deixar os textos espraiarem-se anònimamente na imaginação dos que os escutam e os transmitem, retransmitem e inventam. Por outro lado, é este aspecto 86 Assim, de certa maneira, podemos entender o que vemos no início de um poema como “Ave solar” (que no deslocamento gerado pela edição do Trabalho poético ganhou o estatuto de livro): “Ave solar destruída num prisma / que dispersou o teu contorno todo, / é um retrato múltiplo que cisma / na minha vida facetada em lodo” (p.169). Somente através dessa destruição menos negativa que positiva que o poema, lugar de paisagem, pode ser sobrevoado e povoado por essa múltipla imagem de pássaro/sujeito (“minha vida”): “Nas imagens dispersas o futuro / é o rumor dos sonhos em que poisas” (p.169). É nesse lugar de irradiante dispersão que se projetam – porque “prisma” – direções e caminhos de ocupação e onde já não é possível a imagem de um sujeito uno, o autor para alguns, pois “cada poema / no seu perfil / incerto / e caligráfico, já sonha outra forma” (p.223). Num sentido parecido vai o texto de Silvina Lopes Rodrigues, falando de Finisterra: “A experiência não é, por conseguinte, a de um autor enquanto sujeito imperturbável que dirige a obra, mas a experiência que o divide e multiplica, fazendo-o nascer de novo como seu filho” (LOPES , 1995, p.22-23, grifos nossos). 4.6. CAMÕES E CABRAL Feita a pausa que é a terceira estrofe, o texto abandona a condição e retorna à ação do poema: trocar as perspectivas do sujeito em relação ao objeto. Apenas agora, porém, percebemos que essa ação através do verbo “Localizar” no primeiro verso, como também acontece na segunda estrofe com “registar” e “imaginar”, utiliza forma infinitiva do verbo, que a princípio é aquela que, dentre todas, mais separa a ação do tempo e da pessoa que a realiza. Ou seja, o infinitivo é a forma infinita do verbo, aquela em que não sabemos o ponto de início nem de fim da ação. Assim, essa verificação do infinitivo pode confirmar que não há um termo para – a princípio irreconciliáveis já que que está na base insistente em Carlos de Oliveira de que uma obra existe no prolongamento pessoal que seus leitores lhe dão (...)” (COELHO, 1972, p.143-144). 87 simultâneas – ações de registrar e imaginar. O infinitivo assim permite também que nos aproximemos da pessoa do discurso. Na quarta estrofe, a essa operação dá-se um novo nome e a mesma conjugação: localizar. Trata-se de localizar, determinar o local de algo em específico: o objeto do poema. Encontrá- lo e ao mesmo tempo fixá-lo. Daí usarmos tanto localizar com o sentido de achar algo perdido, como com o sentido de fixar algo em movimento. “Estalactite” irá jogar com esses dois sentidos do verbo na medida em que o localiza “na frágil espessura / do tempo” (p.238). Esse movimento nada mais faz do que determinar o poema no âmbito, que já havíamos visto, do tempo, aliás, a fragilidade aqui é inteiramente significativa. Trata-se de um tempo frágil, porque na verdade o que o poema busca é a ocorrência de um outro tempo 12 , um tempo espacializado, e porque é espacializado que pode ser contraditório, plural, sincrônico. É só lembramos do mesmo objeto flagrado e construído por perspectivas distintas num só instante, como já vimos. Mais do que o tempo, fala-se numa espessura do tempo, densidade e volume: espécie de espaço dentro do tempo a localizar (encontrar e fixar). Espessura, palavra muito recorrente em poesia. De Camões a João Cabral, pelo menos. Se lembrarmos de nossa proposta de fazer convergirem dois vetores, uma para trás, memória, e outro para frente, leitura; nada mais apropriado que encená- los agora através da referência a outros textos. Até porque, quando mencionamos memória, falamos não só na memória individual, mas principalmente em uma memória cultural. E podemos ve r isso já nos primeiros livros de Carlos de Oliveira. Se em Turismo (1942, refeito em 1976) notamos um pendor para essa memória que pode privilegiar o individual (e é só atentarmos para a divisão do livro: “Infância”, “Amazônia” e “Gândara”), em Mãe pobre (1945, 1950, 1976) podemos perceber uma grande recorrência a uma memória coletiva- literária; sobre isso Manuel Gusmão escreve: “Estes poemas representam na maior parte dos casos (...) uma re- utilização, uma reinvenção de temas, fórmulas e processos de uma tradição lírica portuguesa que vai do cancioneiro popular à tradição erudita clássica e romântica” (GUSMÃO, 1981, p.28). Essa memória literária ativa-se através da leitura, projeção de todos os textos. De Camões, lemos a décima sexta estrofe de “Sôbolos rios”, que fixada, assim, depois de “Estalactite” se torna uma espécie de resposta negativa ao “Localizar” de Carlos de Oliveira, pois a “Frauta minha”, embora possa 13 , não consegue dar 12 “(...) um outro movimento / mais subtil / o da estrutura” (237). “Frauta minha, que tangendo, / os montes fazíeis vir / Pera onde estáveis correndo, / e as águas que iam descendo, / tornavam logo a subir, (...)” (CAMÕES, 1980, p.104). 13 88 mobilidade e simultaneidade ao tempo: “Não movereis a espessura, / Nem podereis já trazer / Atrás vós a fonte pura, / Pois não pudeste mover / desconcertos da ventura” (CAMÕES , 1980, p.105). Por seu turno, “Estalactite” – com sua capacidade de deslocamento do ponto de enunciação tal como numa operação cubista – passa a se comportar como interessante provocação e adendo à camoniana apreensão da irreversibilidade do tempo, pois nele é possível tanto a projeção como o retorno. Do segundo, João Cabral de Melo Neto, anotamos a espessura em seu longo poema O cão sem plumas; espessura que privilegia não somente o lugar-comum rio-tempo como em Camões, mas uma espécie de rio-cão-rio-homem (que também inclui o tempo): “Entre a paisagem / o rio fluía / como uma espada de líquido espesso. / Como um cão / humilde e espesso” (NETO, 2003. p.108). Tal como em Carlos de Oliveira, Cabral é meticuloso e lento: “Como gota a gota / até o açúcar, / gota a gota / até as coroas de terra” (idem, p.114). A espessura em O cão sem plumas, livro de 1950, pode confirmar em “Estalactite” certa dimensão humana, sempre presente em Carlos de Oliveira: “O que vive choca, / tem dentes, arestas, é espesso. / O que vive é espesso / como um cão, um homem, / como aquele rio .” (idem, p.116). Aliás, esse é apenas um dos pontos que Cabral e Carlos de Oliveira têm em comum. Ambos, sabemos, possuem uma aguda preocupação com o rigor da linguagem e a possibilidade de intervenção da poesia em seu meio social, operação que privilegiará sempre o poético. O interessante agora é notar que a espessura em “Estalactite” de alguma forma também é a espessura de “Sôbolos rios” e de O cão sem plumas. De Camões fica, mesmo que negativa no poema, a possibilidade de relativização do tempo, na imagem de um rio ao contrário, possível retorno metafórico a Sião. De Cabral importa menos a relação sujeito-tempo que a relação sujeito-objeto ou sujeito-paisagem. Entre outras coisas, O cão sem plumas encena a possibilidade de preenchimento, através da linguagem, de uma paisagem dura, real, espessa por um sujeito, não à toa rio, duro como cão, espesso como a realidade. Em Carlos de Oliveira, não apenas em “Estalactite”, esse movimento aqui já o chamamos de povoamento da paisagem. Ação realizada pelo sujeito do poema que também é o leitor. Voltemos. “Localizar / na frágil espessura / do tempo”. Encontrar e fixar nesse lugar privilegiado que é, aqui depois de Camões e Cabral, essa “frágil espessura do tempo”, lugar onde o não poder mover-se camoniano (que vale pela possibilidade de relativização do tempo) move-se como rio, “aquele rio [que] é espesso como o real mais espesso” (N ETO, 2003, p.115). Agora se pode compreender melhor a seqüência dos 89 versos: “(...) frágil espessura / do tempo que a linguagem / pôs / em vibração” (p.238). A linguagem põe – verbo destacado como um ponto na página – em vibração o tempo, pois é ela a própria movimentação; ela é o sujeito e é o sentido histórico. Sujeito, pois é o ponto de enunciação em deslocamento desde as estrofes acima. Sentido histórico, porque remete necessariamente a toda poesia anterior 14 , ilustrado aqui através da imagem da espessura, anotada em Camões e em João Cabral. Não pensemos no entanto que a ativação de uma memória cultural ou de um sentido histórico, para falarmos com Eliot, privilegia um vetor memória que aponta para trás e portanto sem tensão. Mesmo sem convocarmos o vetor projeção, para de algum jeito equilibrarmos as forças, essa consciência da tradição em Carlos de Oliveira é crítica e, por isso, não imobiliza o passado, mas fornece a ele mobilidade e tensões novas. Basta lembrarmos, só para ficarmos com uns, da presença de Camilo Pessanha, através de colagens; de Shakeaspeare, por meio de traduções/transcriações de alguns sonetos; e de Camões-Aragon, através do deslocamento de um soneto por idiomas. Todos os autores, reunidos num livro de curioso título “Terra da harmonia” (1950), ganham, quando convocados pela poesia de Carlos de Oliveira, movimentação e se harmonizam talvez pelos deslocamentos de sentido realizado em todos. No caso de Camões, o soneto original e o imitado são completamente diferentes. Anotemos o primeiro terceto em que ao mesmo se tematiza e, num só tempo, se encena tais deslocamentos; em Camões lemos: “Aquilo a que já quis é tão mudado, / Que quase é outra cousa; porque os dias / Têm o primeiro gosta já danado” (p.145); agora a tradução/imitação/deslocamento, a partir de Aragon: “Aquilo a que queria mudou tanto / Que é outro amor; e meu prazer dum dia / Maldiz o de hoje, ao novo desencanto” (p.147). Tanta mudança num livro chamado “Terra da Harmonia”. 14 “Nenhum poeta, nenhum artista tem sua significação completa sozinho. Seu significado e a apreciação que deles fazemos constituem a apreciação de sua relação com os poetas e os artistas mortos. Não se pode estimá-lo em si; é preciso situá-lo, para contraste e comparação, entre os mortos” (ELIOT , 1989, p.39). 90 4.7. PONTO MORTO Somente agora o poema avisa o que pode ser localizado. Depois de mencionar seu onde (“na frágil espessura / do tempo”) e seu como (“que a linguagem / pôs / em vibração”) pode o verbo “Localizar” ter (encontrar, fixar e espacializar) seu complemento: “o ponto morto / onde a velocidade / se fratura / e aí / determinar / com exatidão / o foco do silêncio” (p.238). O que o poema vinha fazendo até agora durante o deslocamento do sujeito em relação ao objeto era construir um ponto morto, que virá a ser justamente a proliferação simultânea, como vimos, de pontos de enunciação, i.e., ao mesmo tempo o sujeito – e só pode haver um no texto – está na linha do tempo antes e depois do objeto: como temporalidades que, por causa do espaço do texto, convivem paradoxalmente. Lembramos que “Estalactite”, seja pelo convite de seus verbos no infinitivo, seja pela ocorrência genérica da primeira pessoa no poema, permite que cada leitura ocupe o lugar da voz que se enuncia. Desta forma, encenando já o ato de recepção na própria produção do texto. Assim, o ponto morto de “Estalactite” será a ocorrência sincrônica de ao menos duas enunciações distintas, futuro – leitura – e passado – memória – criando o objeto do presente, retorno e projeção, aquilo que, ao mesmo tempo, se está por localizar e que já se localizou: a paisagem. E essa é uma operação incessante, porque não se fixa. Por isso, “a velocidade” do movimento – relação entre espaço percorrido e tempo gasto – “se fractura”, deixa de fazer sentido, pelo menos o sentido anterior com que circulava. A “exatidão” proposta pelo texto precisará calcular tal velocidade fraturada, a partir dessa simultaneidade e, portanto, instabilidade: super-presença de tempos ou, o oposto, como que uma tentativa da ausência dele. O verso “e aí” é tão pontual, porque curtíssimo, quanto o verso simetricamente acima “pôs” (10º e 5º versos respectivamente), ambos nessa estrofe parecem simbolizar visualmente por mimetismo a coexistência dos pontos na própria disposição do poema na folha. Depois de encenadas suas forças (retorno e projeção) o poema lança sua proposta, resultado de sua movimentação, ou melhor, da fixação de um movimento que, embora apreendido, não cessa de movimentar-se, repetir-se, transformar-se, espalhar-se. Todo o desenvolvimento do poema a partir de agora é resultado dessa espécie de proposta: localizado o ponto morto, determinar – somente se com exatidão e a partir de uma velocidade fraturada – o foco do silêncio. 91 Para compreendermos como pode se dar não a determinação desse foco irradiador de silêncio, mas essa “velocidade fracturada”, que, como vimos, funciona como metáfora da sincronia com que se move o texto – relativização de alguma forma já anunciada em “Sôbolos rios” – recorramos ao Eliot de Four Quartets. No primeiro deles, “Burnt Norton”, terceira parte, há a menção a um ponto imóvel, “the still point”, que curiosamente também está relacionado à relativização tanto do tempo, passado e futuro, como também daquilo que se move e daquilo que se fixa, tal como acontece no poema de Carlo s de Oliveira: At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless; Neither from nor towards; at the still point, there the dance is, But neither arrest nor movement. And do not call it fixit, Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards, Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point, There would be no dance, and there is only dance. I can only say, there we have been: but I cannot say where. And I cannot say, how long, for that is to place in time. (ELIOT, 2004, p.336) 15 Embora donos de projetos distintos, o autor de The Waste Land e o autor de Micropaisagem e Terra da Harmonia, parecem ter em comum, podemos dizer, uma preocupação com a escrita de um tempo não-diacrônico. Tal tempo não é artifício para enfrentamento da morte ou imortalização da figura autoral como se costuma atribuir à literatura, mas é a afirmação mesma de um outro tempo, o tempo próprio do texto literário, sincrônico, anônimo e errante. Já sabemos que a sincronia vem da simultaneidade. Convivência de tempos e textos distintos no espaço textual do poema. O anonimato vem justamente da possibilidade de multiplicação do ato de enunciação no poema: “(...) essa forma discreta e subtil de deixar os textos espraiarem-se anonimamente na imaginação dos que os escutam (...)” (COELHO, 1972, p.143). Em “Estalactite” há, como vimos, pelo menos dois posicionamentos para o sujeito. Tal relativização apenas confirma sua possibilidade de transformação, a necessidade que o texto tem de não se prender somente a memória (retorno? passado), como a necessidade que ele tem de se expandir no ato de leitura através da figura do leitor (projeção ? futuro): a leitura individual como ato e o texto como potência. Em Eliot 15 “No imóvel ponto do mundo que gira. Nem só carne nem sem carne. / Nem de nem para; no imóvel ponto, onde a dança é que se move, / Mas nem pausa nem movimento. E não se chame a isso fixidez, / Pois passado e futuro aí se enlaçam. Nem ida nem vinda, / Nem ascensão nem queda. Exceto por este ponto, o imóvel ponto, / Não haveria dança, e tudo é apenas dança. / Só posso dizer que estivemos ali, 92 não há exatamente essa relação entre esses diferentes atos de enunciação, mas o oposto: há a encenação da ausência desse ato, a encenação da ausência de movimento. Embora diferentes entre si, em The Waste Land e em Four Quartets quem fala é a história, a tradição, ou como diz Eliot, o “sentido histórico”16 . O trecho citado de Eliot é análogo, em muito, à leitura de “Estalactite”. Diante da falta de movimento que nem por isso é fixidez de Eliot, temos em Carlos de Oliveira um excesso de movimento que, contraditoriamente, é a única possibilidade de fixação. Em ambos temos a convivência de contrários. Em “Burnt Norton”, tais contrários apontam para uma aniquilação ou esvaziamento de uma super-paisagem – afinal, é toda cultura que está em jogo –, uma espécie de waste land de movimentos inertes. Já em “Estalactite” o jogo de contrários, (fixação versus mobilidade, passado versus futuro, memória versus leitura, antes versus depois), em analogia ao poema de Eliot, dá início a um processo de preenchimento de algo menor, micropaisagens (afinal, os termos apontam para pequenos índices naturais como água, gota, pedra, flor etc.), pequenos espaços que povoados de sentidos confirmam toda a movimentação do texto. Em ambos os poemas há deslocamento e fixação. Se em Eliot, a imobilização vem de um deslocar-se por uma vastidão vazia, como que em inércia; em Carlos de Oliveira, a mobilização (essa palavra passa a ser melhor que movimentação, pois leva em conta também a idéia de reunião e até de projeto), a mobilização vem de um fixar-se de ao menos dois pontos distintos: a ação desses pontos (sujeito) opera por deslocamentos, como vimos nas estrofes anteriores do poema em questão. mas não sei onde, / Nem quanto perdurou este momento, pois seria situá-lo no tempo.” Tradução de Ivan Junqueira (ELIOT , 2004, p.337). 16 A memória cultural que a poesia de Carlos de Oliveira também solicita tem algo desse sentido histórico de que fala Eliot: “(...) o sentido his tórico leva um homem a escrever não somente com a própria geração a que pertence, mas com um sentimento de que toda a literatura européia desde Homero e, nela incluída, toda a literatura de seu próprio país têm uma existência simultânea e uma ordem simultânea.” (ELIOT , 1989, p.39) 93 4.8. ELIOT, YEATS E PESSOA Lemos isso para entendermos o “ponto morto” de “Estalactite”. E fazemos isso contrapondo-o ao “ponto imóvel” de “Burnt Norton”17 . Se voltarmos a Eliot, poderemos ver que sua imobilidade é ilustrada pela imagem da dança que já estava presente como vimos no poema de Yeats, e através de movimentação parecida (“como apartar a dança da dançarina?”). Se procurarmos em Carlos de Oliveira imagem com mesma força e função análoga, teríamos que recorrer à imagem que dá título ao poema: estalactite. Nela temos também reunidos o movimento (“gotas” que “hão-de-cair”) e a fixação (a pedra que se forma). Aliás, a pedra (fixação) existe apenas devido à gota d’água (movimentação). Obedecendo a busca da mesma imagem da dança que foi de Eliot até Yeats, faremos na busca da imagem da estalactite um percurso que vai de Carlos de Oliveira até – neste instante – Fernando Pessoa. E assim o ponto morto vai se transformando, por metonímia, na própria estalactite. Vejamos como o ortônimo encena o ponto morto de “Estalactite” no quarto soneto de “Passos da cruz”. Apenas os dois primeiros versos: “Ó tocadora de harpa, se eu beijasse / Teu gesto, sem beijar as tuas mãos! (...)”. Depois, o terceto final: “Caverna de estalactites o teu gesto... / Não poder eu prendê-lo, fazer mais / Que vê- lo e que perdê- lo!... E o sonho é o resto...” (P ESSOA , 1986, p.58-59). O poema de Pessoa, vemos, utiliza a imagem da estalactite para figurar a possibilidade de materialização de um possível gesto separado de sua mão. Como já observamos, ele em sua disposição natural fixa o fluxo de água sem interrompê-lo 18 , o mesmo do poema de Carlos de Oliveira. Repassemos os itens em resumo agora. Essa micropaisagem – segundo Pessoa: uma “Caverna de estalactites” 19 – corresponde ao deslocamento feito entre gesto e mão 20 ou, segundo Yeats e Eliot, o deslocamento entre dança e dançarina. Interessante que esse gesto-estalactite mova, através da imagem da estalactite, a água e, através da gesto, a harpa. Água e harpa, que em Camões são rio e 17 Luís Costa Lima: “(...) ponto zero, aquele em que denotação e conotação se confundem (...)” (COSTA LIMA, 1974, p.22) 18 Soa quase natural também lembrarmos de Pessanha: “Imagens que passais pelas retinas / Dos meus olhos por que não vos fixais?” (PESSANHA, 1956, p.77). Versos que colaboram com a proposta camoniana de fixação e inversão do movimento da espessura do rio-tempo em “Sôbolos rios” vista aqui. 19 A caverna de estalactite em Carlos de Oliveira é “O céu calcário / de uma colina oca” (235). 20 Tal cisão entre gesto e mão pode ser estendida a outros deslocamentos na poesia portuguesa, a saber: “Entre mim mesmo e mim” de Bernadim Ribeiro (TORRES, 1977) e “Comigo me desavim” de Sá de Miranda (M IRANDA, 1989, p.57) que, como sabemos, vão dar em “Não sou eu nem sou outro” (SÁ CARNEIRO, 1995, p.82). 94 música: “Frauta minha, que tangendo, / Os montes fazeis vir /Pera onde estáveis correndo, / E as águas, que iam descendo / Tornavam logo a subir (...)”. Eis toda a mobilização operada quando “se fratura” “a velocidade” e se localiza “o ponto morto” “que a linguagem”, a literatura, a leitura “pôs / em vibração”. Resta perguntar agora – depois de tantos tempos, espaços e vozes mobilizadas – se é aqui, como lemos em Carlos de Oliveira, o “aí” do poema onde se determina “com exatidão / o foco / do silêncio”? 4.9. FOCO DO SILÊNCIO É dentro desse “ponto morto” – espécie de reunião das contrariedades do texto: memória e futuro, mobilidade e imobilidade – que produzirá a tal irradiação de silêncio de que o poema fala. Vista assim, é claro que tal produção – até porque se trata de um desencadeamento – está relacionando com a vivência de tempos distintos dentro do mesmo tempo-espaço que é “Estalactite”. Ou seja, “o foco de silêncio” é produzido, sobretudo, através da vivência de um tempo sincrônico experimentado pelo sujeito. E, como sabemos, tal posicionamento do sujeito, ao menos ambíguo, é produzido por duas forças, dois vetores. Um em que o sujeito se aproxima pela lembrança. Nesse caso teríamos a possibilidade da encenação do ato de produção do texto, realizado agora a partir da tentativa de um retorno, criação de uma memória. E, como vimos, outro em que o sujeito se aproxima pela projeção. Nesse caso, teríamos a encenação do ato de recepção do texto, realizado agora a partir da tentativa de prever sua leitura, possibilidade de calcular os caminhos futuros que trilhará, já que está sempre em deslocamento, transformação. Tal tensão é produtora desse silêncio escrito, tanto porque o vetor da memória é precário, como também porque o vetor da projeção é dispersivo. Ao mesmo tempo em que se relacionam numa relação de complementaridade, relacionam-se numa relação de 95 contrariedade 21 . É esse afastar e aproximar-se que acaba irradiando sentidos silenciosos, porque sujeitos à precariedade, à dispersão – quem sabe outra modalidade do fingimento pessoano ou da errância camoniana, espécie de proprium da literatura portuguesa. Nisso um retorno a O aprendiz de feiticeiro, em especial a um texto intitulado, talvez muito ao gosto de Umberto Eco 22 , “Na floresta” será bem conveniente: “Escreve-se sempre num ponto morto, entre duas velocidades, a que se extinguiu e a que vai surgir. No ponto morto falta a velocidade real do motor, há apenas movimento fingido que acabaria em breve se a nova velocidade faltasse” (OLIVEIRA , 2004, p.135). Nesse sentido, a “velocidade fracturada” de há pouco é a tensão entre o que caminha para a extinção – mas não a alcança – e aquilo pelo qual se espera – e que nos chega apenas como expectativa. Ambos dotados da precariedade necessária, espécie de consciência ficcional, “movimento fingido”, que mantém o poema, a literatura, no registro da brevidade ou da permanência breve, povoamento por fim condenado ao nomadismo. A esse trecho de “Na floresta” acrescentamos outro de O aprendiz de feiticeiro, já conhecido por nós. Do texto homônimo do livro de poemas de 1968, “Micropaisagem”, o trecho, entre outros, motivador de nosso trabalho: “O livro [Micropaisagem], qualquer livro é uma resposta feita à sensibilidade, à inteligência do leitor: são elas que em última análise o escrevem” (Idem, p.184). No que diz respeito a isso, O aprendiz de feiticeiro, como já vimos, no capítulo anterior, é um manancial de referências à leitura. Assim, pode-se notar que o mecanismo de produção textual de “Estalactite” já pressupõe em sua feitura o ato de recepção. Porém, no mesmo texto, seguindo pelo mesmo trecho de O aprendiz a projeção via leitura, filia-se a irradiação de silêncio prevista pelo e no poema: “Quanto mais depurada for a proposta (dentro de certo limites, claro está), maior a sua margem de silêncio, maior a sua inesperada carga explosiva. A proposta, a pequena bomba relógio, é entregue ao leitor. Se a explosão se der ouve-se melhor no silêncio.” (idem, p.184). Assim, o silêncio é produzido para e na leitura. E como quase tudo aqui opera por oposição é natural que o silêncio produza uma explosão ou a explosão produza um silêncio. 21 “Mas o essencial na obra de Carlos de Oliveira consiste na percepção de que em todos estes conjuntos existe uma lógica de atracção-repulsa que os domina. Em relação a eles, a escrita é uma tentativa para encontrar uma homologia, um modelo” (COELHO, 1972, p.141). 22 “Mesmo quando não existem num bosque trilhas bem definidas, todos podemos traçar sua própria trilha, decidindo ir para a esquerda ou para a direita de determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por esta ou aquela direção. Num texto narrativo, o leitor é obrigado a optar o tempo todo” (ECO, 1994, p.12) 96 O certo é que agora o poema a partir desse foco, dessa proposta, que já conhecíamos através das tensões vistas, deixa contaminar a sua paisagem por esse rumor, por esse silêncio, porque antecede e sucede uma explosão, perturbador. Tanto que agora a ação seguinte, uma projeção, se dá já nesta paisagem: “Espaço / para caírem / gotas de água / ou pedra / levadas / pelo seu peso” (p.239). Tal movimentação irá produzir a apreensão daquele mesmo objeto, múltiplo das estrofes anteriores agora já sob um fundo silencioso. E, embora tente, não consegue diminuir o grau de imprevisibilidade de seu deslocamento, i.e., não consegue evitar o status acidental de seu percurso, aquilo que não pode, embora se esforce, prever, calcular. Medir o deslocamento que a recepção do próprio texto opera: uma projeção dispersiva. Vejamos a estrofe completa: “Espaço / para caírem / gotas de água / ou pedra / levadas / pelo seu peso, / suaves acidentes / da colina / silenciosa para / a cal / florir / nesta caligrafia / de pétalas / e letras.” É por isso que a cal pode florir assim como a flor pode se tornar calcária, como já vimos. Estamos diante do mesmo objeto, ou visto no passado, recordado, ou visto no futuro, projetado. Sempre a partir daquela identidade que já vimos entre texto e paisagem, erigir – porque fruto de trabalho, aqui, manual, portanto humano – por esta “caligrafia / de pétalas / e letras.” Roland Barthes reconhece no silêncio uma das possíveis forma de desejo pelo Neutro 23 . Ele nos fala de duas hipóteses de manifestações: sileo e taceo. “Em suma, silere remeteria de preferência a uma espécie de virgindade intemporal das coisas, antes de nascerem ou depois de desaparecerem (...)” (BARTHES , 2004, p.49). Do outro lado, temos o tacere: “silêncio da fala” (Idem, p.49), “silencio verbal” (idem, p.50) que está ligado ao calar-se porque não se pode falar ou porque não se quer falar. Se falássemos a partir de Barthes, o silêncio visto no poema “Estalactite” – manifestação natural, entre outras, das “gotas de água ou de pedra”, movimento e ao mesmo tempo fixação – estaria mais próxima de sileo, “silêncio de toda a natureza, dispersão do fato- homem na natureza (...)” (Idem, p.65). Até porque no poema a manifestação que se quer como natural é evidente. Mas todo trabalho como sabemos é cultural e se o incidirmos sobre a natureza torná- la-emos assim paisagem, o que implicaria algum grau de, segundo Barthes, taceo. Mas se colocássemos o trabalho de Carlos de Oliveira numa linha do tempo, contrariando-o portanto, veríamos que aos poucos sua obra foi se transformando 23 “O desejo do neutro é desejo em primeiro lugar: suspensão das ordens (ephoké), leis, cominações, arrogâncias, terrorismos, intimações, exigências, querer-agarrar; em seguida, por aprofundamento, recusa 97 de um silêncio taceo, calar, para um silêncio que caminha ou se constrói como sileo, a ausência ou, seu contrário, o excesso. Talvez Carlos de Oliveira tenha aprendido, através do silêncio forçado de um totalitarismo também silencioso, as regras e as possibilidades que apenas o silêncio pode lhe fornecer. É como se sua obra incorporasse a interdição da fala realizada pelo despotismo e a transformasse em modo de produção, mecanismo poético de construção de sentidos. Silencioso é tudo aquilo que se desvia da fala, do som, mas que por contraponto mesmo significa tanto quanto ou, em algumas condições, até mais. Nesse sentido a reescrita de sua obra poderia ser uma possibilidade de manifestação de silêncio. Além de, como vimos, ajudar a suspender um tempo diacrônico, faz com que o texto opere não só pelo que nele há, mas também pelo que nele falta. Apenas como exemplo, lembremos do romance Alcatéia (1944) 24 que já não integra a obra de Carlos de Oliveira. Esta é o primeiro livro reescrito pelo autor, não porque quisesse, mas porque a censura, taceo, o exigiu. Depois outros romances seriam reescritos, não por uma proibição alheia à linguagem, mas pelo seu próprio mecanismo de rigor poético que se encaminha para aquele silêncio insistente e semeador que deve ser oferecido e produzido na leitura. Ponto morto, ponto imóvel, ponto zero, neutralidade irradiadora de caminhos. Pois o silêncio, aquilo que “é produzido contra os signos, fora dos signos, o que é produzido expressamente para não ser signo, é bem depressa recuperado como signo (...)” (Idem, p.58). do puro discurso de contestação: suspensão do narcisismo: não ter mais medo das imagens (imago): dissolver sua própria imagem (...)” (BARTHES, 2003, p.30, grifos nossos) 24 Alcatéia conheceu duas edições. A primeira foi retirada do mercado ainda 1944. A segunda, não propriamente com alterações mas com ausências, foi publicado em 1945 pela mesma Coimbra Editora. 98 4.10. ARQUÉTIPO DO VOO As três estrofes que se seguem repetem e desenvolvem (como veremos ou vimos, a repetição é a condição mesma para se obter a estrutura e portanto o desenvolvimento do texto) este movimento, gesto silencioso, em que se relacionam sujeito(s) e objeto(s). Como sabemos, o texto é o próprio objeto flagrado, ou antes, ou depois de sua feitura: flor de cal, ao mesmo tempo, flor antecipada que se desloca metaforicamente e se converte na imagem ambivalente, porque fixação e movimento, da estalactite. A estrofe VI, VII e VIII, na esteira da V, encenam tal movimento. A relação entre fixidez e mobilidade ganha nova imagem, a do vôo. Não é o vôo em si que interessa, mas o deslocamento de sua imagem. Por isso lemos no poema “o arquétipo do vôo”. Tal como vimos antes a partir da imagem em deslocamento de dança e dançarina o arquétipo da dança, espécie de tradução do já lido trecho: “um outro movimento / mais subtil / o da estrutura”. Vejamos: “Algures / o poema sonha / o arquétipo / do vôo / inutilmente / porque / repete / apenas / o signo, o desenho / do outono / aéreo / onde se perde a ave / quando vier / o instante de voar” (240). Tal operação no entanto apresenta-se como desejo e não como plena realização. Porque ao conseguir se tornar análogo à paisagem, quer dizer – reproduzir formalmente um movimento natural acaba por deformá-lo ou, melhor, transformá- lo. O que aqui vemos, e o “Algures” é índice dessa diferença, é a tentativa do texto repetir a paisagem. Tal operação parece não fazer coincidir um e outro exatamente. Nesse sentido a poesia de Carlos de Oliveira seria profundamente realista na medida em que deseja de alguma forma repetir, imitar não a natureza em sua aparência a partir de uma estética naturalista (que parte de uma convenção mais ou menos estabelecida e aparente do que seja real), mas imitar a estrutura mesma com que se forma a paisagem. Apreender os seus mecanismos e desenvolvê- los criando um poema em que o mundo se veja espelhado, não a partir de uma visão de mundo partilhada pelo senso comum, mas a partir de seus mecanismos de formação, estrutura – disposição e função de itens. Para isso uma passagem muito citada de “Almanaque literário (194-1969)” é importantíssima: a) o meu ponto de partida, como romancista e poeta, é a realidade que me cerca; tenho de equacioná-la em função do passado, do presente, 99 do futuro; e, noutro plano, em função das suas características nacionais ou locais; b) o processo para transpor em termos literários está sujeito a um condicionamento semelhante ao dela e até ao condicionamento dela (em última análise, o processo faz parte da realidade); c) é essencial porém não esquecer estas duas coisas: a realidade cria em si mesma os germes da transformação; o processo consiste sobretudo em captá-los e desenvolvê-los num sentido autenticamente moderno (...) (OLIVEIRA, 2004, p.65) É como se o poema ao imitar a dança ou o vôo conseguisse apenas reter o movimento, mas não seu autor. A obra, sendo um dado da realidade, tem “os germes da transformação” que esta tem. Mas é justamente esse espaço problemático, silencioso, que nos interessa, porque ora ele aparece como ambivalente, tal qual vimos na apreensão do sujeito antes e depois do objeto; ora, tal qual presenciamos agora, como movimento deslocado de seu autor, espaço em branco. Os dois posicionamentos caminham numa mesma direção. Aquela que diz que o poema, como um horizonte, é um espaço ordenado a ser ocupado pela leitura. Um espaço que ora espera, quase como um convite, sua ocupação; e que ora faz conviverem em si ocupações distintas, conflitantes. Nisso permitiria o tal povoamento de sua paisagem, pois funcionaria como um horizonte. Nesse sentido não seria descabido apontar em Carlos de Oliveira uma possibilidade de construção de mundo a partir da mímesis, tanto no que diz respeito à aristotélica imitação da práxis humana, quanto no que se refere à não menos aristotélica necessidade da relação entre espectador e obra. O poema, mais do que reprodução ou produção de um mundo, é a atualização deste, atualização esta, como sabemos, que só ele pode fazer. Nesse sentido, essa é a relação mimética de poema e mundo 25 . Justamente por serem não coincidentes que o primeiro integra o segundo. Sua repetição é parcial e produz variantes. Nisso poderíamos chamála de errante, porque parcialmente o perde: “o poema sonha / o arquétipo / do vôo / inutilmente”. Mas é justamente por perdê- lo que o integra em seu horizo nte de expectativa. Errante porque não fixa seus referentes, ou seja, no poema eles são moventes. É dessa movimentação ou não coincidência exata que surge a possibilidade 25 Manuel Gusmão no que se refere a representação também prefere uma imagem entre a descontinuidade e a continuidade, extensão e interrupção: “É por isso que se é justa a ‘imagem’ destes poemas ‘a caírem’ (e esta idéia do poema que na página cai iremos encontrá-las em livros futuros, por exemplo em Sobre o lado esquerdo), também é justa a ‘imagem’ de que eles se erguem, na página. E talvez na combinação destes dois movimentos nós encontraremos, então, a imagem mais rigorosa para os representar” (GUSMÃO, 1981, p.45-46). 100 de agora o poema – já atualização do mundo – ser visto como potência em relação à leitura, i.e., ele é atualizado através dela. Melhor, assim como o poema é uma atualização do mundo, a leitura é uma atualização do poema. Daí a possibilidade de no poema conviverem sentidos opostos, como acontece aqui entre os dois vetores. Quanto mais vezes o poema é atualizado, mas a paisagem é povoada. Embora “Estalactite” seja uma tentativa ou apenas um desejo de neutralização do tempo, seus sentidos podem se dar apenas devido à sua exposição ao tempo, pois é ele – o mesmo tempo – que sujeita o poema a leituras e caminhos distintos que de uma só vez se tocam e se afastam. As estrofes VII e VIII aprofundam a movimentação do texto estabelecendo novas oposições. Em relação à estrofe anterior – a imagem de um vôo, em que não há pouso – essas duas voltarão à imagem da incessante estalactite, já objeto de uma contradição interna. Seria interessante lembrar da relação que o poema pode estabelecer com o famoso soneto de Sá de Miranda em que a imagem de pássaros que caem simboliza o tempo. Aqui o primeiro quarteto do poeta quinhetista: “O sol é grande, caem co'a calma as aves, / do tempo em tal sazão, que sói ser fria; / esta água que d'alto cai acordar- m'- ia / do sono não, mas de cuidados graves.” (MIRANDA , 1989, p.162). Curioso que em “Estalactite”, um poema também sobre o tempo, não haja, embora o vôo, aves que possam cair 26 . A queda, passagem e suspensão do tempo, verificaremos apenas na imagem do gotejar da estalactite. O inútil e eterno vôo, porque sem ave – no entanto imagem da leveza absoluta e impossível –, estabelece oposição com o incessante gotejar, a um tempo água e pedra, da estalactite. Se antes o poema era uma sugestão, “nesta caligrafia / de pétalas / e letras” (239), agora ele se faz como presença primeira surgindo pela estalactite: “O pulsar / das palavras, / atraídas / ao chão / desta colina / por uma densidade / que palpita / entre / a cal / e a água, lembra / o das estrelas / antes de caírem” (241). Não as palavras, mas o seu pulsar com todo seu peso, ou seja, aquilo que nelas mais se aproxima da vida – palpitante coração – é o contraponto daquele vôo idealizado, leve e aqui inútil. Lembremos que a queda das estrelas aqui repete uma imagem que já foi inegavelmente positiva na obra de Carlos de Oliveira no já mencionado poema “Estrelas”. “E também nesta imagem reunida nós lemos a oscilação que com uma nova clareza simbólica, neste livro [Cantata], nós sabemos ser oscilação interna do poema e oscilação entre a palavra e o mundo, entre o peso e o vôo” (Idem). 26 Eduardo Prado Coelho sobre Ave Solar: “Mas voar é aproximarmo s-nos da queda, é estabelecermos as condições de sua possibilidade” (COELHO, 1972, p.114). 101 4.11. POVOAMENTO DA PAISAGEM Quanto mais se desenvolve, o texto vai fixando a relação paisagem-poema – ou melhor, o poema que repete a natureza e produz a paisagem – entremeando imagens de um com outro, confirmando o texto como lugar a se povoar. Assim a imagem da estalactite persiste e nos relembra da dupla flor – projeção e lembrança – construída pela relação ambivalente entre sujeito e objeto: “Caem / do céu calcário, / acordam flores / milénios depois, rolam / de verso / em verso / fechadas / como gotas, / e ouve-se / ao fim / da página / um murmúrio / orvalhado” (p.242). Vemos que o próprio movimento de leitura é a formação da estalactite. Eis os versos: “como gotas”. O que agora o poema quer é ressaltar a sua materialidade, realidade. O realismo possível é o do dizer, que em verdade integra-se como parte da estrutura da natureza, realidade, como vimos na última citação de O aprendiz: “o processo [de transposição literária] faz parte da realidade” (OLIVEIRA , 2004, p.65). Quanto mais o sabemos poema, mais ele se vai convertendo na estalactite e assim, portanto, formando a paisagem. Tal operação, como que confirmando toda a movimentação e errância do texto, se dá através de um jogo entre identificação (imitatio, no que reconstitui os índices naturais) e diferenciação que aproxima e distancia o poema de ser atualização (representação versus apresentação). No poema vemos isso justamente nessa nova oscilação entre a estrofe VI, a do arquétipo do vôo, e as estrofes VII e VIII em que temos, como vimos, “o pulsar / das palavras / atraídas / ao chão”, rolando “de verso / em verso / fechadas / como gotas” (241). Não será estranho agora lembrarmos do soneto “Rudes e breves as palavras pesam” de Cantata em que lemos no dístico final a mesma imagem de estalactite. Mesma imagem, no entanto, com um posicionamento mais marcado, porque agora preferir-se-á a leveza ao peso: “ó palavras de ferro, ainda sonho / dar-vos a leve tempera do vento” (181). Aliás, esse soneto tem uma imagética em muito parecida com “Estalactite”. Basta compararmos o “ainda sonho” com “o poema sonha”. Podemos ainda ler no soneto “acender-te o granito das estrelas / e nestes versos repetir com elas / o milagre das velhas pederneiras” e lembrarmos- nos tanto da “densidade / que palpita / entre / a cal / e a água” que “lembra / o [pulsar] das estrelas / antes de caírem” (241), como também do fato que em “Estalactite” o poema “de verso / em verso” “repete / 102 apenas / o signo, o desenho do outono aéreo” (p.240). Se em Cantata tais imagens gostariam definitivamente de pender para o lado da leveza, agora em Micropaisagem a oscilação, podemos dizer, é a tônica. O que só reforça como no passar dos anos tais oposições e instabilidades – errância e de certa forma aquilo que no texto se silencia e portanto significa – foram ganhando espessura. Passando por Entre dias memórias e chegando no limite da experiência de tempo que é Finisterra – paisagem e povoamento. Ao criar essas tensões – entre a posição ambivalente do sujeito, recordar e prever; entre mobilidade e fixação da estalactite; entre imitação, repetição, e natureza; ou ainda entre arquétipo de vôo, leveza, e a atração, peso, dos versos pelo chão – o poema vai revelando e formando, a partir mesmo do rigor de ordenação daquilo que não pode ser medido e imobilizado, um espaço extremamente áspero. Natureza repetida que justamente por ser repetida, através de uma operação subjetiva – e aqui produção e recepção de texto se confundem –, torna-se paisagem, lugar modificado, portanto, atualizado, povoado. Visto isso, tal espaço dificilmente seria passivelmente ocupado. Dado o deslocamento ininterrupto das imagens, tal povoamento é por natureza errante. Nesse sentido essa paisagem, através dessa construção mimética, consegue formalmente dá a ver à nossa experiência de leitores um lugar. Lugar esse análogo a uma Gândara em que se sobressai sobretudo a dificuldade de povoá- la, devido às suas condições precárias de produção e distribuição de riquezas, devido à sua natureza áspera em que temos de fato a experiência social da falta de recursos. Já vimos antes em O aprendiz alguns momentos em que diz isso claramente 27 . Chamamos atenção, portanto, para aquilo que “Estalactite” consegue, não através da imitação do que se chama da realidade a partir de índices que o senso comum partilha 28 , mas sim por meio da imitação da experiência do sujeito na paisagem. O realismo produzido na poesia de Carlos de Oliveira se encaminha para a materialidade do dizer. Por mais que se aproxime da coisa imitada a condição de poema sempre estará lá, como que “nesta caligrafia de pétalas e de letras”. Aliás, o que potencializa a coisa imitada – e portanto a torna matéria atualizável – é a consciência de sabê- la não puramente como mediada pela linguagem do poema, mas 27 “Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa Senhora de Febres (...). Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma emigração espantosa. Natural portanto que tudo isso me tenha tocado (melhor tatuado). (...) A matéria de alguns poemas da “Micropaisagem”, talvez mais decantada [desencantada?], mais indirecta, é a mesma (OLIVEIRA, 2004, p.183-184). 28 “Porque entre o real representado e a efetiva representação interferem as regras dos códigos com que esta se formula. Toda representação cultural, i.e. humana, se faz mediante o uso de um código e, à medida que o emprego deste se torna freqüente, o esquecemos como código e o encaramos como um prolongamento da natureza.” (COSTA LIMA, 1974, p.34) 103 como, entre outras coisas, a própria linguagem do poema, que justamente por sua conformação é análoga à paisagem naquilo que tem de mais difícil, breve, silencioso ou quase. Apenas porque lemos, ouvimos “ao fim / da página / um murmúrio / orvalhado” (p.242). Ler o poema é deslocar-se, movimento errante que nos revela o texto como figuração, de algum modo, da falta. Estamos expostos – é o que nossa leitura produz – a experiência da brevidade, da escassez. O mais próximo que podemos chegar do silêncio. Tais deslocamentos incessantes devem-se sobretudo ao rigor ordenador de imagens, perturbador do tempo e daquilo que o diz: “o trabalho sobre a linguagem sempre oferece um resultado não previsto, i.e., sempre fere seu conteúdo” (COSTA LIMA, 1974, p.30). E é por se desviar, ferir, através mesmo do recorte que dá à natureza, que “Estalactite” acaba por proporcionar algo ao leitor análogo a vivência da paisagem gandarense. A referência do poema é mais em relação a experiência de um índice da cultura do que propriamente em relação ao índice mesmo da cultura, no caso a paisagem áspera de Gândara. Visando não exatame nte a coisa, mas nossa relação com a coisa, ou seja, atualizá- la, o poema acaba ganhando uma vida que o aproxima mais dessa realidade do que se prestasse a fazer alguma descrição ou narração, utilizando sua representação cultural mais partilhada. Por esse caminho, chegamos a mais uma entrada em que a recepção do texto é central, mesmo quando ainda estamos a pensar no ato de produção do poema. Já que ele incorpora a recepção e exige dela, como vimos, o que tem de mais produtivo. O que vemos agora nas estrofes que se seguem funciona como uma espécie de movimento circular. Dadas as imagens e a maneira como elas se relacionam, contrapondo-se, deslocando-se, “Estalactite” começa a repeti- las, não exatamente como já haviam se mostrado, mas sim de forma permutável em que algo de uma estrofe anterior se mistura a algo de outra estrofe anterior. É como se já conhecêssemos as imagens, mas, de uma só vez, as estranhássemos. Parafraseando Borges, são as mesmas e já outras. Na nona estrofe lemos: “Imaginar / o som do orvalho” (p.243) e nos lembramos da segunda. E continuamos: “transmiti- lo / de flor para flor,”; o repetir de antes se transforma em transmitir porque assimila o “de verso para verso” que agora lemos “de flor para flor”. Seguindo: “guiá-lo / através do espaço / gradualmente espesso / onde se move / agora / [água? cal], / e captá- lo como / se nascesse / apenas / por ser escrito.” Esse “espaço / gradualmente espesso” não nos é novidade. Vimos algo em Camões e Cabral que confirmava esta espacialização desse tempo em que o sujeito se desloca através de sua “frágíl espessura” (p.238). Mesmo a construção sintática se 104 repete: aqui lemos “onde se move” (p.243), antes líamos “onde a velocidade / se fractura” (p.238). O que ajuda a caracterizar, embora plural, a unidade do movimento; afinal se nos movemos, é através dessa velocidade fraturada. E onde antes víamos “registar”, vemos “captar”. Captação/registro que se manifestou como murmúrio orvalhado ao fim da página – um desenvolvimento do silêncio – e que agora passa do oral para o escrito, visual: “captá- lo como se nascesse para ser escrito” (p.243). Daí que possa o poema agora já sob um registro visual, utilizar um esquema gráfico que é silencioso, porque instransponíve l para fala: ? . Representação, ou melhor, encenação mesma desses deslocamentos silenciosos que configuram o texto, entre eles: “[água? cal]”. Toda essa repetição, em verdade, emula a própria ação do poema em relação à natureza. O fato de ele pretender imitar a natureza – imitatio –, acaba desencadeando a repetição, dele mesmo. É como se ele ativasse um mecanismo e não conseguisse interrompê- lo ou perdesse o controle sobre o mesmo. Porém tal errar só acontece porque o poema encara como matriz tanto a natureza – tal qual fazemos no cotidiano – como também o próprio poema, ou seja, poema e realidade ocupando um mesmo registro, como vimos em O aprendiz de feiticeiro. Isso acaba revelando o que ambos têm em comum: o fato de serem, sem hierarquia, construções discursivas. No entanto, como tal imitação não é possível, pelo menos nesses termos, tal repetição produz variantes inúmeras. Sendo conseqüência portanto de partes diversas do poema até aqui, esta nona estrofe, no que repete, acrescenta outros termos à ordem do texto. Por exemplo: ‘imaginar’ aqui ao invés de produzir é produto, ou, segundo o poema, é ‘como se’ fosse um produto, revelando a proximidade distante ou a distância próxima necessária entre poema e realidade. Ou seja, captar (versus imaginar) não o orva lho, mas seu som – a impressão que dele temos – e construí- lo, conduzi- lo, “guiá- lo” pelo sujeito até e para a produção do texto. O poema não se quer como orvalho, mas como nossa impressão auditiva do orvalho que deve variar de um para outro como qualquer impressão varia. É por isso que é “como / se nascesse / apenas / por ser escrito.” O poema, embora criticamente encene a tentativa de sê-lo, não é o som do orvalho. O poema é, sim, a única possibilidade de escutarmos esse som. É o poema, a sua forma, aquilo que dissemina tal experiência em nós. Assim, essa se espalha sendo transmitida e alterada de “flor para flor”. É na “particularidade de cada gesto de leitura que o poema permite uma resistência à indiferenciação” (LOPES , 1995, p. 71). Como vimos, o texto é o lugar onde diversos deslocamentos convivem, entre eles, a errância entre poema e paisagem em que, no mesmo tempo que são 105 convergentes, também apontam para uma divergência. E é tal divergência – que pode ser exemplificada rapidamente agora tanto pela imitação da natureza quanto pela repetição no poema de imagens e estruturas sintáticas – que produzirá a possibilidade de variantes e, portanto ,de multiplicações de caminhos, melhor, que produzirá a encenação no poema de sua própria recepção ou, como propomos, do povoamento da paisagem. Esta tensão apenas integra um conjunto maior de deslocamentos, como aquele por que começamos nossa leitura do poema, em que tínhamos dois vetores, um para trás e outro para frente. Vetores que estão no poema em freqüente tensão. Tais vetores agora já encontram representação gráfica como vimos na nona estrofe e como vemos agora na décima primeira. E esses vetores são a materialização não verbal, portanto silenciosa, da experiência de deslocamentos no poema: “O peso / da água / a tal distância / é quase / imperceptível, / porém pesa, / paira, / poisa no papel / um passado / de pedra / [cal? colina] / que queima / quando / cai” (p.245). Se antes tínhamos “água? cal”, portanto uma projeção; agora temos “[cal? colina]”, num movimento de retorno. Enquanto o primeiro está ligado à possibilidade no texto de leveza, porque de dispersão e de preenchimento dessa paisagem pela leitura, mas que em si já mostra a sua precariedade, porque vai da água (movimento e vida) até a cal (morte e espaço em branco); o segundo revela- nos “um passado / de pedra”, vetor para trás, da memória que tenta, embora impossível, a ordenação inequívoca, a fixação de um só ponto. Tarefa que também acaba se revelando impossível porque vai da colina, lugar a ser ocupado, até a cal, dispersão e morte. Ou seja, embora através de direções distintas, esses deslocamentos chegam a uma imagem afim: a cal29 . Imagem com que o poema se inicia: “O céu calcário / de uma colina oca”. Imitar a cal, ou melhor, produzir em que lê o efeito que a cal produz em quem a experimenta: tanto algo ligado ao cálcio, dureza e resistência, como algo ligado à dispersão e morte 30 . Abramos um breve parêntesis. Pois em O aprendiz de feiticeiro, o autor escreve algo sobre a possibilidade desse efeito duplo da palavra cálcio: “Eu explico-te melhor a minha teoria. Osso, cálcio. A palavra cálcio subdivide-se noutras duas: cal e cio. Pode não ser uma descoberta importante mas aposto que não tinhas reparado nisso. O mineral e o animal ao mesmo tempo. Quando o cio, o tutano, o animal, se decompõe e desaparece, fica o mineral, a nossa durabilidade extrema, 29 A imagem da cal em “A dádiva suprema”, texto de O aprendiz de feiticeiro dedicado à morte de Afonso Duarte: “Os muros do cemitério, dessa brancura morta que só a cal tem, alvejam lá do fundo.” (OLIVEIRA, 2004, p. 14). 30 Eduardo Prado Coelho fala da Caligrafia como uma possível escrita da cal: “(...) o poema aparece como cal(i)-grafia, grafia da cal (...)” (COELHO, 1972, p.121). 106 a nossa resistência ao tempo. Só ele faz pensar um pouco na eternidade, vista do ângulo que te interessa.” (OLIVEIRA, 2004, p.73) Essa leitura da palavra cálcio feita por um dos diversos narradores-personagens de O aprendiz de feiticeiro vem encontrar nossa leitura de “Estalactite”. O que ele ressalta é a possibilidade da convivência de duas naturezas distintas num só espaço, o espaço que é a palavra cálcio: “O mineral e o animal ao mesmo tempo”. Naturezas distintas, mas que têm profunda relação uma com a outra, já que “Quando o cio, o tutano, o animal, se decompõe e desaparece, fica o mineral, a nossa durabilidade extrema, a nossa resistência ao tempo.” E o que “Estalactite” encena em seu jogo de contrários? Passado e futuro – lembrar ou prever. Fixação e mobilização: todos fragilmente retidos na imagem da estalactite em que há gotas ora de pedra ora de água. Esses deslocamentos operados por esses vetores em tensão são análogos ao jogo gráfico que divide a palavra cálcio. O mineral é a projeção possível do animal, seu futuro; assim como o animal é a lembrança do mineral, seu passado. Para lá da oposição que os definem, como vemos, os dois funcionam numa linha temporal de contigüidade e, portanto, de mútua dependência. O excesso ou falta de temporalidade de “Estalactite” se quer muito histórica, não porque seja marcada, como o foi o neo-realismo, mas porque é a reunião dessas temporalidades afins e diferentes. A “nossa resistência ao tempo”, de que fala a voz de O aprendiz de feiticeiro, é a total vivência e imersão nesses tempos ou, pelo menos, sua tentativa : processo de atualização no poema. O que fica do animal é, portanto, o cálcio, os ossos, o mineral. A “eternidade, vista do ângulo que te interessa”, que já passou aqui pelos rios camonianos, é o prolongamento da tua, para falar com o poema, ou melhor, da nossa experiência do breve. A fixação da brevidade, que é o poema, não é extinção da mesma através de um possível prolongamento seu – logo diminuição de seu efeito –, mas a sua recorrente insistência, potencialização atualizada na leitura. O que “Estalactite” fala, através de suas tensões, deslocamentos e silêncio, é de nossa própria condição: é a nossa experiência da brevidade. Por isso a escrita de um poeta como Carlos de Oliveira está muito atenta ao ato de leitura. Temos a mímesis não por essa escrita ser espelho de uma superfície – assim seus efeitos seriam menores –, mas por provocar em que m a olha, ouve ou toca sensação análoga à experiência da mesma. Sendo assim o poema é tanto mímesis da paisagem – da Gândara inclusive – como da vida, pois o que interessa a ele não são os índices em si, mas precisamente a sua repercussão em nós. O sujeito na leitura, ao povoar a paisagem, está assim mais tempo sujeito a essa experiência da brevidade, do efêmero, do fim e, portanto, do 107 silêncio. Assim, o poema cria uma espécie de campo de força entre termos como ‘deslocamento’, ‘errância’, ‘brevidade’, ‘falta’, ‘silêncio ’. Silvina Rodrigues Lopes em seu texto falará justamente, indo em um sentido parecido, de um povoamento através da errância. Com Finisterra, ela fala de certas “(...) cenas em que a fixação à terra, o povoamento (junto ao mar) se confunde com a peregrinação (...)” (LOPES , 1992, p.80). E ela chega a tal afirmação mais por meio de uma experiência formal de texto enquanto texto, do que propriamente através do espelhamento de representações classificáveis da realidade. Suas deambulações pelo e do texto se dão, a saber, “através da qual se propõe um jogo de signos lingüísticos que pensando a sua relação ao mundo das afecções e das acções se constitui em directa oposição à fixação do intérprete lógico final” (Idem, p.77). E é essa não- fixação – como num nomadismo (e aqui as dunas da paisagem gandarenses encontrariam a sua equivalência) – ou a fixação de sua brevidade – no objeto, afinal nomeadamente fruto de um trabalho, poema – que se traduz a relação tensionada de aproximação e distanciamento, interrupção e continuidade, memória e projeção ou, em equivalência, cal e cio. Tal errância, no entanto, significa mais como presença do que ausência. Até porque depende da ação direta do homem na linguagem. O que faz do lugar paisagem é seu povoamento através do trabalho do poema, da leitura. Assim a poesia de Carlos de Oliveira, mais do que ser uma afirmação da possibilidade da arte ultrapassar o tempo, como é mais habitual, ela é a afirmação do texto como a própria experiência calcificada do fim, ou seja, daquilo que erra, é precário, efêmero, enfim, breve. Povoar essa paisagem incessante é peregrinar pelas palavras, cultivar aquilo que nelas pode haver de mais silencioso. E é essa possibilidade de aprender com o que morre aquilo que essa obra tem de cognoscível. Essa é a última ou a única possibilidade da literatura intervir: de alguma forma ela nos ensina a morrer, ação esta que afinal é o resultado da projeção final de todas as coisas. Terminemos a citação de O aprendiz de feiticeiro que fizemos em algum lugar acima: Escreve -se sempre num ponto morto, entre duas velocidades, a que se extinguiu e a que vai surgir. No ponto morto falta a velocidade real do motor, há apenas movimento fingido que acabaria em breve se a nova velocidade faltasse. Mas não falta. Quando se deixa de escrever para respirar (exigi-o a nossa condição) lá está o tempo à espera e recomeçamos a perdê-lo. Assim se passa da morte aparente (ou da vida fingida que é a criação literária) à vida real que nos conduz pela mão do tempo à morte também real (OLIVEIRA, 2004, p.135). 108 A leitura poderia continuar. Mas os passos até aqui dados são suficientes para a encenação de nossa leitura. Para o levantamento das imagens e estabelecimento e sentido das relações temporais formadas. O melhor que podemos fazer agora, mais do que seguir pelas estrofes restantes, talvez seja lembrar nosso pequeno percurso; percurso este que, embora não termine a leitura do poema, procura localizar e articular os itens formadores de um mecanismo de referencialização – ou povoamento da paisagem– , um mecanismo lucidamente fadado ao deslocamento, dispersão de perspectivas, ângulos. A única exatidão possível e até necessária do poema – e nisso parece não haver dúvidas – é aquela que atesta tanto a sua como a nossa precariedade frente ao tempo e a outras formas de fim. Para concluir, é preciso agora voltar ao livro, por onde começamos e que nos deu instrumental para a leitura do poema, e fechar alguns parêntesis abertos ainda: retomar a O aprendiz de feiticeiro e encontrarmos uma espécie de conceituação para a mímesis e ver como esta se relaciona intimamente com a experiência da brevidade, vista aqui. 109 5. CONCLUSÃO Pouco, muito pouco comparado às florestas por onde errei e hei-de errar. C.O., “Na floresta” O capítulo O mundo comum percorreu alguns aspectos de O aprendiz de feiticeiro para que a leitura do poema “Estalactite”, no capítulo subseqüente, pudesse se constituir a partir da imagem que perseguimos: a do povoamento da paisagem. Vimos ora num, ora no outro, como o poema tenta se identificar com um lugar. No livro de Gelnaa – relembremos – Carlos de Oliveira faz isso através de passagens em que expressamente fala dessa relação. Três em destaque, as duas primeiras estão no texto também intitulado “Micropaisagem (1968)”: Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa senhora das Febres. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma emigração espantosa. Natural portanto que tudo isso me tenha tocado (melhor, tatuado). O lado social e o outro, porque há outro também, das minhas narrativas ou poemas publicados (quatro romances juvenis e alguns livros de poesia) nasceu desse ambiente quase lunar habitados por homens e visto, aqui para nós, com pouca distanciação. A matéia de alguns poemas da “Micropaisagem”, talvez mais decantada [desencantada?], mais indirecta, é a mesma (OLIVEIRA, 2004, p.184). Ao fim desse texto, ainda outro trecho importante: A secura, a aridez desta linguagem fabrico-a e fabrica-se em parte de materiais vindos de longe: saibro, cal, árvores, musgo. E gente, numa grande solidão de areia. A paisagem da infância que não é nenhum paraíso perdido mas a pobreza, a nudez, a carência de quase tudo (Idem, p.186). Acima, a relação paisagem versus linguagem é patente. A terceira passagem que confirma essa relação de quase identidade também não é nova e está no início do livro, mais especificamente em “A dádiva suprema (1956 e 1958)”, texto publicado em ocasião da morte de seu mestre, o poeta Afonso Duarte: Escrever é lavrar, penso comigo, olhando esta Ereira onde se fecha hoje o círculo que o seu cantor traçou com a própria voz. E lavrar, numa terra de componeses e escritores abandonados, quer dizer sacrifício, penitência, alma de ferro. Xistos, areais, cobertos de flores, de frutos, se 110 a chuva deixar, o sol quiser, o tempo não reduzir as sementes e o coração a cinza. Tanta colheita perdida na literatura e eu que o diga nesta linguagem de vocábulos pesados como enxadas, na voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios, que os cavadores e os mendigos me ensinaram, lá para trás, no alvor da infância: um pouco de frio e neblina coalhada, sons ásperos, animais feridos (Idem, p.16). Os efeitos dessa identificação entre a linguagem do texto e a paisagem da Gândara dá-se através da recriação por meio de imagens e sintaxes dessa “voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios”. Foi o que vimos na leitura de “Estalacite”. No entanto essa imitação do lugar acaba por se tornar problemática justamente por essa lentidão e silêncios que vão introduzindo no texto espaços em branco, onde o leitor precisa tomar decisões para que prossiga o percurso de sua leitura. Tais decisões, resultado direto da forma do poema, permitem que a leitura crie um caminho próprio, gerando, digamos, variantes de sentido e aquilo a que chamamos de errância. Logo, chegamos a uma conceituação de paisagem que tanto leva em conta essa demasiada identificação sua com o texto, mas também a criação das mesmas variantes de que falamos. A combinação desse movimento de aproximação e de afastamento chamamos de povoamento da paisagem. Tal movimentação tem sua motivação sobretudo na mímesis lida à luz dos conceitos de ato e potência, também retirados de Aristóteles. Como vimos, não se trata de representação nem de apresentação, mas da atualização de algo em potência. O texto é atualização do mundo, da mesma forma que a leitura é uma atualização do texto. Essa é a relação mimética entre mundo e poema. A presença de tempos diferentes nos textos de Carlos de Oliveira (proporcionada tanto pela reescrita – aqui o exemplo foi de O aprendiz de feiticeiro –, quanto pela presença de tempos distintos no poema – nossa argumentação tratou dos dois vetores de “Estalactite”) só confirma esse pendor para a produção de sentidos variantes, ocupando um mesmo espaço, que tem no povoamento sua metáfora. Há em O aprendiz de feiticeiro, entretanto, uma imagem que pode representar a mímesis tal qual a compreendemos aqui: a leitura que atualiza um texto, o leitor que povoa a paisagem. Interessante que tal imagem figure no mesmo texto que explicitamente fala sobre biografia, “O iceberg (1966)”. A biografia elidida de Afonso Duarte acaba fazendo com que o autor de Finisterra chegue a uma imagem em que sua obra encontra uma equivalência: as metamorfoses repetitivas. Segundo ele, essa “metamorfose consiste no acto de repetir as formas, quer dizer, de criar formas novas mas idênticas” (Idem, p.174). A partir disso não seria absurdo falar em imitação na obra 111 de Carlos de Oliveira, já que essa criaria “formas novas mas idênticas”. O importante é saber que tal duplo produz variantes, podendo assim ser visto como materialização da mímesis. “Os crepúsculos por exemplo não são perda da qualidade fundamental (que é invariável) mas nuances da metamorfose repetitiva” (Idem, p.170). Melhor, acontecem mudanças, mas nenhuma dessas mudanças nega a forma dada, pois variam apenas naquilo que à atualização é possível variar em relação à potência. E quando faz isso repete um movimento análogo ao próprio movimento da natureza. Até porque é, através da atualização de potências, que também se trans forma a realidade. Trata-se, pois, de “um repetido repetindo as formas na ressurreição cotidiana sem destruir nada em definitivo (a evolução, o desaparecimento de certas espécies, são quotidianamente imperceptíveis)” (Idem). Lembremos de um trecho em “Almanaque literário (19491969)” que agora parece fazer eco a isso: a) o meu ponto de partida, como romancista e poeta, é a realidade que me cerca (...). b) o processo para a transpor em termos literários está sujeito a um condicionamento semelhante ao dela e até ao condicionamento dela (em última análise, o processo faz parte da realidade). c) (...) a realidade cria em si mesma os germes da transformação; o processo consiste sobretudo em captá-los e desenvolvê-los num sentido autenticamente moderno (...) (Idem, p.65). A idéia da “metamorfose repetitiva” é a mesma: criar em termos literários um equivalente para os mecanismos de transformação da realidade. Por sua vez, essa operação se dá sobretudo através da relação entre ato e potência, o mundo como atualizações de potências. O povoamento da paisagem é portanto a convivência dessas atualizações no espaço novo mas idêntico que é o poema. E é justamente por esse caráter, muitas vezes contraditório, que a relação, o convívio entre essas diferentes ocupações, que esse povoamento tende à errância, como vimos no último capítulo: experiência que tende à brevidade. No que o poema consegue emular aquela “voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios” (Idem, p.16) acaba por provocar em quem o povoa não uma emigração definitiva, mas a errância através de sua paisagem áspera. Aspereza cujas partes mais visíveis são o silêncio e a brevidade: “Desses elementos se sustenta bastante toda a escrita de que sou capaz, uma vez explícitos, muitas outras apenas sugeridos na brevidade dos textos. E disse sem querer uma palavra essencial para mim. Brevidade” (Idem, pg.186). A transposição da paisagem para o texto é bem sucedida na medida em que o leitor, ao lê- lo, consegue 112 estar diante dessa experiência do fim: “Que literatura poderia nascer daqui que não fosse marcada por esta opressiva brevidade, por este tom precário (...)” (Idem). Giorgio Agamben, pensando com Aristóteles, escreve que o “prazer (...) é aquilo cuja forma é completa em cada instante, perpetuamente em acto” (AGAMBEN, 1999, p.63). A partir disso e levando em conta que a obra é uma atualização do mundo e por sua vez a leitura é uma atualização da obra, a relação entre texto e leitor é sempre uma relação de prazer, melhor, de completude. Completude que não vem de uma fixação, mas sim, como sabemos, de um movimento incessante de ininterrupção de sentido. “A dor da potência desvanece, de facto, no momento em que ela passa a acto” (Idem). Sendo assim, a brevidade atualizada na obra torna-se não uma experiência negativa, mas sim uma grande experiência cognitiva, como lembra Aristóteles, uma relação de prazer. Com essa perspectiva, a obra de Carlos de Oliveira seria profundamente ética, pois transforma através do texto uma região inóspita e infértil em uma das mais fecundas e ricas paisagens da literatura portuguesa do século XX, tornando seu povoamento um ato que não cessa de acontecer. “É neste ponto que julgo ter a arte um papel de medicina humanística, de contraveneno insubstituível” (Idem, p.180). Assim, longe de qualquer função diretiva da arte sobre a sociedade, a poesia de Carlos de Oliveira através dessa mesma experiência de brevidade – que recria a aspereza do lugar através ora de elipses ora de pontos mortos irradiadores de um silêncio significativo – faz de seu trabalho como que um gesto de resistência ao automatismo dos sentidos culturais, sociais e econômicos. Se a poesia é como queria Maiakovski uma “encomenda social”, o que a sociedade pede aos poetas [homens?] de hoje, mesmo que o peça nebulosamente, não anda longe disto: evitar que a tempestade das coisas desencadeadas nos corrompa ou destrua (Idem, p.181). Resta agora levar esta proposta de povoamento, baseada na valorização do papel do leitor, para outras paisagens-textos de Carlos de Oliveira como o longo poema Entre duas memórias (de unidade ordenadora análoga em muito a de O aprendiz de feiticeiro), ou ainda levar este povoamento para a aparente desertificação de sentido que é Pastoral, seu último livro de poesia, até finalmente entrarmos na floresta de inúmeras veredas que é Finisterra - Paisagem e povoamento, texto para onde convergem muitas das questões vistas aqui. 113 Sabes, leitor, que estamos ambos na mesma página E aproveito o facto de teres chegado agora Para te explicar como vejo o crescer de uma magnólia. A magnólia cresce na terra que pisas – podes pensar Que te digo alguma coisa não necessária, mas podia ter-te dito, acredita, Que a magnólia te cresce como um livro entre as mãos. Ou melhor, Que a magnólia – e essa é a verdade – cresce sempre Apesar de nós. Esta raiz para a palavra que ela lançou no poema Pode bem significar que no ramo que ficar desse lado A flor que se abrir é já um pouco de ti. E a flor que te estendo, Mesmo que a recuses Nunca a poderei conhecer, nem jamais, por muito que a ame, A colherei. A magnólia estende contra a minha escrita a tua sombra E eu toco na sombra da magnólia como se pegasse na tua mão Daniel Faria, Dos líquidos 114 6. BIBLIOGRAFIA GERAL 6.1. DE CARLOS DE OLIVEIRA Alcatéia. Coimbra: Coimbra editora, 1944. Obras de Carlos de Oliveira. Lisboa: Caminho, 1992. O aprendiz de feiticeiro. Lisboa: Dom Quixote, 1971. O aprendiz de feiticeiro. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004. 6.2. DE OUTROS ESCRITORES BRANDÃO, Fiama Hasse Pais. As fábulas. Vila Nova de Famalicão: Quasi, 2001. BORGES, Jorge Luís. Obras completas, vol.2. São Paulo: Globo, 1999. CAMÕES , Luís de. Redondilhas, canções e sonetos. Rio de Jane iro: RGPL, 1980. ______. Os Lusíadas. Porto: Porto editora, 2000. FARIA , Daniel. Poesia. Vila Nova de Famalicão: Quasi, 2003. ELIOT, T.S.. Obra completa – vol.1: poesia. Trad. Ivan Junqueira. São Paulo: Arx, 2004. JORGE, Luiza Neto. Poesia. Lisboa: Assírio & Alvim, 2001. MIRANDA , Sá de. Poesia e teatro. Lisboa: Ulisseia, 1989. NETO, João Cabral de Melo. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. PESSANHA , Camilo. Clepsidra. Lisboa: Edições Ática, 1956. PESSOA , Fernando Pessoa. Poesia completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1986. TORRES , Alexandre Pinheiro. Antologia da poesia portuguesa vol.1 e vol.2. Porto: Lello & Irmãos, 1977. SÁ-CARNEIRO, Mário. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. 115 VALÉRY, Paul. Apontamentos. Arte, Literatura, Política & Outros. Lisboa: Pergaminho, 1994. VILA MATAS, Enrique. Bartleby e Cia. São Paulo: CosacNaify: 2003. _______.O Mal de Montano. São Paulo: Cosacnaify: 2005. YEATS, W.B., Poemas. Tradução de Paulo Vizioli. São Paulo: Cia das Letras, 1992. 6.3 SOBRE CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Ida Maria Santos Ferreira. Carlos de Oliveira e Nuno Júdice – poetas: personagens da linguagem. Tese de doutorado em Literatura Portuguesa apresentada à Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. BAPTISTA-BASTOS. Um áspero diálogo interior. Diário Popular, Lisboa, 22 de abril de1971. COELHO, Eduardo Prado. A palavra sobre a palavra. Porto: Portucalense, 1972. CRUZ, Gastão. Poesia portuguesa hoje. 2 ed. corrigida e aumentada. Lisboa: Relógio d’água: 1999. DIOGO, Américo António Lindeza. Aventuras da mimese na poesia de carlos de Oliveira e na poesia de António Franco Alexandre. Pontevedra-Braga: Cadernos do povo, 1995. GOULART , Rosa Maria. Artes Poéticas. Braga: Ângelus Novus, 1997. GUIMARÃES , Fernando. Florir, parente da floresta. Letras & Artes, Porto, 18 de dezembro de 1981. GUSMÃO, Manuel. A poesia de Carlos de Oliveira. Coleção Textos literários. Lisboa: Seara Nova, 1981. LOPES , Silvina Rodrigues. Carlos de Oliveira – o testemunho inadiável. Sintra: Câmara Municipal de Sintra, 1995. MATEUS, J.A, Osório. Carlos de Oliveira, O aprendiz de feiticeiro. Colóquio/Letras, Junho de 1971. MATOS, Nelson de. A leitura e a crítica. Lisboa: Editorial Estampa, 1971. MARTELO, Rosa Maria. Carlos de Oliveira e a referência em poesia. Porto: Campo das Letras, 1998. 116 MOREIRA , Vital. Paisagem povoada: a Gândara na obra de Carlos de Oliveira. Cantanhede: Câmara Municipal, 2003. NAVARRO, Antonio Rebordão. O aprendiz de feiticeiro. Jornal português de economia e finanças, Lisboa, 16 de maio de 1971. PEREIRA , José Paulo Cruz. Uma cartografia transtornada – A Guernica de Carlos de Oliveira. Braga: Ângelus Novus, 1999. POPPE, Manuel. Um pensador admirável – O aprendiz de feiticeiro de Carlos de Oliveira. Diário popular, Lisboa, 22 de abril de 1971. RUBIM , Gustavo. Arte de sublinhar. Coimbra: Angelus Novus, 2003. RODRIGUES , Urbano Tavares. Negação da biografia exterior. Jornal do comércio, Lisboa, 3 de abril de 1971. SAMPAYO , Nuno de. O aprendiz de feiticeiro de Carlos de Oliveira. A Capital, Lisboa, 28 de abril de 1971. SILVESTRE, Osvaldo Manuel. Trabalho poético de Carlos de Oliveira (antologia). Braga: Angelus Novus, 1996. ______. Slow Motion. Carlos de Oliveira e a pós-modernidade. Braga: Angelus Novus, 1995. SIMÕES , João Gaspar. O aprendiz de feiticeiro, Pequenos burgueses, Uma abelha na chuva por Carlos de Oliveira. Diário de notícias, Lisboa, 20 de maio de 1971. 6.4 TEÓRICO- CRÍTICA AGAMBEN. Giorgio. Ideia da Prosa. Lisboa: Cotovia, 1999. ARISTOTLE. The Physics, vol. I. Translated by Philip H. Wivksteed and Francis M. Cornford. London: William Heinemann LTD; Massachusetts: Havard University Press, 1957. ______. The Physics, vol. II. Translated by Philip H. Wivksteed and Francis M Cornford. London: William Heinemann LTD; Massachusetts: Havard University Press, 1960. ______. The Metaphysics, vol I (Books I-IX). Translated by Hugh Tredennick. London: William Heinemann LTD; Massachusetts: Havard University Press, 1961. 117 ______. Metaphysics, vol.II (Books X-XIV). Translated by Hugh Tredennick. Oeconomica, Magna Moralia. Translated by G. Cyril Armstrong. London: William Heinemann LTD; Massachusetts: Havard University Press, 1962. ARISTÓTELES . Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Ars Poetica, 1992. ARISTÓTELES , HORÁCIO, LONGINO. A poética clássica. Int. Roberto de Oliveira Brandão. São Paulo: Cultrix, 1981. ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. AUERBACH, Erich. Mimesis. 5°ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. BARTHES , Roland. O neutro. São Paulo: Martins Fontes, 2003. BESSE, Jean-Marc. Ver a terra: seis ensaios sobre paisagem e geografia. São Paulo: Perspectiva: 2006. BUSSARELO , Raulino. Dicionário básico Latino-Português. Florianópolis: UFSC, 1991. COSTA LIMA, Luís. Mímese: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. ______. Mímese e modernidade. 2°edição. Rio de Janeiro: Graal, 2003. ______. Mímese e vida. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. ______. A metamorfose do silêncio. Rio de Janeiro: Eldorado, 1974. DOLEZEL, Lubomir. A poética ocidental. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 1990. DUARTE, Rodrigo ; FIGUEIREDO, Virgínia (org). Mímesis e expressão. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2001. ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Cia das letras, 1994. ELIOT, T.S. Ensaios. São Paulo: Art, 1989. EMÍDIO, Teresa. Meio ambiente & Paisagem. São Paulo: Editora Senac/SP, 2006. HALLIWELL, Stephen. Aristotle´s poetics. In The Cambridge History of Literary Criticism, vol.1 Classical Criticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. ISER, Wolfgang. O ato de leitura. São Paulo: ed.34, 1999, vol.1 e 2. ______. Problemas da teoria da literatura atual: O imaginário e os conceitos-chave da época. In: COSTA LIMA, Luiz. Teoria da literatura em suas fontes vol.2. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2002. 118 JAKOBSON, Roman. “Les Chats” de Charles Baudelaire. In: COSTA LIMA , Luiz. Teoria da Literatura em suas fontes vol.2. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2002. JAUSS, Hans Robert; ISER, Wolfang et al. A literatura e o leitor – textos da estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1979. ______. O texto poético na mudança de horizonte de leitura. In: COSTA LIMA , Luiz. Teoria da literatura em suas fontes vol.2. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2002. LOURENÇO, Eduardo. Tempo e poesia. Porto: Editorial Inova / Porto, 1974. MERQUIOR, José Guilherme. 2°ed. A astúcia da mímese. Rio de Janeiro: topbooks: 1999. PLATÃO. A república. 9°ed. Tradução de Maria Helena da Rocha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. REALE, Giovanni. Introdução a Aristóteles. Lisboa: Edições 70, 2001. RICOEUR, Paul. A metáfora viva. São Paulo: Loyola, 2000. ______. Tempo e narrativa, vol.1. Rio de Janeiro: Papirus, 1994. SCHOLES, Robert. Protocolos de leitura. Lisboa: Edições 70, 1991. SPINA , Segismundo. Introdução à poética clássica. São Paulo: martins Fontes, 1995. WOODRUFF, Paul. Aristotle on mimese. In RORTY, Amélie Oksenberg. Essays on Aristotles’s Poetics. Oxford: Princeton University Press, 1992. 119 G196 Gandolfi, Leonardo. Mundo comum e povoamento da paisagem – Ler com O Aprendiz de Feiticeiro de Carlos de Oliveira / Leonardo Gandolfi. – 2007. 119 f. Orientador: Ida Maria S. F. Alves. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2007. Bibliografia: f. 115-119. 1. Poesia portuguesa – Séc. XX. 2. Oliveira, Carlos de, 1921-1981. – Crítica e interpretação. 3. Oliveira, Carlos de, 1921-1981. O Aprendiz de Feiticeiro. I. Alves, Ida Maria S.F. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Letras. III. Título. CDD 869.1 120
Download