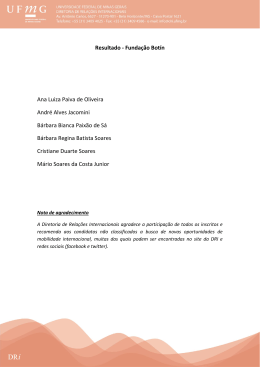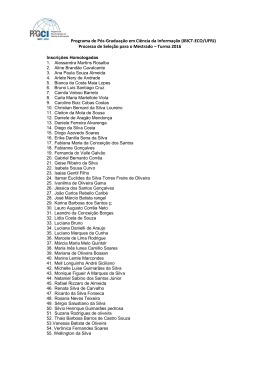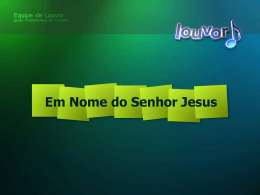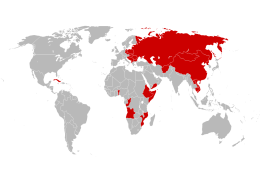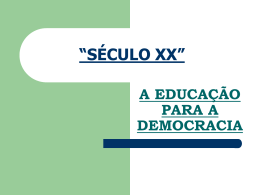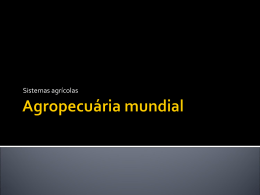JOÃO MARTINS
PEREIRA
ERRATA
O texto com início na p. 168 devia aparecer no mesmo tipo que os textos com
início nas pp. 22, 44, 60, 75, 89, 102, 121,
147, 190, 208 e 225.
COLECÇÃO
tempos modernos
Na Colecção Tempos Modernos:
1.
2.
3.
4.
Para Além da Revolução, de Gonçalo Ribeiro Telles
Terra Que Já Foi Terra, de Paulo Monteiro
A Guerra Civil de Espanha 50 Anos Depois, direcção de Ramon Tamames
O Dito e o Feito, de João Martins Pereira
«JOÃO M A R T I N S P E R E I R A
o DITO E o F(IT0
C A D E R N O S 1984-1987
8
, tocots .
salamandra
©
João Martins Pereira e Edições Salamandra, 1989
Capa: José Cerqueira
Composição: Berenice, Lisboa
Impressão: Safil, Lda., Lisboa, 1989
Depósito legal n.° 30.366/89
Todos os direitos desta edição reservados por
EDIÇÕES SALAMANDRA, L .
D A
Rua P."Luís Aparício, 9, l . , Frente
s
Telefone: 52 99 88 —
1100 LISBOA
Telex: 64 077 P
PREFÁCIO
Feitos, costuma dizer-se das inevitáveis proezas dos nossos antepassados. M a s há, é c l a r o , q u e m se vanglorie dos seus próprios. Os
caçadores têm f a m a de ser desses, mas que são eles, coitados, comparados com u m R e a g a n , ao despedir-se dos americanos: «Queríamos m u d a r u m a nação, e mudámos u m mundo»? Não é de gabarolas, dos que dizem como feito o que gostariam de ter feito, que se
ocupa este l i v r o .
Há também os que dizem u m a coisa e fazem o u t r a , seguidores de
F r e i Tomás. E n c o n t r a m o - l o s a cada esquina, chamamos-lhes incoerentes, falsos, desonestos (ajudámo-los, às vezes, a ganhar umas
eleições), dividimo-nos entre os que acham que eles deviam fazer o
que d i z e m , dizer o que fazem — ou nem u m a coisa nem o u t r a : dev i a m , p a r a nosso b e m , permanecer quietos e calados. Alguns p o d i a m
dar belos l i v r o s , mas não este.
Tão-pouco têm lugar nestas páginas os irreflectidos do «meu d i to, meu feito», protagonistas de m u i t a cena de r u a , gente de nervo
que não suporta a espera entre o dizer e o agir e, p o r tal frenesi, colecciona tanto (pequenos) sucessos como (pequenos) fracassos. A s
classes p o p u l a r e s , pouco ponderadas de seu n a t u r a l , como se sabe,
são as mais atreitas a estes incontroláveis impulsos, tipicamente l a t i nos, coisa p a r a a r r e p i a r imenso seres de formação britânica, dos
que não frequentam campos de futebol, bem entendido.
N a d a disso, pois. O autor destas l i n h a s , que, como os demais,
5
passa a v i d a a fazer coisas pouco apetecidas, aproveitou estes baços
anos de 1984 a 1987 p a r a i r anotando, agora e depois, em pequenos
cadernos, as observações que lhe suscitavam factos, gentes, l i v r o s , e
outros estímulos mais, à m i s t u r a com o que, nestas idades, sempre se
gosta de pescar n a memória e n a experiência. Somadas u m d i a as folhas, e a vontade, isso dava u m l i v r o — e projectou escrevê-lo. A s sim o fez, com a inocência p r e c i s a .
U m bicho lhe m o r d e u pelo meio, porém, ao reler papéis antigos
e neles se lhe revelar o que deixavam em aberto, de inocências o u tras, essas de j u v e n t u d e , de busca de u m a pele a i n d a i n c e r t a . E d e u -lhe p a r a pensar quantos caminhos divergentes desses mesmos p a péis p o d e r i a m ter p a r t i d o , dos quais só conhecia u m , que excluíra
todos os restantes. A t r a i u - o a ideia de escolher u m deles, o de u m
outro, desses que justamente aborrecem os palradores de ideias e se
reclamam da suprema v i r t u d e de fazer coisas, coisas «sérias», entenda-se — d e c i d i r , empreender, «criar riqueza», pragmaticamente,
sem o estorvo das ideologias. Do autor de u m livro americano de s u cesso, vademecum p a r a vencer nos negócios, diz-se n a capa ser conhecido p o r Mr. Make-Things-Ilappen.
Esboçar a história de u m
desses «fazedores de coisas», à nossa escala, nascida da sua própria
memória, foi essa tentação a que o a u t o r , pecador sem apelo, não
soube resistir.
Complicou-se o l i v r o , p a r a mal do leitor. P o r q u e são dois, a f i n a l , os cadernos que lhe p r o p o n h o , supostamente escritos ao longo
do mesmo período. Os que pachorrentamente r a b i s q u e i , em «tempo
real» — expressão n a moda — , são o que são, dizem o que d i z e m .
Nos outros, u m meu apagado d u p l o , aspirante a romancista de horas vagas, ficciona a a t r i b u l a d a c a r r e i r a de u m gestor de sucesso,
usando com desenvoltura os tais papéis antigos, dez anos retardados
no tempo, juntando-lhes alguns mais da sua l a v r a e inventando p o r
inteiro a sequência plausível de u m a maturidade «ascendente».
Aventurei-me então a intercalá-los, não por qualquer p e r v e r s i dade. E que entre o dito de uns e o feito dos outros, entre o discurso
e o percurso assim gerados de costela comum, o jogo de reflexos, e
de «passagens» tantas vezes n a p e n u m b r a , proporcionará ao l e i t o r ,
se a paciência lhe chegar, u m exercício que pedirá p o r certo mais à
imaginação do que à perícia detectivesca.
6
E , no f i m de contas, não estarei enganado? O feito v a i a q u i dito,
e o dito, p a r a vos chegar às mãos, teve de ser feito — em l i v r o . A s
armadilhas da e s c r i t a . . .
U m a última p a l a v r a . Desejaria que este l i v r o não fosse visto
como u m confronto assimétrico entre o estatuto d a ideia e d a p a l a v r a , terreno do intelectual, e o da acção prática, terreno (neste caso)
do decisor profissional. A questão que coloco é, no essencial, de
ideologia. E ideologias, em rigor,não as há piores nem melhores. Há
simplesmente a que escolhemos, e as que escolheram outros.
7
1984
20 de Junho — Passo no chamado Complexo das A m o r e i r a s e,
embora ainda atrasado e sem cor (vai tê-la aos fartotes, não d u v i do), ocorre-me u m a lembrança v i n d a da infância distante, q u a n d o ,
em tempos de vacas menos magras, me l e v a r a m ao teatro ao d o m i n go à tarde: u m cenário de opereta. A mistura com outra recordação
de infância, essa de u m a pequena caixa com arcos, colunas e outras
peças de m a d e i r a de vários tons, de que nasciam efémeras c o n s t r u ções, não casas mas cenários também, que eu povoava de figuras de
cartão ou de c h u m b o , o que tinha à mão, protagonistas de i m a g i nários confrontos, ou convívios, talvez histórias que nessa noite sonhara.
M a s porquê essa sensação de estranheza, ou de surpresa? Não
serão as fachadas, todas elas, não terão sido sempre, o cenário desse
imenso palco que é a cidade? Não será justamente a a r q u i t e c t u r a (de
exteriores, entenda-se) a arte de desenhar esses cenários, a d e q u a n do-os a tal ponto ao «espírito da época» que, muitos anos ou séculos
mais t a r d e , eles nos dizem muito de como então «se vivia»? De acordo, mas acho que há agora algo de novo. Impressionou-me, há uns
anos, a reconstrução d a velha cidade de Varsóvia, seguindo r i g o r o samente os desenhos das fachadas de o u t r o r a e, depois, a das decrépitas mansardas das I l a l l e s , em P a r i s : nesses casos (como no B a i r r o
de Santa C r u z , cm S e v i l h a , o u , entre nós, na pobre Casa dos Bicos)
as fachadas são, aí s i m , meros cenários, no sentido em que p r o d u -
9
zem u m a ilusão, como no teatro. Ê que os interiores, onde se desenr o l a m os dramas e as comédias do tempo que vivemos, nada têm que
ver com o aspecto exterior: este já n a d a nos diz sobre isso, emudecerá pedaços de cidade aos que, gerações adiante, q u e i r a m h i s t o r i a r ,
ou r o m a n c e a r , o nosso viver (ou m e l h o r : dir-lhes-á outras coisas).
Impressiona-me também a profusão de pinturas trompe 1'ceil que
hoje vão povoando as empenas de grandes edifícios: l i v r e agora dos
condicionamentos de antigas fachadas, p r o d u t o apenas da fantasia,
projectando-se p a r a o «interior» d u m a superfície (como n u m espelho) feita céu, feita estrada, j a r d i m , escadaria, n u m a p a l a v r a , feita
espaço fictício, o cenário aproxima-se a q u i ainda mais do sentido l i teral. A técnica u t i l i z a d a é a mesma que, n u m teatro, faz u m painel
plano prolongar-nos o p a l c o , tornar-se ele próprio t r i d i m e n s i o n a l ,
com paredes, recantos, móveis, janelas entreabertas p a r a u m espaço
exterior inexistente.
Aí está, pois, a diferença. A n t e s , era o teatro que imitava o r e a l :
o décor isabelino, f i m de século, ou anos 30, aristocrático, burguês
ou plebeu, decalcando interiores ou exteriores típicos de u m a época,
ou de u m a classe, situava-nos a acção. O cenário faz-nos imaginar o
que lá não está (o teatro é ficção) e oculta-nos o que lá está (os bastidores, os actores que se p r e p a r a m p a r a entrar em cena, u m enorme
buraco cheio de cabos, andaimes e luzes). H o j e é a a r q u i t e c t u r a c i tadina que i m i t a o teatro: naquela empena, «dentro» dela, não estão
escadas, n e m j a r d i n s , nem pessoas; p o r detrás daqueles torreões,
arcadas e cores de palácio do Feiticeiro de O z não estão damas medievais, nem figurinhas de c h u m b o , nem gigantes empedernidos. E s tá gente, movendo-se em interiores que não nos é dado i n d u z i r . O
exterior continua a ser o cenário da cidade mas, mais do que isso, é
u m cenário em sentido próprio, a r q u i t e c t u r a de ilusão, sinal de tempos em que a imagem é soberana.
Isto deixa-me inquieto, mas ao mesmo tempo fascina-me: como
tudo o que é máscara, disfarce, ocultação. Como o teatro, a f i n a l . Será porque nos povoam a cidade de cenários que os teatros estão v a zios? O u , simplesmente, porque cada vez mais é o teatro que deles
prescinde?
10
31 de Julho — P r i m e i r a incursão ao chamado Nordeste T r a n s montano. Nos olhos fica-nos, sobretudo, a majestade da paisagem
serena que se avista do caminho florestal entre França e M o n t e s i nho. A M . lembra-se de Delfos. É isso. Tivesse o acaso trazido p a r a
a o r l a atlântica os adoradores de A p o l o , só a q u i p o d e r i a m eles ter
descoberto grandeza suficiente p a r a erigir o seu santuário. M a s é
Bragança, e as terras à v o l t a , e o acesso que escolho desde o C a r a m u l o , que me despertam reflexões bem mais actuais. E este outro
mundo português que inesperadamente descubro, não no seu lado
folclórico já tão (mal) b a n a l i z a d o . Refiro-me à surpresa de quem
vem da c a p i t a l , onde só se fala de crise, de austeridade, de aumento
do desemprego, de salários em atraso, do c r u ressurgir d a p a l a v r a
miséria, e da sua realidade.
Tem-se, p o r a q u i , a sensação de que se interrogássemos alguém
sobre a famosa (e incontestável) crise, nos o l h a r i a m com espanto ou
indiferença. Não ignoro que se trata do tempo ciclicamente eufórico
da chegada dos emigrantes, mas isso não chega p a r a explicar a não-crise patente n u m a cidade que esperava indolente, ensimesmada,
p e r d i d a no tempo, empobrecida. O que vejo é descontracção, m o v i mento, comércio e cafés regurgitando de gente, grupos de jovens alegres e vestidos como os de L i s b o a , que e n t r a m e saem, combinam
não sei o quê, nem o l h a m p a r a a televisão, tudo parece em a c t i v i d a de, em ebulição. E penso, acho mesmo que já devia ter pensado a n tes de ver: a crise, que está longe de ser só portuguesa, é a crise do
sistema i n d u s t r i a l , é a p a r t i r da indústria (em p a r t i c u l a r , de certas
indústrias) que ela se propaga e p o r isso são os grandes centros u r banos, i n d u s t r i a i s , administrativos os que mais lhe sentem os efeitos.
E a crise das actividades que f o r a m o motor da última fase de desenvolvimento capitalista que está a t e r m i n a r : a grande indústria pesad a , as indústrias ligadas ao petróleo, as grandes consumidoras de
energia. Que tem Trás-os-Montes a ver com isso? M u i t o pouco, é ó b v i o . A «sua» crise, a de todas as regiões agrícolas e sem recursos, essa não é de hoje, é secular. A emigração atenuou-a, p o r decréscimo
de bocas a sustentar e p o r aumento de rendimentos ganhos noutras
paragens. P o r essa v i a , precária também, as coisas m e l h o r a m . Está
tudo, como sempre, p o r resolver, mas, no curto p r a z o , que 6 o da
«conjuntura» dos economistas, a sensação é de euforia, a q u i , ao
11
mesmo tempo que é de quase-pânico nas grandes aglomerações operárias de L i s b o a e Setúbal (menos no l i t o r a l N o r t e , onde a indústria
é ligeira e muitos são os que r e p a r t e m o seu tempo entre a fábrica e
a courela). Não será isto a tal sociedade d u a l de que falava a economia de desenvolvimento, já não a de que se fala hoje nos países i n dustrializados? Os políticos, que nos fins-de-semana se passeiam pelo país sempre a pensar n a campanha que virá próxima, e que p o r
toda a parte f a l a m da «crise», fazem l e m b r a r os bem intencionados
(e h a v i a muitos, hoje são u m a raridade) das campanhas de d i n a m i zação c u l t u r a l dos anos quentes, que i a m f a l a r de luta de classes entre patrões e operários onde não h a v i a nem uns nem outros.
8 de Agosto — Se hoje começasse umas memórias, seriam talvez
estas as p r i m e i r a s frases: «Aos 51 anos, olho p a r a trás e tenho a sensação de ter 'gerido' a m i n h a v i d a com razoável sucesso. E , no entanto, focando a vista p a r a o detalhe, dou-me conta de que, como
toda a gente, o que fiz foi ' v i v e r às apalpadelas'. 0 balanço das boas
e más sortes foi-me favorável, e eu limitei-me, em meia dúzia de momentos cruciais -— que são quantos há numa v i d a — a ser capaz de
decidir p o r m i m próprio d a vereda a seguir, sem angústias excessivas sobre o que p o d e r i a ter acontecido se p o r o u t r a tivesse tomado.
Talvez alguns, conheço casos, sejam capazes de gerir a v i d a como se
gere u m a empresa (estou a exagerar: a m a i o r i a das empresas são,
elas também, geridas às apalpadelas...): estabelecer objectivos (uma
c a r r e i r a ! ) , definir os meios necessários p a r a os atingir, aplicá-los
controlando a progressão, avaliando e corrigindo os desvios. N u n c a
o fiz — e talvez h a j a quem me julgue frio a esse ponto... F o r a m sempre os pequenos prazeres do 'logo à t a r d e ' ou do 'logo à noite' que
me a j u d a r a m a sobreviver, e não q u a l q u e r longínqua certeza ou desígnio. E se alguns planos f i z , f o r a m sempre de curto p r a z o , p a r a me
libertar de tutelas insuportáveis e aumentar a margem desses pequenos prazeres. Pequenos, mas não d i r i a fúteis: a conversa de café (ou
a saborosa solidão do café), as l e i t u r a s , os cinemas, os encontros, os
amores passageiros, os passeios pela cidade, os pés de dança, mais
tarde as viagens, as chamadas «acções colectivas» (não d i r i a , no meu
caso, militantes). P a r a não f a l a r dos prazeres maiores, das a m i z a -
12
des, dos amores ' d e f i n i t i v o s ' , e também d a Gazeta e das escritas.
T u d o isto foi a construção de m i m próprio, n u m pano de fundo de
enorme curiosidade pelo f u t u r o , que sempre foi p a r a m i m u m a avent u r a no desconhecido, n u n c a u m projecto. U m b o m exemplo disto
mesmo: só mesmo a posteriori a dolorosa apropriação do meu corpo
me veio a parecer u m a vitoriosa gestão de u m p r o b l e m a difícil. M a s
a memória aí está p a r a me r e c o r d a r como f o i , justamente esse, u m
percurso no escuro, em que me orientou u m a qualquer faculdade semelhante à que evita aos morcegos baterem contra as paredes de
u m a gruta — isto é, sem que a razão directamente interviesse. E x a gero u m pouco: a razão, em cada caso, exercia-se a p a r t i r de u m ' s a b e r ' que lhe e r a a n t e r i o r , e era esse que c o m a n d a v a , que me dirigia
por u m caminho cujo f i m , o quando e o como, eu não descortinava,
muito menos p r o j e c t a v a . A razão teve sempre, nesse e noutros decisivos momentos, u m papel secundário: n u n c a fugi às decisões, nunca
deixei (tanto quanto pude) que outros decidissem p o r m i m , mas sempre tive a consciência de que nos faltam os elementos todos (o que é
isso?) p a r a poder decidir racionalmente. O que se f a z , de facto, é
muito mais escolher do que d e c i d i r . P o r isso me é totalmente alheia
a ideia de arrependimento.»
D a q u i a dez ou quinze anos a i n d a imaginarei que seria este o
meu começo de umas hipotéticas «memórias»? A parte a questão do
saldo das boas e más sortes, que isso n u n c a se sabe, d i r e i , u m pouco
como João B a r o i s , que algo muito distante deste texto significará
u m a irremediável p e r d a de discernimento...
22 de Agosto — L e i o , n u m artigo do sociólogo A b r a h a m Moles
intitulado «Uma ciência do impreciso»: «As ciências sociais são o
melhor exemplo em grande escala das ciências do impreciso, do difuso, etc. Os conceitos que elas m a n i p u l a m são imprecisos por essência: qualquer esforço p a r a os precisar abusivamente, os espartilhar
em definições fechadas, decompõe e destrói os próprios conceitos.
[...] O papel do investigador em ciências humanas convencionais —
mais do que seguir a ideologia cientista que pretende eliminar c o n ceitos difusos e infralógicos, p o r f o r m a a ajustar-se a u m a imagem
da razão p a r a a q u a l aquelas ciências não f o r a m feitas — é o de
13
pensar com rigor conceitos vagos. Há aí larga matéria p a r a o uso d a
razão.» E mais adiante: «Um caso simples: o acto de fotografar seres
animados, com boa qualidade de imagem, p o r u m observador, i n t r o duz u m a inevitável reacção, quer de fuga, quer de pose, em q u a l quer caso de artificialidade do sujeito, c r i a d a pela presença do observador; todos os etnólogos, todos os fotojornalistas o sabem. A n a lisando de mais p e r t o , descobrimos que isso está n a natureza das
coisas da própria observação. Se o observador se dissimula, se m i n i m i z a , as imagens que irá obter serão necessariamente mais pequenas, mais difusas, mais vagas. N u m a p a l a v r a , há u m a espécie de
produto constante de incertezas entre a precisão de u m a imagem e a
justeza d a observação relativamente à ' v e r d a d e ' do fenómeno observado.» Isto é, os conceitos são vagos porque o são também necessariamente, à distância que impõe o desejo de não-interferência, os
factos observados que os deverão s u p o r t a r . M a s atenção: q u a l q u e r
fotojornalista sabe também que, se voltar várias vezes ao l o c a l , pode
conseguir imagens de vários ângulos, pode mesmo, p o r s u r p r e s a , t i r a r alguns instantâneos de grande precisão de imagem sem que ten h a havido tempo p a r a reacção dos visados. Isto quer dizer que os
efeitos daquela r e g r a , v e r d a d e i r a no essencial, podem ser atenuados
se se i n t r o d u z i r (e isso f o r possível: objecto de observação estável no
tempo) a variável tempo, ou seja, se o sociólogo não for
preguiçoso,
o que é r a r o , devemos a d m i t i r . O sociólogo de gabinete, o que p r e tende t i r a r conclusões a p a r t i r de meia dúzia de entrevistas, o que se
preocupa mais com as estatísticas e as correlações e menos com a
«justeza das observações relativamente à ' v e r d a d e ' do fenómeno observado» — esse permanecerá sempre na p e n u m b r a de números e
teorias que podem deslumbrar os incautos, mas pouco acrescentam
ao conhecimento d a realidade social. O u t r o s , mais cuidadosos e p e r sistentes, conseguirão, d a neblina dos fenómenos, fazer surgir s i lhuetas e contornos suficientes p a r a que o «uso da razão» aí encontre fecundo material de reflexão.
23 de Setembro — N a sua demasiado óbvia vontade de iconoclastia, servida p o r u m a prosa atraente e u m h u m o r pouco h a b i t u a l
entre nós, Miguel Esteves Cardoso t r a v a frequentes batalhas contra
14
moinhos de vento. A propósito do suplemento «DN Jovem», saiu-lhe
ontem u m artigo de que extraio estas (representativas) preciosidades: «A j u l g a r p o r u m a grande parte dos textos escritos pelos jovens
colaboradores do ' D N J o v e m ' , não há qualquer diferença entre eles
e os ' p a i s ' . Estes pais espirituais constituem a geração de Woodstock
e de M a i o de 6 8 , veterana das b a r r i c a d a s e das b a r r a c a d a s da r e v o lução, e o c u p a m hoje u m a parte generosa do poder (não só c u l t u r a l ) . M u i t o s filhos saíram, pelos vistos, t a l q u a l os pais. Foi-lhes instilado com êxito a mentalidade 'hippie-progressista-marginal' em pequeninos. N o entanto, não se r e b e l a m contra e l a , como é justo e t r a dicional e histórico desde tempos imemoriais, [...] contentam-se com
repetir as rezas dos catecismos sebentos d a alternatividade, da m a r ginalidade e d a c o n t r a c u l t u r a l i d a d e dessa idade da P e d r a que f o r a m
os anos 60. [...] A mentalidade portuguesa está t r a n c a d a no M a i o de
68. [...] E esquerdista, afrancesada, c o n t r a o ' P o d e r ' e animicamente movida pelo desejo de ' l i b e r t a r ' tudo o que não seja pássaro e voe
n u m campo verde n u m céu cor de l a r a n j a . E s t a , p a r a usar a linguagem que lhes é própria, é precisamente a 'ideologia da classe d o m i nante' do P o r t u g a l contemporâneo, o 'discurso do p o d e r ' da a c t u a l i dade; ao q u a l tantos jovens colaboradores do ' D N J o v e m ' inconscientemente acrescentam as suas modestas contribuições.»
É difícil dizer tantos disparates em tão poucas palavras. E ao
mesmo tempo tão desajeitadamente denunciar a malformação britânico-utilitarista-paternalista do a u t o r , que atira «afrancesado» como
u m insulto e, de resto, só faz citações (na parte do artigo não r e p r o duzida) de u m número do «DN Jovem» sobre o tema «animais», tão
caro aos bondosos súbditos de S u a Majestade. M . E . C , é, como se s a be, u m daqueles intelectuais de formação inglesa cuja preocupação
dominante quanto à sociedade portuguesa parece ser, não já (como
era há u m século) a ultrapassada questão d a dependência da «pérfida Albion», mas a desesperante interrogação «porque raio de azar
não há-de P o r t u g a l ser (como) a Inglaterra?», o que se compreende
ser matéria p a r a dolorosas angústias. E m todo o caso, D o u t o r em
Sociologia (ou a caminho disso), não pode deixar de surpreender a
facilidade jornalística com que, em defesa d a sua d a m a , passa p o r
cima de todas as evidências (ou lógicas presunções). Vejamos então.
De que jovens e de que país fala M . E . C . ? P o r u m l a d o , da amos-
15
tra de jovens que escrevem e m a n d a m os seus textos ao «DN J o vem», que erige n o u t r o passo do texto em «grande parte d a j u v e n t u de portuguesa», conferindo-lhes tão abusiva representatividade que
me interrogo (e tremo) sobre a idoneidade dos estudos sociológicos
do autor. E quanto aos pais (que não são só espirituais, como p a r e ceria à p r i m e i r a v i s t a . . . ) , onde recolheu a informação de que são todos «esquerdistas, afrancesados, libertários, etc.»? E ainda que, p o r
mera hipótese, todos o tivessem sido em 68, não os vê hoje o próprio
M . E . C , ocupando o p o d e r , ou seja, presumivelmente m a d u r o s b u r gueses conservadores bem instalados n a vida?
Onde terá então ido M . E . C , desencantar que hoje «a ideologia
da classe dominante em Portugal» é a de M a i o de 68? M a i s a i n d a ,
que está t r a n c a d a nesse fatídico mês «a mentalidade portuguesa»
(que ignoro o que seja e julgo expressão bem desastrada n a pena de
u m sociólogo). A o f a l a r em ideologia d a classe dominante, M . E . C ,
parece ter u m a ideia c l a r a sobre o assunto, pena é que não nos explique u m pouco melhor como define essa classe e o que o leva a
a t r i b u i r - l h e tão perniciosos pendores ideológicos. Se é mesmo à
«classe dominante no sentido marxista» que se refere, o disparate é
óbvio: n u m país capitalista prestes a entrar n a C E E , os empresários,
os proprietários de meios de produção, os gestores em geral ( i n c l u i n do os das empresas públicas), etc. n u n c a manifestaram q u a l q u e r
tendência anarco-esquerdizante, n e m isso seria possível, c l a r o . Se
M . E . C , se refere simplesmente à «classe política», ou simplesmente
ao «poder» — é isso: não fala ele do «discurso do P o d e r » ? — , s u posto e x p r i m i r ( n u m marxismo sumário) as posições da classe d o m i nante, o disparate é, se possível, maior a i n d a : Soares, Ernâni, M o t a
P i n t o , Veiga Simão, Amândio de A z e v e d o , A l v a r o B a r r e t o , etc. etc.,
as figuras de p r o a do triste B l o c o C e n t r a l que nos (des)governa serão tudo esquerdistas disfarçados (mas que não escapam à perspicácia do articulista)? Chegará p a r a t i r a r essa conclusão o facto (mel h o r : a m e r a hipótese) de que u m ou outro secretário de Estado possa, nos seus tempos de j u v e n t u d e , ter n a m o r a d o as ideias de 68, t a l vez até vivido nalguma comunidade, indo receber pontualmente a
mesada a casa dos pais? Insisto: terá mesmo M . E . C , alguma ideia do
país em que vive?
E n f i m , voltando aos filhos, suponhamos que o tom geral dos tex-
16
tos publicados no «DN Jovem» e r a efectivamente libertário e esquerdizante, o que está longe de ser verdade. E óbvio que os c o l a b o r a d o res do suplemento (essa amostra que não é «a juventude portuguesa»!) são adolescentes dados à reflexão e à escrita, que o l h a m p a r a si
próprios e à sua volta de f o r m a interessada ou mesmo empenhada,
embrião de futuros escritores, artistas, intelectuais. Não seria n a t u r a l esperar que este tipo de jovens, como sucede em qualquer tempo
e em q u a l q u e r l u g a r , produzisse u m discurso romântico, libertário,
antipoder, expressasse u m a revolta mais ou menos v i n c a d a contra
u m a sociedade que se descobre injusta e hipócrita? Que teria isso a
ver com M a i o de 68, com os p a i z i n h o s , espirituais ou não? Só teríamos que nos regozijar com isso, quando tantos indícios (basta f a l a r
com professores) sugerem u m a j u v e n t u d e , no essencial, desatenta, se
não apática, desinteressada do político e do social, ou então d o m i nantemente c o n s e r v a d o r a , q u a n d o p o l i t i z a d a . O u seja, o contrário
do que M . E . C , nos quer v e n d e r . É mesmo essa ausência de revolta
que surpreende — e i n q u i e t a .
24 de Outubro — Segundo Soares, estamos n u m a data histórica
(viragem, é a sua expressão): m a r c h o u hoje p a r a D u b l i n , com três
ministros atrás, p a r a assinar u m p a p e l chamado constat
d'accord,
que anteontem a C E E lhe estendeu p a r a satisfazer o «nosso» i r r e m e diável saloiismo. P a p e l que n a d a diz de novo, que não tem qualquer
v a l o r jurídico e a que os espanhóis não ligaram a menor importânc i a . M a s mais saloio ainda (e d i v e r t i d o , vamos lá) foi o enviado da
A n t e n a 1, Esteves M a r t i n s , ao fazer a reportagem: desfazendo-se em
elogios ao p a p e l , à sua «extraordinária importância», comentou, i n terrogado de L i s b o a sobre «o ambiente em D u b l i n antes da assinatur a » , que tudo estava calmo e, aparentemente, «a população de D u b l i n ainda não se deve ter apercebido da importância do acontecimento»!!! E s t a r i a ele a imaginar os pacatos patrícios do Joyce l e v a n do Soares aos ombros até ao aeroporto?
26 de Outubro — E m tempos passados, só houve, que me r e c o r de, dois terceiros famosos: o «terceiro Estado» e o «terceiro excluí-
17
do» (um dos axiomas básicos do raciocínio científico). Nos últimos
t r i n t a anos, s u r g i r a m , sucessivamente: o 3 . M u n d o , a 3. Idade e,
mais recentemente, a 3 . Revolução I n d u s t r i a l (ou a 3. vaga, que
sem ser o mesmo, lá v a i d a r ) . Nos dois primeiros casos, não h a v i a
qualquer fenómeno de ocultação: as designações d i z i a m o que t i n h a m a d i z e r , e r a m p u r o s nomes. M a s , nos três últimos, já não é assim: trata-se de mantos bem pouco diáfanos que r e c o b r e m r e a l i d a des eventualmente chocantes.
Após a 2 . G u e r r a M u n d i a l , os colonizadores cinicamente «descobriram» que u m a imensa parcela deste m u n d o , que d o m i n a v a m
(e, independências à p a r t e , c o n t i n u a r a m a d o m i n a r ) , v i v i a no a n a l fabetismo, n a fome, n a doença, n a carência de t u d o , no que então se
veio a c h a m a r , e hoje j á não se u s a , o subdesenvolvimento. H o u v e
então q u e m falasse dos «danados d a Terra» ou das «Nações Proletárias», mas, pudicamente e talvez p o r inspiração histórica no 3. ° E s tado (seria u m a maneira afinal de dizer aos deserdados de hoje:
«Nós, os burgueses, também partimos de longe e conquistámos p o der e fortuna»?), alguém se terá l e m b r a d o , a pretexto de já haver
dois outros «mundos», esses desenvolvidos — o capitalista e socialista — , de c h a m a r a tais países «o 3." M u n d o » . Designação n e u t r a , asséptica, que ocultava, de facto, os crimes e a espoliação de que n i n guém estava p a r a se envergonhar — e muitos estavam, e estão, p a r a
tranquilamente prosseguir.
Anos mais t a r d e , com o alongamento da v i d a , a evolução dos
costumes e a crescente desagregação da instituição f a m i l i a r t r a d i c i o n a l , foi-se evidenciando, nas sociedades ocidentais, o d r a m a social
daqueles que, até então, a i n d a detinham u m a certa a u r a de sabedor i a e se m a n t i n h a m , melhor ou p i o r , acolhidos pelos descendentes
mais jovens, em casas com dimensões suficientes p a r a não a t r a p a l h a r e m demasiado, a j u d a n d o a c r i a r os netos e, quantas vezes, substituindo as c r i a d a s , profissão em declínio p o r todo o l a d o . Velhos c a d a vez mais velhos (logo, mais inúteis e mais exigentes de cuidados),
separações cada vez mais frequentes, casas cada vez mais pequenas
(lógica da valorização máxima dos terrenos e do maior lucro i m o b i liário): deixou de h a v e r lugar, m o r a l e m a t e r i a l , p a r a aqueles a
quem simplesmente se c h a m a v a , com alguma t e r n u r a a i n d a , «os velhos» — hoje j á quase só usado como sinónimo de «os pais». P o i s
g
s
8
18
8
8
não foi a nova situação dos velhos que se considerou i n d i g n a , mas o
nome que se lhes d a v a . P o u c o se fez p a r a resolver o p r o b l e m a mas,
em compensação, procurou-se restituir-lhes a dignidade p e r d i d a
passando-se a designá-los p o r «a terceira idade». E nem as a t e r r a d o ras imagens televisivas de u m ou outro «lar da 3 . idade» chegam p a r a alterar a paz de consciência dos que, u m - d i a , a f e r r o l h a r a m a sua
vergonha com u m a p a l a v r a .
s
E n f i m , a 3. Revolução I n d u s t r i a l , exemplo de como a aceleração dos conhecimentos, das técnicas, arrasta consigo a própria
aceleração das p a l a v r a s . De facto, só muito posteriormente às l . e
2 . revoluções industriais (a d a máquina a v a p o r e a da electricidade/petróleo) elas f o r a m assim chamadas. O que é compreensível,
pois trata-se de processos longos, sem data identificadora, de cujas
implicações económicas e sociais só muito mais tarde é possível a p e r cebermo-nos globalmente. Foi-se implicado p o r elas, mas nunca for a m anunciadas. P o i s esta, a t e r c e i r a , que se diz estar a começar
— e cujo comboio q u a l q u e r político português p r o c l a m a que «não
poderemos perder!» — já está baptizada e é diariamente e x p l i c a d a ,
comentada, entusiasticamente exaltada.
9
a
a
A c h o que vale a pena interrogarmo-nos u m pouco. A l . R e v o l u ção I n d u s t r i a l , a r r a n q u e do capitalismo de produção e cadinho da
sociedade que hoje conhecemos, teve os seus mártires e as suas misérias: o i n f e r n a l trabalho nas minas de carvão e de f e r r o , o trabalho
i n f a n t i l , o sweating system, os acidentes e doenças profissionais, a
total ausência de protecção social e de direitos elementares, os dias
de 16 horas (6 quando não 7 dias p o r semana, sem férias) — e o que
tudo isto significa de mortes e, sobretudo, de ausência de v i d a . B a s ta ler o romance social inglês do século passado ou as descrições de
Villermé, não é necessário r e c o r r e r a obras especializadas. F o i de
tudo isso que nasceram as prósperas sociedades burguesas do princípio deste século, a tão frívola e divertida Belle Epoque de que ainda
hoje se f a l a .
s
E não esqueçamos também os milhões de mártires da a c u m u l a ção n a União Soviética, que é o paralelo oriental concentrado no
tempo (por isso, p o r ser mais perto de nós e p o r piores razões i m pressiona mais certos espíritos) da revolução i n d u s t r i a l europeia: os
19
trabalhos forçados, a razzia nos campos, as grandes fomes dos anos
30.
Quanto à 2.~ Revolução I n d u s t r i a l , recorde-se apenas a desqualificação do t r a b a l h o , a cadeia de montagem (reveja-se os «Tempos
Modernos»), as tragédias da urbanização descontrolada, as grandes
crises com milhões de desempregados (que só a 2 . G u e r r a conseguiu
«ultrapassar», até à crise seguinte, a que atravessamos), enfim o
«desenvolvimento do subdesenvolvimento», ou seja, a exploração
desenfreada dos recursos e riquezas d o . . . 3. M u n d o . P e r g u n t o , e n tão, já que se sabe tanto sobre a Revolução a n u n c i a d a , que é a 3 . ,
quem vão ser os mártires desta? Ou seja, onde está o seu lado escond i d o , de que ninguém fala?
5
B
5
Não tenho resposta. M a s ponho-me a p e n s a r , u m pouco ao c o r r e r da p e n a . N a sociedade f e u d a l , o p o d e r era dos «que são», isto é,
dos que, p o r nascimento e condição, t i n h a m u m «nome», e r a m «senhores». M a s essa sociedade, em que as b a r r e i r a s eram de estatuto,
p r o d u z i u dentro de si própria «os que têm», e m b o r a «não sejam».
Nisso f u n d a r a m estes a legitimidade do seu poder n a sociedade c a p i talista i n d u s t r i a l : podem os «que têm» (meios de produção, d i n h e i ro). E , nos seus primeiros tempos, eles ainda quiseram u m suplemento da legitimidade antiga, e fizeram-se barões, viscondes, m a r queses, e m b o r a já não fossem senhores de n a d a , a não ser das fábricas, dos negócios e do d i n h e i r o . H o j e já não ligam a isso. Passadas
duas revoluções i n d u s t r i a i s , aí estamos a i n d a , e constatamos que o
tempo dos que «não têm» (os proletários, os assalariados, em geral),
o tempo de «abalarem o m u n d o » , parece ter passado, do modo que
u m d i a o s o n h a r a m . A 3 . Revolução I n d u s t r i a l , a t a l , passa-se
(como a a n t e r i o r , aliás) dentro do capitalismo. Aparentemente, estará a haver u m a deslocação de poder p a r a «os que sabem», ou seja,
os detentores dos conhecimentos mais avançados, que são apenas
uma parte dos «que têm». A s b a r r e i r a s , até a q u i económicas, passarão, sem deixar de o ser, a ser sobretudo técnico-cicntíficas. Ficarão
de fora as grandes massas que j u l g a m ter cada vez mais informação,
mas cada vez têm menos acesso à informação que dá poder. Que p o der dará ao cidadão c o m u m a capacidade de consultar, através do
seu televisor, a lista telefónica ou os câmbios do d i a , face ao da m u l tinacional que d o m i n a os segredos d a manipulação genética? O tota3
20
litarismo técnico-científico espreita, não tenhamos dúvidas. Não disse R e n a n u m d i a : «A grande o b r a cumprir-se-á pela ciência, não pel a democracia»?
Os mártires desta revolução já não serão gente esfarrapada e f a m i n t a . A s misérias desta revolução já não serão sobretudo materiais.
E s t o u a e x c l u i r , é c l a r o , a hipótese, que não é pouco plausível, de
serem os esfomeados do t a l 3. M u n d o os futuros coveiros do a r r o gante sistema que desponta. E b e m possível. M a s dentro do sistema,
nos países do capitalismo tecnológico e seus devotos satélites, a lógica impõe a conclusão de que serão d a o r d e m do espírito, do pensamento, dos sentimentos, os d r a m a s do f u t u r o : os que pensam, os que
sentem, os que o l h a m à sua v o l t a , serão os oprimidos? O sistema
morrerá u m d i a às mãos dos que querem «tomar o saber» em suas
mãos, afinal os mesmos de sempre, mas portadores de outra r e v o l u ção? Produzirá o excesso quantitativo de informação «inofensiva»
uma espécie de salto qualitativo (não se diz que 9 0 % da informação
em que assenta o p o d e r de u m a C I A provém de fontes públicas, a
que qualquer pode ter acesso?) e daí virá a força dos desinformados
da T e r r a ? T u d o isto será talvez u m enorme disparate. M a s julgo que
este tipo de reflexão aponta u m caminho que pode ser fecundo.
9
21
27 de Outubro
Gosto de escrever. Acho que teria dado u m bom jornalista,
mas não calhou. No fim de contas, talvez só tivesse de comum
com u m jornalista, bom ou m a u , o desejo secreto de u m dia escrever u m romance. Mas viciei-me no artigo curto e no comentário apressado, que não pedem demasiada reflexão, que se
despacham no tempo de u m a sinfonia, e sempre me faltou
imaginação p a r a desencantar u m a boa história, com princípio,
meio e fim, ou então p a r a laboriosamente construir u m texto
denso, sem princípio, nem meio, nem fim, em que a crítica
mais exigente pudesse descobrir a engenhosa trama de u m
«romance moderno» de difícil mas gratificante leitura.
Pois bem, a apetecida história, o material que qualquer escritor leva anos e anos (penso eu) a recolher e classificar,
veio-me u m belo dia parar às mãos. «Talvez te sirva p a r a alguma coisa», disse-me o meu amigo José Filipe Capitão, J P par a os mais íntimos, ao passar-me alguns embrulhos de notas
em que, nas horas vagas, foi registando ao longo da vida observações e memórias, e ao acaso de várias mudanças de casa
se acabaram por juntar n u m caixote de cartão, desses de qualquer electrodoméstico que já deve há séculos ter dado a alma
ao criador. Nem ele próprio suspeitaria que estavam ali preciosas linhas, mal alinhavadas é certo, onde teria dificuldade
em se reconhecer quinze ou vinte anos mais tarde, mas isso
só não sucede, é claro, a quem não passou por muitas: poucos
22
têm é a coragem, ou a insensatez, de enfrentar o papel, e já
tantos se arrependem de ter enfrentado o fotógrafo...
Aí me v i eu, pois, com esses papéis cheios de gatafunhos,
alguns quase ilegíveis, outros de u m a prosa caligrafada com o
lazer de infindáveis horas no café, à mistura com bonecos e
ornamentos à margem, que o vejo a rabiscar enquanto afinava
as ideias e as frases (as rasuras contam-se pelos dedos) pensando talvez que ele próprio, n a idade madura, as folgas a
crescer, se dedicaria ao paciente exercício de dar forma definitiva a esses textos, e a juntá-los n u m caderninho, p a r a dar a
ler aos amigos e deixar aos netos. Não sabia então que u m a
carreira se faz preenchendo cada vez mais o tempo e a cabeça
com coisas do trabalho e cada vez menos com meditações sobre a vida nossa e dos outros, não sabia sequer que estava a
começar u m a carreira, a seu modo, como tantos mais. É por
isso que as histórias de carreiras, sendo parecidas, começam
todas por ser diferentes: livros desses, só vale a pena ler os
primeiros capítulos, até ao momento em que eles sabem o que
querem.
O facto é que, ansiosamente lida de u m jacto, hibernou a
papelada vários anos no meu escritório, não lhe tendo então
descortinado utilidade que não fosse a de dar algumas piadas
ao J P de vez em quando, o que até não lhe desagradava, e a
prova é que, u m a vez por outra, me ia entregando, como u m a
espécie de folhetim, a sua produção mais recente. Já não inocente, esta. Dei nela por muitos «recados» e por u m maior cuidado em justificar-se (perante mim?) ou em furtar-se a interioridades excessivas. Talvez fosse apenas a tal maturidade a
instalar-se, quando nos vem a vontade de dar consistência ao
nosso próprio personagem, ou ao personagem que julgamos
ser p a r a os outros, indo disso buscar sinais de surpreendente
coerência a fragmentos de memória e procurando não deixar
escapar frases ou inconfidências que possam esfumar o traço.
Por que me terei decidido agora a experimentar a mão
r a o sempre adiado romance, sem pressas e sem plano, ao
bor de imprevisíveis ócios ou disposições? Talvez porque
pendor moralista, que julgava não ter, me faça ver, cada
pasaum
vez
23
mais, no percurso do meu amigo, a história exemplar de u m a
geração triunfante. Talvez por já lhe pressentir o desfecho e,
viciado leitor de policiais, agora do outro lado da história, não
me querer deixar antecipar por ele. Ou porque, rodeado de crise por todos os lados, a aventura da ficção seja a escapatória
que me resta, como a outros, mais empreendedores, a fuga ao
fisco ou o contrabando.
Claro que ao seleccionar, e juntar à minha maneira, aqueles materiais, e bocados de conversas, e episódios que recordo,
ao comentar, ao introduzir nos textos do meu amigo passagens inteiras que são minhas, ao polir-lhe frases, ao reforçar-lhe ou atenuar-lhe ideias, não é o personagem J P que estou a
construir, o tal que ele desejaria representar, mas sabe Deus
se outro no fim de contas bem mais próximo do que J P foi e
é, isto se não fosse u m rematado disparate pensar-se ou dizerse que alguém alguma vez foi ou £ alguma coisa.
Comecemos então. Pelo princípio, como é próprio dos amadores. E dos clássicos, não?
Dos mais verdes anos de J F não me chegam, naturalmente, notas pessoais. Mas deles nos fala u m texto recente, que
terá escrito a propósito de declarações de u m político em voga:
«Poucos se podem gabar do dia exacto em que começaram
a interessar-se por política. Poucos terão tido, como Descartes
ou Rousseau, súbitas iluminações a revelar-lhes a matemática
do mundo, a trazer-lhes ideias suficientes para escrever centenas de livros — ou a acordar-lhes a consciência para as grandes questões da vida colectiva. Acho que o comum dos mortais
descobre a política como descobre o amor: aos poucos, sem calendário definido, ao sabor de acasos e de encontros, de imperceptíveis vibrações que é raro deixarem data. Só muito mais
tarde, por curiosidade típica da meia-idade, ou por necessidade
de mandar u m a biografia p a r a os jornais, se vem a reconstituir, melhor ou pior, esse fio quase sempre nebuloso. É então
que, por vezes, a tentação do 'dia luminoso' surge como a v i a
mais fácil p a r a explicar o que não tem explicação. E certas
datas parece terem sido inventadas de propósito p a r a esse
fim...
24
Pela minha parte, não sei quando foi. 0 que é hoje a minha mais longínqua recordação política, não me deixou n a altura qualquer marca. Ia pelos catorze anos quando chegou a
Paço de Arcos, onde então vivia, u m a leva de miúdos loirinhos. Picaram alojados n u m desses muitos fortes que salpicam
a Costa de Cascais, e devem ter sido ali postos noutros tempos
para impor algum respeito à entrada no Tejo de esquadras inimigas que, de resto, nunca pediram licença p a r a o fazer. V i m
a saber, pois não se falava noutra coisa lá em casa e pela v i zinhança, que eram uns 'pobres hungarozinhos fugidos ao terror comunista'. Mas estava a começar o ano lectivo, e os meus
alvoroços de adolescente limitavam-se à excitação anualmente
repetida dos reencontros no liceu depois de férias e das caras
novas que iriam aparecer n a turma.
0 meu pai, n a altura major e colocado fora de Lisboa, veio
passar u m fim-de-semana a casa, e lembro-me de o ter ouvido
dizer: 'Estes já estão safos, vão fazer deles gente como deve
ser, o pior é dos que lá ficaram.' E r a u m desses dias, aliás
frequentes, em que o meu pai vinha insuportável, e talvez por
isso pensei que se ele era o modelo da 'gente como deve ser',
o pior era com certeza dos filhos daqueles hungarozinhos.»
Foi nesse liceu de Belém, de que fala J P , que o conheci puto de calções curtinhos, já eu ia no calção de golf, coisa de que
poucos ainda se lembrarão. Franzino e recém-saído de u m a
maleita de pulmões, dessas que hoje se curam num abrir e fechar de olhos com comprimidos e lhe valera então u m ano de
repouso (metade dele aboletado em casa de uns tios em Benfica, pois o ar do mar...) e a frequência assídua de tudo o que
era pinhal à volta de Lisboa, estava proibido de correrias e de
pôr o pé n u m a bola, zelosamente vigiado por contínuos untados pelos pais, conhecidos dos meus, a quem devo tê-lo descoberto no meio daquela miudagem, pois me pediram que o protegesse das violências dos mais velhos, gente da minha idade.
0 rapaz era esperto e bom aluno, era essa a sua força e usava-a passando aos colegas aflitos respostas nos pontos (a que
hoje chamam testes), e por isso nunca terá sido afinal muito
molestado por ninguém. Escapou mesmo, com toda a naturali-
25
dade, à humilhante prova de uma «amostra», dessas que se faziam em cima da mesa de pingue-pongue, o paciente agarrado
de mãos e pés lembrando as gravuras dos Távoras, com a
malta histérica à volta e o contínuo fazendo-se ausente, mas
u m ou outro, como quem não quer a coisa, não se contendo e
deitando o rabo do olho.
26
28 de Outubro — Está n a m o d a olhar M a r x com desdém: n a d a
se c u m p r i u do que p r e v i r a , e os que t r i u n f a r a m em seu nome a c a b a r a m no poder de u m a b u r o c r a c i a sobre os trabalhadores, n u m sistema p o l i c i a l , n u m a economia a b s u r d a e industrialmente atrasada.
Pode olhar-se a coisa de outro modo. Se não considerarmos o m a r xismo como u m a ciência exacta (o que sempre recusei), mas como
u m conjunto de teses no domínio da história, da economia, da sociologia e d a política, então situamo-nos no campo das ciências sociais
ou humanas, as tais em que o observador é parte interventora. V e j a mos mais de perto u m aspecto dos que radicalmente diferenciam
ciências exactas e humanas: a previsão. N a s p r i m e i r a s , o que se p r e vê, com base em condições precisas conhecidas e eventualmente r e petíveis, acontece t a l como previsto. Podemos t i r a r disso p a r t i d o , ou
podemos tomar medidas defensivas (se o fenómeno anunciado f o r ,
p o r exemplo, u m a catástrofe), mas não o podemos evitar, desde que
não nos seja dado i n t e r v i r a tempo nas tais condições. Não posso
combater as leis da gravidade, quando muito posso evitar que u m
corpo caia.
M a s nas ciências h u m a n a s , desde que u m a previsão é conhecida,
e tanto mais quanto mais plausível, os agentes sociais põem-se em
movimento no sentido de a c o n t r a r i a r ou de a c u m p r i r , segundo os
interesses em causa. Se são os primeiros os mais poderosos, pode s u ceder que os fenómenos sociais previstos se não verifiquem, justamente porque a previsão estava certa— ou seja, p o r q u e se a c r e d i tou, dados os seus fundamentos, que estava. Não será algo semelhante o que sucedeu nos países de capitalismo avançado, aí onde
27
M a r x a n u n c i a r a que se v i r i a a d a r o afrontamento decisivo entre o
capital e o t r a b a l h o ? E , a i n d a assim, não esteve o capitalismo seriamente ameaçado durante as décadas de 20 e 30, acabando p o r ser
salvo em simultâneo p o r u m a guerra e p o r u m a inversão teórica n a
própria lógica capitalista (as políticas do tipo keynesiano, que p u n h a m o acento n a p r o c u r a , d i n a m i z a d a pelos governos, como motor
d a economia)? M a r x analisou, julgo que correctamente, o «capitalismo de oferta» do seu tempo, o capitalismo modo de produção. E m
termos económicos, aliás, as suas previsões d a concentração do c a p i t a l , da crescente componente técnico-científica no p r o d u t o , das c r i ses cíclicas do sistema, e outras mais, verificaram-se plenamente,
como continua basicamente a ser válida, a meu v e r , a sua teoria da
exploração. O que o capitalismo conseguiu, isso s i m , f o i a desmobilização política decorrente dessa mesma exploração. Apenas u m
exemplo: o capitalismo não conseguiu eliminar o desemprego (existem hoje n a E u r o p a mais desempregados do que nos piores dias dos
anos 30), conseguiu desmobilizá-lo e isso, digam o que disserem os
neoliberais, devido às políticas de segurança social contra as quais
se batem os defensores do liberalismo mais r a d i c a l . M a r x não terá t i do em conta, pela sua p a r t e , outro fenómeno desmobilizador: nos
períodos de p r o s p e r i d a d e , é maior a capacidade de luta dos t r a b a lhadores, mas não são essas ocasiões «revolucionárias»; nos períodos
de depressão, cresce o desemprego e, quando o sistema p o d e r i a e n contrar-se à b e i r a da explosão revolucionária, é naturalmente mais
b a i x a a propensão r e i v i n d i c a t i v a e de mobilização política. E n f i m , o
sistema pôde, jogando com o seu próprio poder económico, c o n t r a r i a r as previsões do «grande afrontamento», até chegar ao momento
em que começou a b a i x a r , em todos os países industrializados, o
próprio número de trabalhadores industriais. E a q u i que voltamos a
encontrar a interrogação f i n a l da nota anterior: u m a mais sofisticada análise de classes adequada à evolução que se processa não dará
pistas quanto ao futuro? Devemos c a i r no pessimismo de pensar que
só vale a pena «pensar as sociedades» e as suas desordens, quando
se tem poder p a r a i m p o r as soluções que daí podem decorrer? N e n h u m dos filósofos do século X V I I I previu, em r i g o r , a Revolução:
eles limitaram-se a enunciar princípios d a Razão aplicados ao o r d e namento das sociedades.
28
M a i s u m a breve n o t a : o facto de se ter «forçado» a revolução
anticapitalista em países que de n e n h u m modo c o r r e s p o n d i a m às
condições das previsões de M a r x , e de isso ter conduzido a u m sistema obviamente distinto da sociedade «sem classes» que M a r x a n u n c i o u , sem muito nisso se deter, não será u m a c o n t r a - p r o v a de que as
suas previsões estariam certas? F i n a l m e n t e , a lógica actual de evolução desses países não os aproximará b e m mais do sistema capitalista
m u n d i a l , espécie de retorno ou convergência que reforçaria essa h i pótese, ou seja, a de que a «saída marxista» do sistema não era
aquela?
13 de Outubro — P o r teimar em discorrer sem peias e me r e c u sar à militância c m organizações, posso i n c o r r e r n a acusação de m i litar afinal no mais r a d i c a l dos individualismos — afirmando-me de
esquerda. Dirão que tenho a obrigação de saber (se é que o não disse eu próprio várias vezes) que não se transforma u m a sociedade
através de acções i n d i v i d u a i s , sequer da sua soma. Que se todos
adoptassem t a l s o b r a n c e r i a , n u n c a mais h a v e r i a qualquer transformação: individualismo iguala conservadorismo (igualdade com que,
desde logo, estou de acordo). Que posso argumentar?
E m p r i m e i r o lugar que pretender manter alerta o espírito crítico
não pode ser identificado com i n d i v i d u a l i s m o . Esse é não só o único
«modo de estar» possível a u m intelectual, mas é-o (ou devia sê-lo) a
qualquer militante n u m a organização que não seja u m mero r e b a n h o , ou igreja. U m p a r t i d o de militantes obedientes e a-críticos (sej a m eles os chamados «intelectuais orgânicos»), mentalmente m i l i t a r i z a d o , é u m a organização essencialmente conservadora,
sejam
quais forem os objectivos e os discursos. P i o r e s , se assim se pode d i zer, só os despudorados partidos de clientelas, onde, aí s i m , i n d i v i dualismo e conservadorismo dão-se as mãos, cada u m batendo-se pelos seus objectivos próprios (ser m i n i s t r o , ser a d m i n i s t r a d o r , s i m plesmente ter influência, p o d e r , privilégios, dinheiro), de colectivo
vendo-se apenas u m acotovelamento histérico p a r a tomar as melhores posições. P e l a m i n h a p a r t e , n a d a disso me diz n a d a . M a s não
porque seja avesso, p o r princípio, a «organizações».
Aliás, só u m libertarismo r a d i c a l e, finalmente, fútil se não a b -
29
surdo, recusa totalmente a organização. U m a sociedade ideal, f u n dada n a permanente conflitualidade de pequenos (ou não tão pequenos) grupos, em que constantemente se procurasse ultrapassar a d i a léctica conflito/solidariedade, seria não só u m a sociedade estruturada (logo, organizadora) mas sobretudo a única talvez em que seria
possível compatibilizar organização e espírito crítico.
P o r outro l a d o , se é certo que a organização colectiva (no p l u r a l , e não q u a l q u e r ou quaisquer) é fundamental como agente de
transformação social, a acção e a p a l a v r a individuais podem ser,
apesar de t u d o , pequenas ou grandes pedras que ajudarão a p a v i mentar esse c a m i n h o . U m intelectual, p o r ser u m actor i n d i v i d u a l ,
não pode, só por isso, ser catalogado de i n v i d u a l i s t a . Dir-se-á que é
cómodo adoptar essa posição. Respondo que nunca é cómodo p a r e cer que se está de f o r a , estando d e n t r o , parecer que se julga os o u tros, quando se está julgando a si próprio, i r apenas até onde se pode i r , parecendo não querer i r mais longe, n u m a p a l a v r a , assumir-se
como se é (como se foi sendo socialmente produzido e condicionado)
e não c o n s t r u i r , p o r cálculo ou interesse, u m a imagem do que se não
é. E n f i m , u m a última observação: se só os militantes, tão escassos no
f i m de contas, pudessem estar isentos do apodo de i n d i v i d u a l i s t a ,
então não teria sentido sequer pensar em termos de qualquer socialismo. Há a q u i que i n t r o d u z i r a noção de participação, muito mais
alargada do que a de militância. A o falar disso, ocorre-me u m a objecção que c m tempos me f o i colocada p o r u m economista húngaro,
a propósito da análise do «socialismo de mercado» que fiz no livro
Sistemas Económicos
e Participação
Social. D i z i a ele, mais ou
menos: « T u d o o que V . diz está muito certo, e é consistente, desde
que se aceite o postulado de que o cidadão comum deseja
participar.
Mas isso é apenas u m postulado e, como t a l , é discutível e não pode
ser p r o v a d o . E se não fosse assim?»
C l a r o que não posso p r o v a r isso, nem o contrário. M a s se houve
coisa que sugeriu o período de 74-75 foi que o postulado terá algum
fundamento: nesses dias, em que e r a grande a margem p a r a acções
colectivas (por ser débil o P o d e r político, ou vice-versa), foi patente
o desejo de p a r t i c i p a r n a resolução dos próprios problemas. F a l t o u ,
porém, a apreensão d a t a l dialéctica conflitualidade/solidariedade,
que poderá p e r m i t i r integrar a níveis mais elevados essas «soluções
30
dos próprios problemas». O u seja: é o contexto (habitual) de concentração do P o d e r que tende a i m p e d i r mesmo o simples desejo de
p a r t i c i p a r . T r a n s f o r m a r a sociedade será, antes de mais, l i b e r t a r esse desejo. M a s , mesmo nesta sociedade, é surpreendente, apesar de
tudo, a capacidade de iniciativa e a vontade de participação. U m i n telectual de esquerda é necessariamente
p o r t a d o r desse desejo de
participação. De participação crítica — como a sua própria.
26 de Novembro — Sempre me ficou n a memória a frase de O r son Welles no filme O Terceiro Homem (frase dele, pois não consta
da novela de G r a h a m Greene) sobre a Suíça: «Um país que é u m
modelo de o r d e m , de organização, de seriedade, mas o que deu ao
mundo? O relógio de cuco!» A o meter hoje o cachecol na manga da
gabardina, ocorreu-me algo de semelhante: «O que a p r e n d i eu em
ano e meio n a superlaboriosa e superorganizada A l e m a n h a , já então
(em 59-60) a caminho d a grande prosperidade? U m a m a n e i r a excelente de não p e r d e r o cachecol!»
1 de Dezembro — Está em pleno a maré n e o l i b e r a l , v i n d a , como
quase t u d o , de outras paragens. Curiosamente, agora que a moda é
olhar p a r a os países anglo-saxónicos, é de novo francesa, neste caso,
a inspiração. Registo, ao acaso, u m texto de A . J . S a r a i v a sobre o l i vro de Cândida V e n t u r a , o l i v r o de Pacheco P e r e i r a e E s p a d a (de
que só l i a elucidativa apresentação do F a f e , c u j a longa série de a r t i gos no DN foi divulgando tudo o que em França se i a p u b l i c a n d o e
discutindo sobre estas questões), a v i n d a recente de R o s a n v a l l o n a
L i s b o a , u m novo artigo de A . J . S a r a i v a sobre «Democracia e L i b e ralismo», u m artigo de G u i l h e r m e de O l i v e i r a M a r t i n s , em que aspir a a u m «liberalismo de esquerda», enfim, há dias, a formalização
do C l u b e da E s q u e r d a L i b e r a l .
E interessante que (quase) toda esta gente se preocupe s o b r e t u do com «a liberdade», em abstracto, e b e m pouco com as «liberdades em conflito».
Basta r e c o r d a r , p o r exemplo, que liberdade empresarial e l i b e r dade sindical são coisas conflituais, e não é por acaso que esta últi-
31
m a foi u m a conquista difícil, pois e r a considerado, em nome d a ideia
l i b e r a l , que as «associações de trabalhadores» l i m i t a v a m a liberdade
i n d i v i d u a l (a t a l l i b e r d a d e em abstracto). E m França, foi preciso
quase u m século p a r a revogar a famosa L e i L e C h a p e l i e r , do tempo
da Revolução, e p e r m i t i r a criação de sindicatos. Então em que f i c a mos? P o r q u e não se reconhece muito simplesmente que o liberalismo
nasceu intimamente associado à filosofia do direito n a t u r a l e, desde
L o c k e , o direito considerado básico e f u n d a d o r d a «sociedade civil»
era o direito de p r o p r i e d a d e ? P o r outras p a l a v r a s , o liberalismo o r i ginal — afinal o que hoje se esconde nas prosas l i b e r a i s , sobretudo
de gente que vem d a esquerda — não e r a u m a teoria da liberdade
(ou «das liberdades») m a s , no essencial, u m a justificação r a c i o n a l
d a «liberdade económica», e foi essa que a burguesia pretendeu i n s t a u r a r , contra as peias do Antigo Regime. «Liberalismo igual a r a posa livre n u m galinheiro livre», disse alguém há tempos. Está tudo
dito.
Quando se f a l a , pois, de l i b e r d a d e , como u m objectivo p r i m o r dial e abstracto, n u m sentido marcadamente político — não é o p r o blema da U R S S que está sempre n a mente dos ncoliberais de extracção literária? — pretende-se, n a realidade, ocultar a face económica
do liberalismo, que é a sua v e r d a d e i r a face: a da l i v r e iniciativa p r i v a d a , n u m a p a l a v r a a do capitalismo nascente. N o plano teórico, u m
B u r k e e, entre nós, u m Acúrsio das Neves, não e r a m partidários do
liberalismo económico n u m Estado hierárquico, não-democrático?
N a prática, o liberalismo económico, como é bem conhecido, está
também longe de implicar o liberalismo político. A s s i m foi ao longo
do século X I X , quando a explosão do capitalismo i n d u s t r i a l convi-,
veu com sistemas políticos em que o direito de cidadania se r e s t r i n gia às minorias com rendimentos mínimos comprovados (o chamado
regime censitário). A s s i m c o n t i n u o u nos períodos de maior crescimento de u m a França ou de u m a A l e m a n h a , com Napoleão I I I e B i s m a r c k , e logo depois com o Japão. A s s i m volta a ser hoje, quando
assistimos ao liberalismo (económico) r a d i c a l de u m P i n o c h e t , aos
exemplos de u m a C o r e i a ou de T a i w a n e, com maior contenção n a t u ralmente, à dureza política de u m a T h a t c h e r ou de u m R e a g a n , liberais (no plano económico) como ninguém. O que, de facto, p r e o c u p a
os liberais não são as liberdades i n d i v i d u a i s , que f o r a m arrancadas
32
passo a passo durante quase dois séculos, mas a liberdade de «empreender» e de fazer f r u t i f i c a r os seus capitais. Isto em termos ideológicos, c l a r o , pois esses mesmos liberais sempre s o u b e r a m aproveitar da melhor m a n e i r a as incursões do Estado n a área económica,
de que f o r a m e continuam a ser os primeiros beneficiários.
Volto a alguns dos nomes citados no princípio. L i b e r a l i s m o e esq u e r d a : o que têm a ver? como se (ou não se) compatibilizam? R o sanvallon, sem excessivamente se entusiasmar com o neoliberalismo,
diz contudo que a esquerda tem de passar de u m a «cultura crítica»
a u m a «cultura de governo». Segundo ele, deixou de haver receitas,
há que descobrir u m «pragmatismo» face aos problemas postos à sociedade, face a u m a imaginação bloqueada pela simultânea crise do
marxismo. C u l t u r a de governo? Pragmatismo? E m resumo: a esquerda tem de ser realista, deixar de se projectar no impossível, no
utópico. Penso o contrário: é sempre, e cada vez mais, u m a «cultura
crítica» que a esquerda tem de desenvolver. G o v e r n a r u m capitalismo em crise não me parece ser a função essencial de u m a esquerda
que, como se sabe, é «chamada ao poder» nas alturas piores, em que
tem de se meter ela própria nas mais fundas gavetas.
Guilherme O l i v e i r a M a r t i n s , essa insuportável máquina de c i t a ções, a s p i r a , esse, a u m «liberalismo de esquerda». O que será isso?
D i z que aspira ao mercado como «desestabilizador», como c r i a d o r
de uma dinâmica de mudança, algo que «obrigue a sociedade a mexer» (aqui cita A l a i n M i n e ) . M a s a sociedade mexe, descanse. E
quanto mais tudo for m e r c a d o , tudo for negócio, tudo se c o m p r a r e
vender, mais lugar há p a r a o liberalismo (o tal) e menos p a r a a esq u e r d a : a que pensa não n a L i b e r d a d e mas nas condições da l i b e r dade, não n a L i b e r d a d e como u m f i m mas nas múltiplas liberdades
como meios p a r a que cada u m possa v i v e r , possa a m a r , possa p a r t i c i p a r , possa sair da ignorância ou talvez da miséria — possa ser, e.
não apenas ter. Estas combinações astuciosas, como «liberalismo de
esquerda», fazem-me l e m b r a r os «hegelianos de esquerda», ou os
«gaullistas de esquerda». O r a q u e m se l e m b r a hoje j á , f o r a dos
meios especializados, do S r . F e u e r b a c h ou do S r . René Capitant?
Não houve também, n a sua origem, nazistas e fascistas «de esquerda»? A expressão «nacional-socialismo» não é, no f i m de contas,
33
equivalente a «nacionalismo de esquerda»? E melhor não b r i n c a r
com coisas sérias. E perceber que tais astúcias são meros alibis de
que uns quantos senhores se servem n a sua irresistível transição...
p a r a a d i r e i t a . Veremos o percurso do recém-criado clube.
34
1985
12 de Janeiro — E n c o n t r o u m amigo, ex-assistente d a F a c u l d a de de L e t r a s , radiante p o r se ter libertado d a tutela de u m professor
a que c h a m a , no mínimo, fascista, e que é todo-poderoso n u m D e partamento que v a i povoando de dedicados servos e protegidos; o u ço outro amigo, esse profissional dos melhores d a nossa p o b r e rádio,
amargurado pela autêntica perseguição que lhe foi m o v i d a , esta p o r
u m cacique do P S , e que o afastou de u m p r o g r a m a que diariamente
me deliciava. E recordo a famosa definição de «fascista» do P e r e i r a
de M o u r a , pouco depois do 25 de A b r i l — tão r i d i c u l a r i z a d a então.
Acho que ele tinha razão: os pequenos ditadores de repartição, de
Faculdade (e se conheço b e m o que se passa em L e t r a s , onde se r e constituíram, com outros medíocres, os feudos de outros tempos!),
de empresa, de família são, de facto, exemplo de u m fascismo inter i o r i z a d o . São eles que explicam p o r que é aceite u m a d i t a d u r a —
são os nossos inimigos quotidianos. Não estamos em vésperas de
qualquer novo fascismo institucional, mas a legião de «pequenos d i tadores» que nesta democracia p u l u l a m , ditam sentenças, t r i u n f a m e
passeiam as suas «importantes saúdes» é muito inquietante. E q u a n tos deles m a l se podem l e m b r a r daqueles tempos. H o u v e q u a l q u e r
coisa que passou desses tempos p a r a os de hoje. Como foi?
Mais desconcertante é o caso de alguns homens muito estimáveis, com quem convivi de perto ou simplesmente encontrei em raras
conversas, c u j a imagem é de grande a b e r t u r a , de grande generosida-
35
de e de notáveis capacidades nas respectivas profissões e especialidades. Homens activos, determinados, de m u i t a experiência, de m u i t a
«vida», com ideias c l a r a s , gostam de ser a d m i r a d o s (venial, se p e c a do é) e... seguidos. Rodeiam-se de «colaboradores» ou «discípulos»,
que m a l se dão conta de que o Mestre aceita tudo menos que o c o n testem, que o «não acompanhem», que o «não ouçam». Déspotas i l u minados, estes? Será. M a s quantos deles não terão destruído muito
espírito crítico em formação! A d m i r e i os que conheci, mas n u n c a i n tegrei as respectivas «cortes»: acho mesmo que foi essa a melhor
p r o v a de admiração e de estima que lhes p o d i a d a r . S o u dos que
preferem os que, perante u m suposto m a n j a r , dizem: «Se é b o m ,
não sei. Eu gosto», aos que comandam: « P r o v a , que é bom. V a i s
gostar!»
22 de Janeiro — Delicioso diálogo n a T V , entre o impagável
Luís P e r e i r a de Sousa e a p s i q u i a t r a Lígia M o n t e i r o , a propósito de
fantasias/fantasmas sexuais. A o o u v i r referir o papel dos ídolos do
cinema, d a canção, etc. (os J u l i o Iglesias & Cia) nas fantasias femininas, reage o entrevistador: «Mas isso tem algo de adúltero!». R e s posta: «Não tenho n a d a contra...» L P S salta d a cadeira: «Mas e n tão, e os maridos?!!» Conclusão lógica da p s i q u i a t r a : «Esses que
fantasmem com a M a r y l i n Monroe...»
E s t a questão dos fantasmas sexuais, que antes se cingia às alcovas e aos círculos de fiéis d a psicanálise, parece estar a chegar à r i balta das coisas públicas. Fazem-se artigos e inquéritos em revistas
de grande difusão, e, pelos vistos, também já disso se ocupa a televisão. R e d u t o último d a sexualidade (e da intimidade consciente), a
sexualidade fantasmada é, a meu v e r , se assim se pode d i z e r , a mais
livre de todas, o que não quer dizer a mais gratificante. Quantas vezes muitos de nós se terão interrogado, perante indivíduos bisonhos
e solteirõcs/onas no sentido t r a d i c i o n a l , sobre como poderão viver
«sem sexo». Poucos casos haverá, a r r i s c o : muitos sobrevivem p o r
v i a d a actividade sexual fantasmada. P o r não ser totalmente «cumprida», será frustante, mesmo dramática mas, comandada pela memória e pela imaginação, permite tudo, incluindo u m delirante diálogo com o m u n d o .
36
Este p r o b l e m a , assim olhado, não o tenho visto t r a t a d o , j á que o
tema surge sempre em termos de «sexualidade complementar»: se
«se fantasma» durante o acto sexual; ou pelo meio dos afazeres q u o tidianos; ou se como suporte d a masturbação, mas sempre supondo
que em paralelo com u m a actividade sexual n o r m a l . È claro que
sim, os i n q u i r i d o s (ou os articulistas, por vezes p s i q u i a t r a s , por eles)
contam muito livremente como, com quê, com q u e m , no tom de
quem «se enriquece» com isso, de quem encontra nisso u m a l a r g a mento ou u m a diversificação d u m a sexualidade experimentada. È
r a r o , no entanto, r e f e r i r os fantasmas sexuais como elemento p o r ventura vital de recusa d a solidão (não só sexual) e também d a r e a l i zação de desejos que, consciente e assumidamente, não se quer concretizar. E , porque não, tantas vezes, de suporte dessa famosa i n s t i tuição que é a família, quando ela se t o r n a no mais insuportável l u gar de solidão: quantos não sobrevivem nesse deserto afectivo e sexual à custa dos seus fantasmas sexuais? De que v i v e r i a , arrisco de
novo, a imprensa e sobretudo o cinema pornográficos, se não f o r a
tudo isto?
25 de Janeiro — P e l o meio d a indigência temática e poética da
música rock portuguesa, ficaram-me u m d i a no ouvido algumas p a lavras marteladas pelos «Já fumega»: «A ponte é u m a passagem/par a a outra margem.» E perguntei-me: que ponte? que margem?
E bem posssível que, muito prosaicamente, aqueles rapazes do
P o r t o se estejam a r e f e r i r à ponte muito r e a l sobre o D o u r o , ao sair
dali, e que a margem seja tudo o que está p a r a lá, L i s b o a ? , como p a r a os lisboetas será P a r i s , L o n d r e s , «o mundo» — as cidades m i t i f i cadas onde nós «seríamos outros». M a r g e m - m i t o , margem-aventura,
margem-outro?
Mas ocorrem-me outras coisas. Lembro-me do L a f c a d i o do G i d e
(As Caves do Vaticano), do R i p l e y da H i g h s m i t h , do Kees P o p i n g a
do Simenon (O Homem Que Via os Comboios Passar). O crime g r a tuito, o último divertimento ou a última fuga — margem d e f i n i t i v a ,
irreversível, que corta todas as pontes, a i n d a quando só o próprio o
saiba. Lembro-me também dos vários enfants terribles, os do C o c teau, mas também as Z a z i e , Sally M a r a ou L o l i t a . M a r g e m i n f a n t i l ,
37
ou adolescente, temporária, dos que acabarão p o r chegar a «bom
porto» n a idade adulta — como n a Infância de Um Chefe, do S a r tre. A menos que alguém não tenha encontrado a ponte... L e m b r o -me, também, de u m a historieta que há tempos escrevi à pressa n u m
papel de ocasião.
Todos os habitantes de u m a pequena comunidade, com u m a
única excepção, são fervorosos amantes da l i m p e z a , não tolerando
u m p a p e l , u m a b e a t a , quase u m grão de pó nas ruas da povoação. A
excepção é u m cidadão «ovelha ranhosa», que não se p r e o c u p a com
isso, não se coibindo de deitar pontas de cigarro, ou bem p i o r , p a r a
os passeios e p a r a os j a r d i n s . Os restantes, tudo gente muito l i b e r a l ,
aceitam sem problemas que ele viva no meio da sujidade, desde que
nos limites da sua habitação: é o seu espaço p r i v a d o , tem pois o d i reito de aí fazer o que entenda. M a s já não toleram que ele viole,
nas áreas públicas, o direito à limpeza da m a i o r i a . Não foi difícil a f i n a l encontrar u m a boa solução. A simples existência desse cidadão
«anormal» i m p u n h a a necessidade, de outro modo dispensável, de
haver alguém que se ocupe da limpeza das r u a s . Então, bastou que a
Câmara contratasse o homem como v a r r e d o r de ruas. Desta f o r m a ,
cada vez que ele, como cidadão, deita u m papel p a r a o chão, ele
próprio, como v a r r e d o r , l i m p a a r u a que acabou de s u j a r . O homem
é, assim, livre de sujar a v i a pública (com o que democraticamente
se respeita os «direitos das minorias»), sem que isso p r e j u d i q u e o d i reito d a m a i o r i a a vê-la sempre i m a c u l a d a . A m a i o r i a não só se v a n gloria d a sua capacidade democrática p a r a integrar u m m a r g i n a l ,
como tem a l i , sempre à vista de todos, u m excelente exemplo p a r a os
filhos de «como não devem ser» — se a m b i c i o n a m ser mais do que
varredores de r u a s .
P o r f i m , nesta anárquica associação de ideias, lembro-me da h o je tão falada ponte que P o r t u g a l seria entre a E u r o p a e a «margem»
a f r i c a n a , dado, como se d i z , «o p r o f u n d o conhecimento que têm os
portugueses das realidades africanas». A c h o a maior graça a isto.
Que portugueses conhecem alguma coisa dessas tais realidades? Os
que por lá v i v e r a m anos e anos, e u m d i a , como se sabe, «retornaram». Não me consta que seja entre estes que se tem r e c r u t a d o , ou
virá a r e c r u t a r , os cooperantes e os técnicos que p a r a lá se tem m a n dado. Destes, alguns talvez já antes se tivessem deslocado a essas
38
terras, mas p o r períodos c u r t o s , insuficientes p a r a a d q u i r i r o t a l
«profundo conhecimento». Não vejo, pois, que, p a r a além da língua
(esse, argumento de algum peso), os portugueses concretos, não os
míticos, que vão àqueles países prestar assistência técnica, ou mesmo simplesmente fazer negócios, sejam melhores conhecedores da
realidade africana do que franceses, alemães, italianos ou b r a s i l e i ros, estes últimos p o r certo b e m mais à-vontade nessas paragens do
que qualquer j o v e m professor ou engenheiro português que lá cai
pela p r i m e i r a vez. De resto, acresce que a experiência dos que lá v i veram, a i n d a que fosse u t i l i z a d a , é coisa que se perde n u m a geração. O u será que se h e r d a de pais p a r a filhos?
E s t a é u m a ponte que só os nossos políticos vêem: os europeus j á
lá estão, com o dinheiro que têm, que chega e s o b r a p a r a não p r e c i sarem dos «nossos profundos conhecimentos»...
27 de Janeiro — A peça de G o r k i Os Veraneantes (dada há dias
n a televisão) trouxe-me de novo à superfície u m a questão que há
muito me p e r t u r b a , e que julgo ser em b o a parte responsável p o r
uma certa imagem de d u r e z a , ou intolerância, que alguns me a t r i buem. E u m facto que sempre tive, e continuo a t e r , u m a enorme d i ficuldade em dissociar a p a l a v r a (ou a obra, em geral) d a v i d a e do
comportamento do seu autor — de todos aqueles que me enviam
mensagens escritas, faladas, filmadas, pintadas. P r e s s i n t o , m e l h o r ,
sei que isso me t o r n a muitas vezes injusto, que há obras indiscutivelmente b r i l h a n t e s , estimulantes, belas, provenientes de autores p o r
quem não tenho grande (se é que tenho alguma) consideração em
termos humanos, no plano ético, ou político, p o r exemplo. Aliás,
que não é u m a atitude razoável, basta p a r a o p r o v a r constatar que
com isso penalizo (com que direito?) os autores actuais face aos a n t i gos, os portugueses face aos estrangeiros, os lisboetas face aos « p r o vincianos», os da «minha rua» face aos dos «outros bairros», n u m a
p a l a v r a , aqueles sobre quem tenho mais fácil informação face aos
desconhecidos (no que respeita à sua v i d a pessoal, e social). A i n d a
há tempos l i o que diz V i c t o r Segalen, no péssimo português do t r a dutor, que deixo intacto, ao prefaciar Noa-Noa, do G a u g u i n : «Alguns seres são excepcionais apenas n u m sentido, n u m eixo a c u j a
39
volta r o d a [!!], ao que parece, o conjunto das suas forças vivas; no
resto (economia doméstica, visitas de cortesia, sentimento do dever)
podem ser burgueses, podem ser n o r m a i s . Só tem que ver com o
temperamento, o comportamento físico [??]: determinado escritor,
que é esplêndido e a r r e b a t a d o , de aparência c a r n a l [??] pode ser u m
magro sacristão; de f o r m a alguma o génio exclui o exterior digno e
decente, u m a v i d a de negócios e pontualidades.» Colocado de outro
modo, é o mesmo p r o b l e m a da contradição entre o homem e a o b r a ,
ou entre a o b r a e a v i d a .
E , também, sei que F r a n c i s B a c o n , u m dos pais do espírito científico m o d e r n o , e r a u m c o r r u p t o e u m escroque; que Rousseau pôs
n a r o d a dos abandonados todos os seus filhos recém-nascidos, u m
por u m («Os filhos de Rousseau»: belo tema p a r a u m grande r o m a n cista lhes traçar vidas imaginadas); que o divino Goethe desprezou o
jovem K l e i s t , e lhe sabotou a estreia de u m a peça, p o r v e r nele a l guém cujo génio lhe p o d e r i a fazer s o m b r a ; que L e i b n i z , p o r ânsia de
d i n h e i r o , vendia falsas genealogias, atestadas pela sua autoridade e
prestígio, a famílias de bastardos d a grande n o b r e z a alemã, e era
pouco escrupuloso n a d i p l o m a c i a e nos negócios (além de se suspeitar que escondeu os seus contactos com S p i n o z a , p a r a lhe p l a g i a r ,
depois de m o r t o , u m a o b r a então inédita). Também não preciso que
António B a r r e t o , n a sua crítica aos «Avestruzes», me venha l e m b r a r
que se pode ser de esquerda e, ao mesmo tempo, ser vigarista, c a r r e i r i s t a , desonesto, etc. S e i , mas custa-me aceitá-lo. Como me custa
aceitar u m a atitude como a que transparece desta passagem do
L'amant, da D u r a s : «Colaboradores, os F e r n a n d e z [amigos d a D u r a s , em P a r i s , no tempo d a ocupação], E e u , dois anos depois d a
guerra, membro do P . C F . A equivalência é absoluta. E a mesma
coisa, a mesma tristeza, o mesmo pedido de socorro, a mesma d e b i l i dade de julgamento, digamos a mesma superstição, que consiste em
crer n a solução política do p r o b l e m a pessoal.» A q u i a questão é dist i n t a , e situa-se no plano mais vasto dos labirintos da tolerância: pode ser-se amigo de u m c o l a b o r a d o r , sem de algum modo se colabor a r ? M a s não é p o r acaso que esse texto me ocorre, precisamente
agora. Não consigo lê-lo sem u m calafrio: pode assim desculpar-se
tudo, com u m a simples frase? N o caso dos autores e das respectivas
obras, pergunto-me: posso extasiar-me com a o b r a , e desculpar o
40
resto? N a realidade, não posso, isto é, não sou capaz. A R e n a t t a , da
Cidade das Flores,
diz a R o s a b i a n c a , impressionada com a
Electra
de R i c a r d o Strauss: «Não gosto, ele é n a z i e não gosto. Não posso
gostar.»
28 de Janeiro — Vem-me à memória, sei lá porquê, a história do
groom do Café M a r t i n h o (os poucos que a i n d a há, hoje chamam-lhes
paquetes). Há uns vinte e cinco ou t r i n t a anos i a muita vez, aos fins
de tarde, ao M a r t i n h o , o da Praça D . João da Câmara, já desaparecido, não o d a A r c a d a , templo do culto de Pessoa, hoje tão n a moda
— o culto e o café. Salão imenso, rectangular, apenas com meia dúzia de colunas esguias, muito altas, que a i n d a lá estão. Pelo meio das
mesas c i r c u l a v a u m a legião de grooms, miúdos dos seus 12 anos, que
mudavam os cinzeiros, f a z i a m recados, t r a z i a m tabaco e os j o r n a i s
assim que chegavam (os j o r n a i s da tarde saíam pelas 6 h o r a s , nessa
época), chamavam o engraxador. P o r lá p a r e i alguns anos. Aos p o u cos, os miúdos i a m crescendo e desapareciam — nem aquela fatiota
cheia de botõezinhos e o queijinho típico no toutiço (como hoje só
quase se vê nos alunos do Colégio M i l i t a r ) se d a v a m com rapazes
mais espigados. F u i - m e então dando conta de que u m deles i a f i c a n do sempre. Já com b u ç o , b o r b u l h a s , ar de quase-homem, e lá c o n t i nuava ele p a r a u m lado e p a r a o u t r o , no meio d a miudagem. Parece
que o estou a ver: dava uns ares ao José C u t i l e i r o de então, com
olhos claros, faces ligeiramente chupadas, n a r i z a a t i r a r p a r a a d u n co sem o ser. Impressionava-me vê-lo: pressentia que os outros t i n h a m , cada u m deles, a r r a n j a d o o seu empregozito de adolescente e
que ele — porquê? — não o conseguira. Perguntava-me se o i r i a m
aguentar a l i eternamente, groom j á a d u l t o , ou se simplesmente o
despediriam u m belo d i a , quando a sua figura fosse j á esteticamente
insuportável. N u n c a cheguei a saber. E n t r e t a n t o o M a r t i n h o fechou.
Que terá sido feito dele? P o r onde andará hoje?
Quantas perguntas destas f i c a m sem resposta! Que terá sido f e i to, p o r exemplo, daquele soldado que, em 1966, recém-chegado à c i dade de C a b i n d a , onde a coisa n a a l t u r a estava f e i a , c h o r a v a p e r didamente, amparado p o r dois colegas mais serenos, à entrada do
41
único hotel do sítio? Terá escapado? Se escapou, recordar-se-á ele
desse episódio?
E Jacqueline? Estudante estagiário n u m a fábrica próximo de
Longwy, n a L o r e n a , eu f o r a convidado p a r a j a n t a r em casa de u m
comerciante do R o t a r y l o c a l , c u j a f i l h a estivera a passar férias em
P o r t u g a l . Jacqueline, u m a francesinha muito l o i r a , adolescente a m i ga da casa, f i z e r a comigo a viagem de regresso, ao f i m da noite, no
carro da família, e saíra antes de m i m . E então que a sua jovem a m i ga me i n f o r m a , entre dentes, que a r a p a r i g a tinha u m a doença i n curável e não d u r a r i a muito tempo. Não as tornei a ver. Terá J a c queline m o r r i d o ? Teremos p o r v e n t u r a , caso contrário, já alguma
vez cruzado os nossos caminhos, em qualquer l u g a r , a q u i , em F r a n ça? O pouco que sabemos do m u n d o , dos outros, de tudo. Que chega, a i n d a assim, p a r a disso nos fazermos, p a r a sobre isso c o n s t r u i r mos.
31 de Janeiro—Sempre
que a m i n h a f i l h a chega a casa e diz
«Hoje foi u m dia tão b o m ! » — correram-lhe bem as aulas, ganhou o
jogo de basquete, trocou olhares cúmplices com u m colega, sei lá que
mais — não consigo evitar l e m b r a r - m e , abusivamente, das últimas
palavras de Um Dia na Vida de Ivan Denissovich, de Solíejnistsine
(de que então apenas conhecia esse l i v r o e nada mais: se fosse hoje,
voltando ao tema de há dias, tê-lo-ia lido da mesma maneira?): «No
campo de prisioneiros S u k h o v adormeceu completamente satisfeito,
feliz. F o r a bafejado p o r vários golpes de sorte durante aquele d i a :
não o h a v i a m posto no x a d r e z ; não t i n h a m enviado a brigada p a r a o
C e n t r o ; s u r r i p i a r a u m a tijela de kasha ao almoço; o chefe de b r i g a da f i x a r a bem as rações; [...] c o m p r a r a tabaco. E não caíra doente.
U m dia sem u m a nuvem carregada, s o m b r i a . Quase u m dia feliz»
E u m desempregado, que calcorreia por t r a b a l h o , ou se arrasta
pelas ruas? E u m empregado, que diariamente repete, a horas certas, os mesmos gestos maquinais e desinteressantes? E u m velho, que
frequenta, dias sem f i m , os mesmos cantos da casa ou os mesmos
bancos de j a r d i m ? Que pequenos nadas lhes conseguirão fazer «um
dia feliz»? Que sociedade é esta, de tão baixas expectativas, que a
simples pausa de u m a máquina, o tempo de u m a beata, ou u m banco
42
livre batido pjelo sol cheguem talvez p a r a t o r n a r «feliz» u m d i a igual
a todos os outros?
5 de Fevereiro — Já muito perto de M a d r i d , olho d a j a n e l a do
comboio e a p r i m e i r a imagem que vejo é u m a parede de fábrica,
quase encostada à l i n h a , e nela pintado em grandes letras b r a n c a s :
«Ni despido, n i sanción, l a Dirección a l paredón!» Estaremos condenados a glosar eternamente o tema detestável d a «brandura dos nossos costumes»? D e facto, n e m mesmo nos anos fortes de 1974 e 75 a l guma vez v i operários r e c l a m a r e m o fuzilamento do patrão. Sinais
longínquos de u m a guerra c i v i l difícil de sarar? O u qualquer fogo i n terior de que ela tenha sido a expressão limite?
43
6 de Fevereiro
«Dou por mim dezanove anos feitos, a estudar Economia.
Por que não Direito, ou Medicina, ou Engenharia? Por que não
outra coisa qualquer, ou simplesmente ter procurado u m emprego? Ninguém me pediu opinião: no fim do 5. ano, inscreveram-me n u m a alínea que me traçava o destino. Imagino, sei
lá, u m a violenta discussão, ou muitas, sobre o assunto, eu já
deitado, batendo-se o meu pai pela nobre carreira das armas e
opondo-lhe a minha mãe o argumento da minha fragilidade física, ou o do meu jeito p a r a as matemáticas, ou, se a tanto se
atreveu, o da persistência com que, desde muito miúdo, sempre respondi com os habituais disparates à inevitável pergunta 'o que queres ser, quando fores grande?', mas nunca me
saiu esse, e seria até o mais natural. 'Ora alguma razão', parece que a ouço dizer, 'haverá p a r a isso', o que ela bem sabia.
De u m a coisa estou certo: não foi dela que veio. a ideia da Economia pois, se era isso o que desejava, terá tido a manha de
sugerir todas as hipóteses menos essa. E assim me coube, se
não me engano, u m a profissão achada por compromisso, raríssima vitória materna em tantas e tantas disputas por dá cá
aquela palha, e esta, pelo menos p a r a mim, não o era. Adivinho o meu pai rematando a conversa, como que a mastigar o
seu desaire: 'Tivesse o rapaz ido p a r a o colégio militar, outro
galo cantaria!'
Q
É claro que h a v i a outras coisas pelo meio. Desde que me
conheço que ouço a m i n h a avó, casmurra e cliente assídua da
44
Manutenção, a repetir a graça, olhando de soslaio para o genro, de que 'capitão é nome de bolacha'. Isso j á m a l o irritava.
Bem pior seriam, e serão, as constantes piadas de caserna, os
sorrisos m a l disfarçados que lhe foram acompanhando as promoções: alferes Capitão, tenente Capitão, os anos difíceis de
capitão Capitão, a patente enfim ultrapassando o nome, e por
aí fora, até onde for possível (ou as altas patentes acharem a
justaposição ainda compatível com a dignidade militar). O que
cairia n a rotina e no esquecimento com alguém mais bonacheirão, dará p a r a alimentar gerações de recrutas com u m tipo
crispado e certamente grosseiro e insolente como o meu pai.
Serei optimista pensando que, ao aceitar ou contrapor 'Economia', ele terá, talvez inconscientemente, querido poupar-me a
tais 'humilhações'? A s da avó, as do quartel, e também os
constantes apartes maternos de que 'família de militar não é
família nem é nada: ou andam com a casa às costas ou anda
u m p a r a cada lado.' F o r a ela que impusera, desde o princípio,
a segunda alternativa e, dado o militar que lhe coubera em
sorte, calculo as graças que dava a Deus. Mas antevendo em
mim, necessariamente, o marido ideal p a r a qualquer jovem casadoira, não desejaria à futura nora as penas (e os riscos) de
frequentes separações, ou então a tal vida de saltimbancos
que não dá sossego a ninguém.
Tudo isto são conjecturas, mas o que importa é que daí, ou
de outra forma qualquer, eu v i m parar a Económicas. Vendo
bem as coisas, poderia eu, com quinze anos, ter decidido melhor? Estaria hoje mais satisfeito com o que eu próprio tivesse
escolhido então? Acho que é u m a violência ter que optar por
uma profissão com essa idade, e que a sociedade perde, dessa
maneira, muitas 'vocações' que então ainda não se manifestaram. Mas perguntará o filho do pedreiro se poderia ser outra
coisa, e não servente? Resta que, se a escolha fosse minha, ao
menos não teria a sensação de ter sido empurrado.
Confesso que me interessam bem pouco as balelas que ando a aprender. Não vejo o que estas altas matemáticas e estas
teorias todas têm que ver com a vida real das pessoas, e estou
para ver o que irei fazer quando isto acabar. Entretanto, como
45
nasci aplicado e avesso a fazer má figura, vou-me safando menos mal e u m dia a minha mãe dirá às amigas que eu fiz u m
curso brilhante. Para ela, estará tudo bem.
Que o rapaz não gostava de fazer má figura, é verdade,
mas creio que não foi coisa que lhe viesse de nascença, era
antes a expressão de u m a timidez quase doentia, de u m a insegurança que lhe v i n h a em boa parte do confronto, a que assistia confuso, entre a desmedida convicção materna de que estav a ali u m génio, que havia que cultivar e proteger como u m a
flor de estufa, e a evidente desconfiança do pai, mulherengo e
assíduo frequentador de primeiras filas do Parque Mayer e sequentes andanças pelos clubes nocturnos, p a r a quem ele não
passava de u m a irremediável desilusão, fraco como u m a menina, só bom para livros e estudos, algo entre o suspeito e o maricas. Durante muitos anos, J P conseguiu sem esforço estar
sempre entre os primeiros naquilo em que se metia, o que não
chegava p a r a lhe apaziguar as dúvidas sobre a importância
que isso teria, em definitivo, face a tudo de que se sentia incapaz e em que, por isso mesmo, não se punha à prova.
A propósito de timidez, contou-me u m a vez J P o suplício
que foi p a r a ele, até bem tarde, a ida periódica ao barbeiro,
quando u m a casual troca de olhares com a manicura ou qualquer anedota mais pesada contada por algum dos presentes
lhe produziam imediato rubor que nem sequer podia disfarçar,
ali pregado à cadeira, e pior ainda quando não encontrava palavras p a r a dissuadir a mãe de, terminado o circuito das compras, o passar a buscar como se fosse u m a criança, ali onde,
já sem isso, se sentia u m estranho e temia que todos o olhassem como o pai, onde desconfiava estarem-se a tramar a cada
momento misteriosas combinações de adultos, ao ponto de o
fazer associar a barbearia quase a u m local de perdição, coisa
que, é claro, ignorava o que fosse.
De outra vez, mais miúdo, lembra-se do pai o ter levado
ao café, à beira da estação do Rossio, onde passava todas as
horas livres quando estava colocado em Lisboa ou nas redondezas, talvez u m dia em que o fosse levar ao futebol, ou quando desapareceu seis meses de casa e o ia pegar alguns sábados
46
ao eléctrico em que a mãe o trazia até ao Rossio, e logo havia
de aparecer por lá u m a cauteleira, pelos vistos velha conhecida do pai, que lhe pôs as mãos no ombro e o classificou alto e
bom som de «belo rapaz» e com u m malicioso trejeito de boca
lhe vaticinou que «com uns olhos desses, ainda me vais sair
pior do que o teu pai! Aproveita, menino, que a vida é curta»,
enquanto ele se assoava apressadamente p a r a que ninguém
visse o sangue subir-lhe às faces.
Enfim, ficaram-lhe também n a memória os terríveis trajectos de comboio p a r a o liceu, nos dias em que trazia fatos virados do avesso, com o estigma da algibeira no lado contrário,
coisa que imaginava atrair p a r a si as atenções comiseradas de
todos os outros passageiros, e o obrigava a fazer a viagem de
pé, virado p a r a a porta. Isto passava-se em épocas de semipenúria, quando o pai cortava nos gastos caseiros («vai tudo par a qualquer marafona», comentava a mãe p a r a quem a quisesse ouvir), e o dinheiro não chegava p a r a substituir o fato já
coçado. No liceu, J P esforçava-se por descobrir, ele que nunca
reparava em tais coisas, mais meia dúzia de bolsos transviados, e olhava-os com terna cumplicidade. Mas, nesses dias,
sempre se afastava dos amigos, temendo alguma piada, que
não suportaria e que, de resto, nunca nenhum lhe deu. Teria
preferido andar com os fatos n u m fio, como andavam muitos
outros, a quem faltava o dinheiro mesmo para os mandar v i rar. Aquele bolso fora do lugar, sentia-o como u m a estrela de
David.
Já bem entrado nos trinta, J P toca nisto ao de leve, n u m a
das suas notas. Assim: «Nos tempos em que i a ao futebol, observei u m a coisa curiosa. Quando a bancada estava superlotada e chegava u m retardatário, este tomava u m a de três atitudes. A primeira, a do 'conquistador': arrastando por vezes a
mulher e os catraios, avançava p a r a o lugar que dizia ser o
seu, cavalgava por cima dos pés dos já sentados e por fim exigia em altos berros o seu lugar, encaixava-se a ele e à família,
ainda soltava umas graçolas de m a u gosto e preparava-se par a assistir ao jogo sem minimamente se preocupar para onde
teriam ido os desalojados. A segunda, a do 'infeliz', que v i a tu-
47
do coalhado de gente, não ousava sequer avançar e acabava
por mal ver o jogo, de pé n u m a das entradas, espreitando por
entre os ombros de tipos mais altos, quase sempre perdendo
os golos. Enfim, a terceira, a do 'cívico teimoso': este não
prescindia do seu lugar sentado, mas estudava cuidadosamente com o olhar as várias filas, descobria u m ponto onde era
menor o aperto e só então avançava sem hesitação até lá chegar, pedia amavelmente p a r a 'darem u m jeito' e sentava-se
sem mais problemas. Adolescente e já adulto, anos seguidos
pertenci ao segundo grupo, felizmente que não era dos mais
baixos. Depois, ganhei confiança, e passei ao terceiro: determinado, mas com a preocupação de não pisar ninguém.» Pisar o
menos possível, estaria mais certo.
48
7 de Fevereiro — D i z - m e a M . pelo telefone que m o r r e u o N u n o
Bragança. O choque f o i muito p a r a além do que eu próprio p o d e r i a
antever: não sei catalogar a nossa relação, que de amizade não terá
sido, mas apenas de nos sabermos sempre do mesmo campo e isso
chegar p a r a nos abraçarmos, talvez do fundo de alguma c u m p l i c i d a de fundamental, de cada vez que, de longe em longe, nos encontrávamos. Não v o u esquecer a última vez que o v i , uns dois meses
atrás, quando passou os Verdes Anos n a Cooperativa d a Graça.
Nem a última vez que o l i , n u m artigo no J L , confissão patética de
alcoólico enfim dolorosamente recuperado — contrição quase r e l i giosa do seu último pecado. O N u n o terá sido u m caso extremo (e i n curável!) de desenraizamento social: aristocrata e católico, revoltado
desde sempre com a injustiça e a opressão, que a sua classe e a sua
religião ( h i e r a r q u i a , entenda-se) sustentavam, e de que v i v i a m . M u i tos f o r a m os católicos que, como ele, contra isso l u t a r a m — e contra
si próprios, de c a m i n h o . M a s quase todos os que conheço, pelo meio
de angústias e desordens interiores, a c a b a r a m p o r «se encontrar» —
e alguns p o r b e m se a c o m o d a r . Julgo que o N u n o n u n c a terá resolvido esse p r o b l e m a . Os seus livros são todos, u m pouco, u m a expiação.
Não terei sido seu amigo (e não serão a f i n a l , como diz a B e a u v o i r , «as lágrimas que decidem?») mas, se estivesse em L i s b o a , i r i a
ao enterro e, ou muito me engano, s a i r i a a meio de q u a l q u e r i n s u portável discurso de u m dos seus «velhos amigos». Sinto que desapareceu u m dos melhores da m i n h a geração.
49
15 de Fevereiro — A r t i m a n h a s da lógica política. Vejamos: p a r a
a E s q u e r d a ser forte, tem de enfraquecer o P C P , ou seja, E s q u e r d a
forte igual a P S forte, capaz de a l t e r n a r com a D i r e i t a no p o d e r ,
sem precisar de aliados. M a s , p a r a o P S ser forte, tem de haver u m a
D i r e i t a forte, que suscite p o r reacção a união de toda a E s q u e r d a
em torno do dito P S . E r a o que teria sucedido se Soares C a r n e i r o
tem ganho em 1980: u n i d a e forte a D i r e i t a , durante o seu período
de poder a E s q u e r d a i r i a consolidando o P S como força de oposição
e de alternativa.
Se assim tem sido, o P S estaria hoje no poder (ou em vias de lá
chegar) em condições muito mais favoráveis, isto é, sem o P S D p e n durado e sem o P C P a «apertá-lo» do outro l a d o . Logo, o P S seria
governo de E s q u e r d a , e não de C e n t r o , como é forçado a ser nas
condições actuais. E m conclusão, o verdadeiro interesse d a E s q u e r da (que ela não compreendeu) estava n a eleição de Soares C a r n e i r o
em 1980. P o r isso mesmo, deduzo, Vasco P u l i d o Valente (autor deste b r i l h a n t e raciocínio, em artigo saído há tempos n a «Grande R e portagem»), único homem lúcido d a E s q u e r d a , fez parte do Comité
p a r a a Eleição de Soares C a r n e i r o , só aparentemente p a r a fazer
t r i u n f a r a D i r e i t a : era tudo p a r a t o r n a r a E s q u e r d a forte! N o d i a seguinte à eleição v i t o r i o s a , em toda a lógica, o dito Vasco teria regressado de imediato ao P S a f i m de se integrar no grande movimento de
reacção que o f a r i a m e d r a r nos anos seguintes...
O r a e u , que aprecio teorias e generalizações, não posso deixar
de levar u m pouco mais longe aquele discurso: o que dele se t i r a é
que devemos l u t a r sempre do lado que se opõe ao nosso, a bem deste. P o r isso, também logicamente, o t a l Vasco deveria ter-se mantido
nas hostes d a D i r e i t a , pois quanto mais forte esta, mais forte se t o r n a r i a a E s q u e r d a . Só é curioso que, n u m a entrevista há uns meses,
o mesmo maquiavélico político tenha afirmado que esteve no governo de Sá C a r n e i r o porque esse governo não era de D i r e i t a : estaria
ele lá então p a r a fortalecer a D i r e i t a ? T u d o u m pouco confuso...
Talvez p o r isso h a j a quem o conheça p o r Vasco polivalente.
22 de Fevereiro — P o r vezes cruzamo-nos com rostos que nos
reconciliam com o m u n d o . N a m a i o r parte dos casos são rostos de
50
crianças, ou de adolescentes. Algumas vezes, de velhos. Quase n u n c a
de adultos, esses crispados, tensos, r u m i n a n d o frustações, pressas,
responsabilidades, preocupações — rostos sem desejo, sem alegria.
Incomunicáveis.
23 de Fevereiro
— Noto que a descrição que faz E d u a r d o L o u -
renço (no seu recente artigo pró-Pintasilgo) do comportamento dos
políticos partidários que fingem não d a r importância às próximas
eleições presidenciais, não pensando n o u t r a coisa, é u m a excelente
ilustração daquilo a que chamei «falsos avestruzes».
4 de Março — Apercebo-me subitamente de que a m i n h a v i d a
deixaria de ter sentido se estivesse certo de que não h a v e r i a u m « d e pois de mim», mais precisamente, de que não existiria futuro p a r a
além de m i m . Não p o r q u e pense que qualquer posteridade se venha
alguma vez a ocupar com a m i n h a pessoa, não chega a tanto a m i n h a
presunção. M a s p o r q u e gosto de me sentir inserido n u m a corrente
que só o é p o r ter a continuidade assegurada, p o r me saber u m grão
numa construção que prosseguirá sem limite de tempo. Não será u m
pouco isto que diferencia esquerda e direita? Não serão justamente
de direita aqueles que buscam a sua força, ou as suas razões, no
passado «já construído», no que «sempre f o i » , só aceitando as m u danças necessárias p a r a que, como n a célebre fórmula, «tudo fique
n a mesma»?
Ocorre-me u m a espécie de demonstração p o r a b s u r d o . S u p o nhamos que a dois homens já m a d u r o s terá sido revelado — como, e
p o r que não d u v i d a r a m , pouco i m p o r t a — que o m u n d o acabaria no
preciso momento em que eles próprios o deixassem. Esses homens,
u m de esquerda, outro de d i r e i t a , destinados sem o saber a m o r r e r
no mesmo instante, como se comportariam? Não se vê porque o h o mem de direita teria de alterar fosse o que fosse n a sua v i d a : gozá- l a - i a , o melhor possível, talvez mais t r a n q u i l o p o r pensar que, nos
talvez quinze ou vinte anos que restavam, é bem provável que, f i n a l mente, o mundo viesse a acabar «como sempre f o i » . E o de esquer-
51
da? É óbvio que f i c a r i a desarmado, sem sonho e sem prolongamento. Incapaz de destruir a esperança e a convicção dos que c o n t i n u a r i a m os combates de cada d i a , faltar-lhe-ia a determinação p a r a os
acompanhar. V i r a r - s e - i a talvez sobre si próprio, sofreria, isso s i m ,
com a ideia de que o m u n d o i r i a acabar «como sempre f o i » , e nisso
enganar-se-ia. M a s h a v e r i a q u e m dissesse que «nos abandonou»,
que «se passou p a r a o outro l a d o » . Sem a ideia de f u t u r o , sem u m
horizonte de desejos, e de utopias, renascendo outros homens, e
mais combativos, a c a d a passo que se dá, até muito p a r a além de nós
— não há E s q u e r d a possível.
11 de Março—Terrorismo.
Fala-se muito do terrorismo «a sér i o » . M a s quem j á deu pelo pequeno t e r r o r i s m o , o de trazer p o r c a sa, em que se exercem os fracos, os medíocres ou as almas p e r v e r sas? E m vésperas de exame, o colega que chegava ao pé de nós e nos
d i z i a : «Só te faltou estudar o capítulo x d a matéria? Estás t r a m a d o .
É nisso que este professor insiste sempre!» Alguém que, simpaticamente, nos avisa: «Feriste-te n u m pé e não desinfectaste logo? F o i
assim que o miúdo da m i n h a v i z i n h a foi desta p a r a melhor...» N a b i cha dos impostos: «Esqueceu-se da assinatura da sua mulher? N e m
pense que lhe aceitam o p a p e l . O tipo que está hoje, j á o conheço, é
de gancho!» C l a r o que n u n c a saía a pergunta x, que eu v o u escapar
do inevitável tétano, e que o tipo do guiché afinal até é simpático e
fecha os olhos. M a s há quem fique aterrado com estas coisas: eu
próprio, em certas vésperas de exame, cheguei a assustar-me, b e m
me l e m b r o . Aos poucos, f u i percebendo, e deixei p o r completo de l i gar aos pequenos terroristas. Quantas vezes, coitados, não têm o u t r a f o r m a de se a f i r m a r : q u e r e m mostrar-se bem informados, «eles é
que sabem», conseguem p ô r em alvoroço (logo: exercer u m poder sobre) u m a b i c h a inteira q u e , depois de horas a pé f i r m e , j u l g a ter t u do m a l p r e e n c h i d o .
Há muitos pequenos terroristas no j o r n a l i s m o e n a política. E
mesmo disso que vivem alguns.
52
30 de Março — A s modas, sempre as suportei m a l , sempre detestei a ideia de todos se sentirem obrigados (porquê?) a fazer a mesm a coisa, ao mesmo tempo. M u i t o cedo me interroguei, também, p o r
que teríamos todos de nos d i v e r t i r no C a r n a v a l , o que nos l e v a r i a a
fazê-lo sem necessariamente nos apetecer, e poderá haver d i v e r t i mento c o n t r a vontade?
V e m isto a propósito da m o d a da ópera entre u m a certa intelectualidade lisboeta. Custa-me a a c r e d i t a r que, de repente, toda aquel a gente, m u i t a p o r certo de ouvido d u r o , tenha mesmo descoberto
as delícias do d r a m a lírico — p a r a mais gravado, pois quantos desses novos prosélitos j á terão assistido à representação de u m a ópera
ao vivo? Suspeito que é mais u m a m o d a de importação, mas isso
apenas explica o súbito frenesi dos nossos intelectuais, e deixa em
aberto a questão m a i o r : porquê t a l moda nos países europeus, de
onde nos vêm estas «originalidades»? E s t r a n h o n u n c a ter visto nos
nossos j o r n a i s «culturais» t a l questão posta e d i s c u t i d a , mas, p e n sando b e m , o estranho é que estranhe, pois os que neles escrevem
não são muito dados a questionarem-se a si próprios...
Chega-me às mãos u m a conversa entre G e r a r d M o r t i e r , d i r e c t o r
da O p e r a de B r u x e l a s , e R u d i F u c h s , d i r e c t o r do M u s e u de A r t e M o derna de E i n d h o v e n . Vejamos as respostas que dão àquela i n t e r r o gação.
«A ópera é u m a f o r m a de arte muito ligada à época m o d e r n a ,
que se abre em começos do século X V I e, a meu v e r , está agora a
terminar. È b e m possível que, enquanto criação, ela se apague com
a época que lhe deu suporte» ( M o r t i e r ) . E F u c h s interroga: «A óper a parece-me o p r o d u t o de u m a época que v i u o triunfo da b u r g u e sia. 0 novo interesse que actualmente suscita, não traduzirá u m a
certa nostalgia p o r u m a época talvez em vias de desaparecimento?»
«Essa nostalgia é seguramente u m a das razões do actual sucesso da
ópera», responde M o r t i e r . Resumo do argumento: sendo a ópera u m
produto da c u l t u r a burguesa, f i l h a do Renascimento e das L u z e s ,
quando a civilização burguesa se a p r o x i m a do f i m , u m reflexo último, nostálgico, fá-la renascer n u m a espécie de canto do cisne, como
representação, mas j á não como criação. Não comento, p o r agora.
«Parece-me lógico que as salas de ópera se e n c h a m , no momento
em que se esvaziam as igrejas. O r i t u a l que se celebrava n a igreja
53
foi-se dessacralizando, foi perdendo a necessidade, o seu sentido
mesmo, aos olhos de q u e m j á n e m lhe descobre a essência. O r a nós
temos necessidade de r i t u a i s , reconhecidos como tais; a ópera poder i a ser o lugar de lhe [ao r i t u a l ] reencontrarmos u m a f o r m a , que a
utilização d a música permite. O sucesso d a ópera deve muito à a l i a n ça do teatro e da música, sendo esta, de todas as artes, [...] aquela
cujo efeito sobre o público é mais emocional, mais directo. N o m o mento em que o sucesso de certos media c o n t r i b u i p a r a desmitificar
e despoetizar a imagem, à ópera pode r e i n s t a u r a r u m a mitologia»
(Mortier). L e i o : a ópera como lugar do imaginário, do sonho, da
emoção, do rito e do m i t o , n u m mundo dessacralizado pela ciência,
pela técnica e pela banalização d a imagem.
«Há tantos artistas n a O p e r a : o compositor, o encenador, o l i bretista, o c a n t o r , o cenarista...» (Fuchs). Comenta M o r t i e r : «E p o r
isso que a ópera é u m a arte tão c o m p l i c a d a , tão l o u c a . . . E s t a l o u c u r a explica também o seu sucesso actual.» Argumento n a esteira do
anterior: a l o u c u r a é a última fuga, a última desordem dos sentimentos, das emoções; a ópera... o mais louco dos ritos.
São argumentos interessantes, ponderáveis, em que apenas ressalvo o anúncio, pelo menos apressado, do «fim da burguesia» ou da
«civilização burguesa». M a s julgo que não é necessária essa hipótese. Bastará f a l a r de «crise». E a u m a n o v a crise, mutacional esta,
admito, do sistema capitalista m u n d i a l e, em consequência, dos v a l o res culturais dominantes, que assistimos — aliás, n a q u a l estamos
envolvidos. N e l a estão presentes, de f o r m a naturalmente complexa e
contraditória, as três grandes componentes que m a r c a r a m o desenvolvimento do i n d i v i d u a l i s m o : o renascentista — «o homem foi c r i a do p a r a agir», disse-o A l b e r t i , é o momento da afirmação; o i l u m i nista — o homem foi criado p a r a pensar, c r i t i c a r , é o momento d a
razão; o romântico — o homem foi c r i a d o p r a sentir, p a r a se emocionar, p a r a se r e v o l t a r , é o momento da revolução, da paixão. Este
último, que m a r c a a crise de p a r t o , ou j á a p r i m e i r a crise de crescimento, do capitalismo i n d u s t r i a l , é também o tempo do p r i m e i r o i r racionalismo, como fenómeno moderno. Teremos, mais t a r d e , u m a
nova vaga de irracionalismo nos anos 20-30 do nosso século, anos
também de crise p r o f u n d a , com coisas tão díspares, ou mesmo i n conciliáveis, como os abstraccionismos ou conerctismos (que, muitas
54
vezes, também podem ser vistos, n a sua f r i e z a , no seu r i g o r , se não
n a sua calculada geometria, como expressões do mais extremo r a c i o nalismo...), o surrealismo, a f r a c t u r a dos discursos literário e m u s i c a l , a psicanálise (com a sua sobrevalorização do inconsciente, e c u j a constituição em quase-culto, com as suas fanáticas dissidências,
data dessa época) e, no plano político, as perversões totalitárias. E n f i m , e é o que me interessa, o irracionalismo de hoje, da crise de hoje: os misticismos, as seitas, as astrologias, os O V N I s , o culto de n o vos heróis, de aventuras no desconhecido (a astronáutica, a ficção
científica), os integrismos políticos e religiosos, mas também u m certo bucolismo ecológico, u m a revalorização do sentimental, do emotivo, do i n t u i t i v o . Este é o lado neo-romântico da fase que atravessamos. Dele diz D u b y , n u m a entrevista de 1981: «Cada época tem necessidade de u m a referência a n t e r i o r , de u m século de o i r o , onde vá
buscar os seus modelos e os argumentos d a sua própria vontade de
existir. Sinto-me u m pouco inquieto com a nossa, pois parece que a
referência fundamental d a m i n h a j u v e n t u d e , isto é, a época das L u zes, a época da Razão, está a ser v a r r i d a p o r u m a vaga de neo-romantismo. A s referências hoje são a épocas menos 'razoáveis', menos racionais, digamos mais emotivas. T e n h o algum receio desta ressurgência de u m século X I X onde se encontra de tudo, desde o r o mantismo exuberante até às raízes da i r r a c i o n a l i d a d e que desembocou em movimentos que a i n d a nos fazem arrepiar.» M a s se há esse
lado, que se defronta com a Razão (perigosamente deixada à ciência
e à técnica, quando a razão iluminista nascera de filósofos e f e c u n damente se alargou depois à ciência política, áreas que parece hoje
viverem de u m certo mastigar de ideias requentadas), há u m retorno
também a temas neo-renascentistas, com os homens comuns a reverem-se no H o m e m u n i v e r s a l , «capaz de todas as proezas», e a gostar e m de ver-se retratados n a p i n t u r a (retorno ao figurativismo), no
teatro (retorno à personagem), n a l i t e r a t u r a (retorno à n a r r a t i v a ) , a
«personalizarem» a música (a m e l o d i a , o canto, a ópera: aí a temos).
E , aliás, curioso que os grandes centros do poder económico, que o
fundam cada vez mais n u m a ciência altamente especializada, ainda
que potenciada pela i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e , sintam a necessidade, p a r a a gestão e funcionamento do sistema, de «generalistas»: n u m i n quérito recente a departamentos de informática nos Estados U n i d o s ,
55
alguém disse «precisamos de homens do Renascimento, que possam
pensar e agir com espírito aberto» e, de u m modo geral, «os gestores
acentuaram que os generalistas, mais do que os especialistas, dão
melhores contributos aos serviços de processamento de dados.» A
expressão «um novo humanismo» aparece frequentemente, mesmo
em publicações técnicas e... de negócios. De passagem, os neoliberalismos económicos, mais ou menos selvagens, que se opõem, esses, ao
social, ao colectivo, a socialismos reais ou imaginados, a c a b a m p o r
se inserir nesta vaga c u l t u r a l de revalorização do indivíduo, mas
bem pouco, ou n a d a , têm a ver com e l a .
Como d i z i a D u b y , mas alargando-lhe o âmbito, em todas estas
tendências, n u m a confusão que levará tempo a decantar, «se encont r a de tudo»: quer n a vertente romântica, quer n a «humanista», o
fascinante e o temível surgem lado a l a d o , quando não subtilmente
imbricados. E a ópera? P a r e c i a esquecida, mas, no f i m de contas, é
disto tudo u m a excelente ilustração. B a s t a reler os argumentos i n i ciais p a r a ver que também na sua n o v a p o p u l a r i d a d e se encontra de
tudo (menos a Razão, naturalmente). Cerimónia iniciática, mágica,
que pode levar à emoção até às lágrimas, como sucedia aos românticos, p o r vezes só de olhar a pena de u m pombo, ou u m a paisagem,
ou u m gesto d a a m a d a , mas também lugar onde o espectador-Homem se retempera do sonambulismo quotidiano, julgando reconhecer-se n a força, e no paganismo exaltante, daquelas máscaras-cantantes. Não será a moda operática, nos dias de hoje, u m s i n a l , entre
outros, d a confusão, d a ansiedade, de u m a indefinível esperança,
das minorias «cultas», n u m m u n d o em transição não se sabe p a r a
quê? M a s que temem elas?
As evoluções abruptas do gosto não se dão p o r acaso. E r a tempo
de os neofanáticos d a ópera, eles próprios, se interrogarem. P o r q u e
me recuso a acreditar que tenha sido apenas a Razão a guiar-lhes os
gestos com que enfiaram a f a r p e l a d a última m o d a .
27 de Abril — Quase u m mês de ausência nestas páginas, absorvido p o r trabalhos profissionais que não me d e i x a r a m tempo p a r a
reflexões ou escritas. Sei bem que tais trabalhos, que agora me ocup a r a m a cabeça, cairão rapidamente no esquecimento, deixarão por
56
completo de fazer p a r t e da m i n h a v i d a , mas deles ficará o lastro de
informação, preciosa p o r vezes, que colhi ao executá-los — e essa, a
seu tempo, virá ao de c i m a , integrada noutras coisas. Q u a n d o r e c o r do o passado, quase não encontro vestígios d a m i n h a actividade p r o fissional, enquanto pontos de refência assinaláveis. Importantes,
apenas as viagens (no seu conjunto, b e m poucas individualmente), e
mesmo essas sem ligação com o motivo profissional que as originou:
que peso tem n a m i n h a v i d a o que fui fazer, se é que me l e m b r o , a
Maceió, à Baía, a P o r t o A l e g r e , ou ao R i o , quando estive em casa do
Sérgio B e r n a r d e s ? E o que fui fazer a B r u x e l a s , daquela vez em que
isso me p r o p o r c i o n o u encontrar-me em P a r i s com a M . ? E a M a c a u ,
e tantas vezes a L u a n d a , e a Atenas, e a B o l o n h a ? C l a r o que me l e m b r o , nalguns casos p u x a n d o u m pouco pela memória, mas o que_/lcou foi a informação, foi a experiência, f o r a m sobretudo pessoas,
coisas, situações — tudo a sedimentar, lentamente, m e l h o r , a m i s t u rar-se no cadinho de ideias e sensações que é a m i n h a m a n e i r a p r ó p r i a de ver e viver o m u n d o . Que espécie de trabalho a n d a r i a eu a
fazer em 1967 ou 68? D o que me lembro bem é d a Seara Nova, da
i d a (não profissional, essa) à Checoslováquia, da J e n n y , das notícias
que chegavam do M a i o parisiense, das discussões no Vává, dos a m i gos que aí fiz (os meus amigos de hoje, muitos deles...), do encontro
com o F e r n a n d o em A l b u f e i r a (os tanques a entrar em P r a g a ) , dos
fins-de-semana nas esplanadas de Algés, d a excitação com a queda
da cadeira do S a l a z a r , e t c , etc. Que apertos profissionais terei tido
nesses dois anos como o deste A b r i l ? Não faço a menor i d e i a , esse
passado não me pertence. T r o q u e i - o p o r u m salário.
A diferença entre t r a b a l h o e v i d a está em que, no p r i m e i r o , não
sou insubstituível: q u a l q u e r u m pode fazer o mesmo que eu. N a
v i d a , ninguém pode.
28 de Abril — E s c r e v i há tempos n u m a destas notas que «a 3."
Revolução I n d u s t r i a l se passa (como a anterior, aliás) dentro do c a pitalismo». A o l e r ontem mais u m pedaço do Burguês, de S o m b a r t ,
ocorreu-me a ideia de «acumulação p r i m i t i v a de tecnologia», p o r
analogia com a «acumulação p r i m i t i v a do capital» — que é do que
fala o S o m b a r t , sem assim a nomear. De facto, levou três ou quatro
57
séculos a processar-se esta última, sem a q u a l o capitalismo i n d u s t r i a l não teria sido possível. O a r r a n q u e deste é marcado pela convergência histórica do alargamento dos mercados (permitido pela e l i minação dos múltiplos direitos, de origem f e u d a l , que d i f i c u l t a v a m e
oneravam a circulação de pessoas e mercadorias: à erosão desses d i reitos, que já v i n h a de há m u i t o , veio juntar-se o golpe f i n a l das r e voluções políticas burguesas), do desenvolvimento das técnicas de
produção (e sobretudo das decisivas invenções de finais do século
X V I I I ) e, enfim, da disponibilidade de capitais acumulados, em p a r ticular nas actividades comerciais, de transportes marítimos e no
sector financeiro.
O capitalismo, pela sua própria natureza competitiva, é voraz
de p r o d u t i v i d a d e , de tecnologia. Mercados cada vez mais vastos, escalas de produção cada vez maiores, tecnologias cada vez mais sofisticadas, p e r m i t i r a m (e e x i g i r a m , ao mesmo tempo) u m a imensa a c u mulação de c a p i t a l — não sem que, periodicamente, tudo isso se desajustasse temporariamente, e produzisse as conhecidas crises, de
maior ou menor dimensão.
M a s a acumulação tecnológica, a que chamo p r i m i t i v a (que, note-se, v i n h a dos alvores dos tempos: é de aceleração que agora se
trata), i a prosseguindo, sem gerar contudo «mutações» no sistema. A
minha hipótese é a de que estamos a atingir u m limiar de acumulação que tem efeitos qualitativos substanciais,
em termos de r e o r d e namento do sistema, a i n d a que não nos seus parâmetros c a r a c t e r i z a dores enquanto «capitalismo». Até porque as «novas tecnologias»,
ao i m p o r e m u m a r a d i c a l desvalorização do capital produtivo a c u m u lado n a fase a n t e r i o r , de algum modo transformam a própria n a t u reza do c a p i t a l socialmente entendido: os detentores do c a p i t a l , no
sentido t r a d i c i o n a l , são obrigados a p a r t i l h a r o poder com u m a « n o va classe», de técnicos, cientistas e gestores, detentores, estes, de
uma nova f o r m a de c a p i t a l que é o «saber estratégico». N u n c a como
nos nossos dias terá havido tantos cientistas, investigadores e técnicos altamente qualificados a tornarem-se, eles próprios, empresários. G o u l d n e r , no l i v r o O Futuro dos Intelectuais
e a Ascensão da
Nova Classe, fala de ideologia do «profissionalismo» e de c u l t u r a
técnica «como capital».
58
5 de Maio — E n c o n t r e i há dias, ao sair do dentista, o J . , velho
companheiro das lutas estudantis, e também dos torneios de futebol
de salão. Já então militante do P C P , clandestino tempos depois, e n fim preso, acabou p o r ser l i b e r t a d o julgo que p o r alturas do m a r c e lismo. P e r d i - l h e o rasto, mas não custa imaginar que tenha saído do
país, e regressado só depois do 25 de A b r i l . Colocado f o r a de L i s boa, poucas referências apareceram ao seu nome n a imprensa em todos estes anos, embora se saiba ser u m importante quadro dirigente
do p a r t i d o .
Demos u m grande abraço. Gostei de o (re)encontrar, ao f i m de
tanto tempo. M a s dei-me conta, no mesmo instante, de que a u m tipo
destes não se pergunta, como seria n o r m a l noutro caso, «então que
tens feito?» E n c o n t r a r u m dirigente do P C , de quem em tempos
se foi amigo, é exactamente igual a encontrar u m ex-colega que se
tornou p a d r e . Tem-se de tal modo a noção de que a sua v i d a é tão
«fora do comum», tão determinada por u m a fé e p o r u m código de
comportamentos que nos são alheios, que inevitavelmente se c r i a u m
estranho mal-estar n a conversa que se esboça. Eles não v i v e m no século: irão eles ao cinema, como nós? Terão eles, como nós, f r a q u e zas, d u v i d a s , vícios? Não estarão eles a reconhecer em nós, a cada
palavra que dizemos, os «pobres pecadores» que somos? Falar-lhes
de futebol, ou de u m a relação amorosa, ou de u m livro recente, ou
de outra coisa q u a l q u e r , não será apenas expor-nos inutilmente, isto
e, sem esperança de que eles próprios se exponham também? Poderá
curioso que j á senti algo semeentão ainda falar-se de amizade?É
lhante, há uns anos, em conversas com outro amigo, devoto, esse, do
divã psicanalítico, a que s a c r i f i c o u , sem sucesso aparente, anos de
vida e uma pequena f o r t u n a .
59
10 de Maio
«A cidade é como eu. Quanto mais lhe percorro as ruas,
quanto mais procuro conviver com ela, descortinar-lhe a alma,
mais distante me parece. Quero sempre subir. Olhar de cima.
Surpreender-lhe o sentido, n u m relance sobre o casario que se
derrama pelas encostas das colinas. Mas acabo de ter, irremediavelmente, de descer às paragens mais rasteiras que já conheço. Numa r u a qualquer, por onde passo n a descida, u m a
criança sorridente fecha u m a porta atrás de si, e sinto que algo de definitivo se interpôs entre mim e ela. Que nunca mais a
reconhecerei, que nunca mais passarei por aquela r u a , como
não reconheço em m i m a criança que já fui nem os percursos
que já fiz. Cruza-se comigo u m tipo andrajoso, que olha p a r a a
minha figura embrulhada n u m sobretudo, como quem mede o
frio que nos separa. Dirigir-lhe a palavra? Oferecer-lhe melodramaticamente o sobretudo? Ridículo quixotismo de irmãzin h a dos Pobres, de que, fosse como fosse, não era capaz. O sol
ainda doira os cimos dos prédios, mas também ele se escapa, e
breve irá morrer do outro lado da cidade, que mal se desenha
já na neblina de fim de tarde. Encontro-me, de súbito, noutra
rua, estreita mas cheia de movimento, em que a cada instante
me tenho que esgueirar por entre gente que passa. Sinto-me
bem aqui. Sou apenas mais um. Ninguém me conhece, diria
mesmo que ninguém se conhece. Até que me batem no ombro.
Um soldado do meu quartel espanta-se de me ver por ali. Dei-
60
xa-me embaraçado: com efeito, que faço eu, naquela r u a , naquele bairro à margem das 'luzes da cidade'? Nem a m i m próprio seria capaz de explicar. Invento qualquer coisa e prossigo. A noite que v a i caindo empurra-me p a r a baixo. Desço ruas
e ruas. E por fim aí estou, de onde parti. Como se não tivesse
dado u m passo.»
Este papel sem data foi escrito (está anotado num canto)
num pequeno café da Avenida de Roma onde, por sinal, muitas vezes marcámos encontro, ele sempre pontual já sentado à
minha espera, coisa hoje impossível, aliás desde que o dono se
deu conta de que u m cliente em pé ou empoleirado a u m balcão corrido ocupa menos espaço e está menos tempo, o que
parece que é bom p a r a todos, mesmo p a r a os que não acham,
e nos obrigou a ir mudando de sítio, à cadência com que os
respectivos donos iam fazendo a mesma descoberta, até nos
decidirmos por conversas de almoço, que p a r a serem conversas pediam restaurantes sossegados, acima da bolsa do funcionário público, e por isso se tornaram mais raras e menos
fluentes, pois tais cenários não foram feitos p a r a despertar
confidências, mas p a r a «viabilizar» negócios ou romances em
princípio de vida, desses que se assemelham a contratos a
prazo, se o não são todos u m pouco.
Se bem me recordo, o pai de J P , adivinhando cedo a sarilhada que iam dar os chamados «acontecimentos» de Angola
em 1961, convenceu o rapaz a interromper os estudos e a fazer o serviço militar antes que fosse tarde, e moveu as influências que pôde p a r a o colocar n a Administração Militar, o
que nem foi difícil pois era esse o destino dos economistas,
mais complicado terá sido fazê-lo baixar ao Hospital Militar ao
fim de pouco mais de u m ano. A antecipação da tropa poupou
ao rapaz ver-se metido, sabe Deus, em assembleias, greves da
fome, lutos académicos, ou correrias pela Baixa no l . de
Maio, decorria o memorável ano de 1962, mas nem por isso
lhe evitou ser olhado, anos mais tarde, como u m produto detectável a olho n u da perigosa «geração de 62», que afinal tanta gente importante veio a dar, já espigadota a democracia,
como todos sabem.
2
61
É, pois, desse ano de tropa o texto de J F , o soldado lá está
a balizá-lo, e aí temos o então estudante solitário, ocupando os
fins-de-semana a calcorrear a cidade, encostando-se talvez horas fio ao parapeito do miradouro da Senhora do Monte, percorrendo sem parar, com ar de quem sabe p a r a onde vai,
como é próprio dos inseguros, as ruelas de S. Tomé, ou do
Castelo, ou da Mouraria, noutros dias as da Bica ou da Madragoa, ousando u m a vez por outra entrar numa leitaria p a r a folgar as pernas e confortar o estômago com u m bolo-de-arroz de
bairro, desses massarocos mas saborosos que já pouco se
vêem, p a r a logo seguir caminho, umas vezes até ao Martinho,
uma das paixões de J F , que acabou feito Banco em 68, sucesso que as crónicas desse ano também famoso nunca registam,
outras até qualquer refúgio mais próximo de casa, que nessa
altura já fora vendida a moradia da Linha e a família se
transferira p a r a u m andar alugado nas Avenidas Novas, o que
permitira ao major, com o dinheiro da transacção, u m ano de
pândega desenfreada.
Há naquelas palavras que deixei quase intactas, não fosse
alterar-lhes o sabor juvenil com que exprimem perplexidades
por que tantos passaram (e passam?) naquela idade, u m misto de última confissão, no sentido religioso, de culpas e impotências de que se começa a intuir não serem só nossas, e de
dolorosa iniciação à presença dos outros, naquilo em que nos
tolhe ou nos desafia, nos exige de esforço e nos impõe de necessidades várias, entre elas a de nos definirmos perante eles
e a de tentar, ao menos, estabelecer contacto, comunicar como
hoje se diz, n a desesperança fundamental de alguma vez verdadeiramente os conhecermos. J F estaria neste momento a encerrar o capítulo das angústias religiosas, que nele nunca passaram de u m difuso temor de viver «sem rede», embora se não
recorde de alguma vez ter confiado demasiado nela, não passando as obrigações da catequese e das confissões e comunhões anuais de mais umas, das menos gratificantes, que a
mãe lhe impunha, e a encetar o das preocupações sociais, que
descobria por si e mal sabia então até que ponto iriam marcar
62
a sua vida. Por esta altura, J P ia tornar-se u m sôfrego leitor,
e atento.
«Sei que não é ainda o tempo de escrever. Mas o impulso é
muito forte, deixo correr o pensamento sem regra e ele me comandará a mão. Nem sequer apreendo o sentido desta história
que me ditou: 'Antes de atravessar a r u a , olhei para os dois
lados. Não h a v i a perigo. Atravessei. Acordei n u m a cama, após
o acidente. Nunca cheguei a saber como foi. Julgo mesmo que
ninguém viu, ninguém soube. Desde então, não tornei a olhar
antes de atravessar as ruas. Sigo a direito.' Talvez u m dia venha a compreender.»
Deveria ter perguntado ao meu amigo o que pensa ele hoje
destas palavras, escritas em 1963? A sua resposta seria simplesmente a que entendesse mais ajustada não àquilo que era
nesse tempo, mas à «gestão» que fez dos vinte e tantos anos
que se seguiram. Não haveria nisso qualquer impostura: se foi
assim que as coisas se passaram, é isso mesmo que se trata
de explicar, não o que poderia ter sido.
Sucede que é o jovem de então que me cabe tentar decifrar, e por isso me atrevo a imaginar nessa espécie de sonho
o dedo de alguma leitura recente, de qualquer livro ou artigo
desses que por aí pingavam de vez em quando, à chucha calada, vindos não se sabe de onde, edições parisienses, ou mexicanas, ou argentinas, destinadas a alinhar sem ficha em secções reservadas de bibliotecas de Associações de Estudantes,
passadas a amigos seguros pelos que estavam no segredo dos
deuses, forradas de papel opaco, e lidas pelos mais curiosos
com dicionário ao lado, como se estivessem a fazer u m trabalho de casa. Aquele «sigo a direito» cheira-me a um Sartre porventura m a l digerido: só eu tenho de decidir o meu caminho,
ninguém me pode dar conselhos, nem fornecer critérios, só os
meus próprios actos me justificarão, me constituirão homem
perante os outros, me farão «existir», porquê então olhar para
o que os outros fazem, ou dizem, ou escolhem, antes de me
pôr a caminho?
Mas posso estar errado. J P já levava anos de sobra para,
inteligente e observador como sempre foi, se ter dado conta,
63
em casa, n a Escola, n a tropa, da teia de hipocrisias de que é
feita a vida social, e ter apenas querido dizer que não há que
ter contemplações com ninguém, a regra é «seguir a direito»
pensando apenas nos próprios interesses, correndo embora o
risco, se o ânimo faltar, ou a sorte, de ser esmagado a meio
do percurso, como acontece com os fracos — e o merecem, não
é o que se diz? A q u i começa talvez o «mistério» de J P , que não
reconheço inteiro em nenhuma dessas exigências, ou reconheço u m pouco nas duas, serão contraditórias?, já nem sei.
Estarei a ser u m pouco cínico, mas, se n a última interpretação substituirmos «ninguém» por os «exploradores» e se os
próprios interesses forem «revolucionários», não será ela consistente com a empenhada militância de u m jovem revoltado,
que viria a ser a sua tempos depois? E não seria essa, afinal,
a escolha que livremente fez p a r a se «constituir homem perante os outros»?
64
16 de Maio
Só o ser amado r e a l i z a em m i m a totalidade do meu desejo do
mundo: não só desejo p o r ele próprio, ser amado, mas o do meu corpo por m i l corpos, o do meu ser p o r m i l seres, com que cada d i a f u gazmente me c r u z o . Só a densidade d a relação amorosa, só as misteriosas afinidades electivas, permitem c u m p r i r em recíproco êxtase o
que n u n c a passou de v i r t u a l i d a d e , de fantasma — ou de efémera
mutilação.
19 de Junho —
anual empreendida
citadino do lisboeta
impressões, apenas
que desconheço.
Viagem pelo N o r t e , mais u m a d a peregrinação
há uns anos, escasso contraponto p a r a o viver
que sempre arreigadamente f u i . A n o t o algumas
isso, sobre terras, casas e gentes de u m mundo
P e r t o de Guimarães, u m a m u l h e r só, há anos viúva de u m e r u dito l o c a l , vendeu parte das terras e conseguiu dinheiro p a r a r e s t a u r a r o velho e degradado solar f a m i l i a r , povoado de preciosidades e
memórias (livros, retratos, móveis, objectos). E l a própria estudou
documentos antigos, projectou as mais adequadas soluções decorativas, contratou e d i r i g i u os «artistas», a expressão é sua, e concluiu a
obra em dois anos. M u l h e r que r e s p i r a energia, e inteligência. E m
P o n t e i r a , Gerês p o r u m l a d o , B a r r o s o pelo outro, o u t r a m u l h e r só,
camponesa essa, que p a r t i l h a u m a única divisão, austero espaço g r a nítico rectangular, com dois filhos pequenos, desses que p a l m i l h a m
65
quilómetros p a r a i r à escola. Talvez a alegria com que oferece u m
inesquecível p r e s u n t o , paga possível — excessiva — de u m a ocasional boleia, lhe venha de u m a v i d a comunitária, d a regrada e n t r e a j u d a , que não deixa lugar às urbanas angústias da solidão. O u estarei
eu a ser lírico, a c a i r em reaccionarices tipo «alegria da p o b r e z a » ,
de que fala o fado? E n f i m , em Pitões, no Gerês, a dois passos da
fronteira, «qualquer coisa de intermédio». 0 velho camponês que
r e c o r d a , olho a b r i l h a r , os sete anos que passou em L i s b o a , pelos
anos 30, princípios dos 4 0 , o t r a b a l h o de salsicheiro n u m talho, os
bailaricos do A l t o do P i n a , os companheiros que i a m p a r t i n d o p a r a
o B r a s i l , o regresso à t e r r a p a r a c a s a r , a «entrega» da m u l h e r à t u tela do padre p a r a regressar à capital (e a troça que dele f a z i a m ,
por isso, os colegas de t r a b a l h o ) , enfim o retorno à s e r r a n i a , p a r a
cuidar dos pais, que os irmãos também entretanto se h a v i a m r a s p a do p a r a o B r a s i l . Depois, a construção da família e do pecúlio, hoje
razoável, durante quarenta anos. M a s o centro da v i d a f a m i l i a r c o n tinua a ser o casarão granítico, com grande divisão única no l . a n d a r , e u m a n d a r térreo onde se acotovelam bovinos, cabras e p o r cos. N a q u e l a divisão, em aparente desordem, camas, mesas, arcas, a
l a r e i r a , o tear e m i l objectos do d i a - a - d i a . A s múltiplas tarefas q u o tidianas, divide-as a família hoje n u m e r o s a . Netos chegavam ao f i m
da tarde com os bois, a f i l h a tosquiava ovelhas, e cozinhava petiscos
no restaurante (que há anos terá sucedido a alguma antiga tasca,
p o r v e n t u r a a fonte maior d a prosperidade f a m i l i a r ? ) , a mãe cuidava
dos quartos de aluguer (edifício « m o d e r n o » , a l i plantado sem gosto,
outro investimento recente) e desenterrava de fundas arcas belas
mantas de lã que v a i tecendo quando pode.
a
Não v i nesta gente tristeza, algo a que se possa c h a m a r resignação. A c o m o d a d o s , conformistas, conhecedores dos limites em que se
movem, p o r certo. M a s gente l u t a d o r a , enérgica, que não asseguro
se possa catalogar sem mais n a galeria supostamente típica dos tais
«brandos costumes». E , simplesmente, outra coisa, que suspeito
a b u n d a r p o r esse país f o r a . U m a espécie de energia afectiva, o oposto daquela com q u e , nas grandes cidades, se conquistam lugares e se
fazem c a r r e i r a s . U m a energia, mais u m a , que irá ser desperdiçada
(como sempre foi), em nome, hoje, de u m a «modernização» de modelo i n t e r n a c i o n a l . . .
66
24 de Junho — U m nome mais a reter p a r a u m a antologia do
h u m o r involuntário em P o r t u g a l : u m t a l brigadeiro K o l de C a r v a l h o , a u t o r , segundo o DN de hoje, de u m artigo n a revista
Baluarte,
do E M G F A , sobre a «área r e a l d a Pátria» (a expressão é m i n h a , c l a ro). De acordo com a citação, o homem «afirma que a c a r a c t e r i z a ção de P o r t u g a l como u m rectângulo tem de ser r e p u d i a d a e c o m b a tida pelo que e n c e r r a de ignorância, de intenção subversiva, de complexo de inferioridade». C o m efeito, segundo ele, p a r a além dos mais
de cerca de 2000 k m d a M a d e i r a e Açores, há que contar com a zon a económica exclusiva, «18 vezes a área territorial», e com o espaço aéreo, «19 vezes a mesma área territorial». M a s há mais: «A zona
em que P o r t u g a l desempenha, em resultado de compromissos i n t e r nacionais, o controlo do espaço aéreo e a vigilância de áreas m a rítimas, corresponde a 75 vezes a superfície territorial». O r a isto
faz-me l e m b r a r u m professor de matemática que tive, que, perante a
nossa dificuldade em imaginar fisicamente u m espaço a n dimensões,
nos d i z i a : «Se vocês pensarem b e m , u m ser absolutamente chato, i s to é, apenas com duas dimensões, também não p o d e r i a fisicamente
conceber a noção de v o l u m e , isto é, de u m espaço a três d i m e n sões...» E s t a ideia simples leva-me a suspeitar de manifestas i n t e n ções subversivas p o r parte do dito brigadeiro: ele só fala em áreas,
em metros q u a d r a d o s , só r a c i o c i n a «em superfície», comportando-se
como o t a l ser absolutamente chato, o que suponho não será (pelo
menos neste sentido...). Se o não é, o que o impedirá de calcular «o
volume da Pátria», o que n e m é difícil: não será infinito? Que o u s a das conclusões não p o d e r i a t i r a r daí, no que toca, e é esse o seu objectivo, à necessidade acrescida de «meios logísticos e operacionais,
e meios de defesa» p a r a as Forças A r m a d a s ! Naves espaciais, estações orbitais, raios laser, satélites, eu sei lá. Sempre achei que,
quando nos pomos a s o n h a r , não há razão p a r a se ser modesto. «Se
me saíssem umas centenas de contos no T o t o b o l a . . . » : porque não
«uns milhares», se o custo é o mesmo? «Se eu fosse o Presidente da
República...»: p o r q u e não «o Presidente dos Estados Unidos»? P o r que deixar os sonhos, as fantasias, a meio? Senhor brigadeiro, não
seja modesto, sobretudo não revele tão ingenuamente o seu espírito
timorato: a grandeza da Pátria em metros cúbicos, j á !
2
67
27 de Junho — De tempos a tempos voltam-nos às mãos, casualmente, objectos ou textos que d e i x a r a m rasto em nós e de que, p o r
v i a de arrumações, desarrumações, mudanças, falhas de memória,
andámos anos fisicamente desencontrados. L e m b r a m o - n o s deles, de
vez em q u a n d o , mais d a sua existência e do efeito que então p r o d u z i r a m do q u e , com algum r i g o r , do seu conteúdo. Gostaríamos de r e vê-los, relê-los, mas o esforço de os p r o c u r a r (ainda andarão p o r aí,
de resto?) não se afigura compensador.
Nos últimos dias v i e r a m ter comigo dois desses sinais e, c u r i o s a mente, ambos t r a t a n d o , a quinze anos de distância u m do o u t r o , d a
magna questão da certeza e d a dúvida. O p r i m e i r o , n a introdução a
u m a edição de 1956 dos Ensaios de Montaigne, reza assim: «Ao t o r nar-se militante, a dúvida tornou-se também mais s u b t i l . Montaigne,
e Descartes mais t a r d e , t e r i a m ao menos p o r indiscutível (não-sujeito-a-dúvida) u m princípio: q u a l q u e r coisa é v e r d a d e i r a ou não o é.
O r a parece que temos hoje de r e n u n c i a r a esse princípio: desde a i n venção das lógicas com diversos valores, é possível escrever p r o p o s i ções simultaneamente verdadeiras e falsas. Vejamos u m exemplo.
Este l i v r o , que folheio neste momento, contém u m a certa q u a n t i d a d e
de números (número d a edição, números das páginas, números vários referidos no texto, e t c ) . De entre esses números, haverá de certeza u m que é m a i o r do que todos os outros. Chamemos-lhe N . N é,
pojs, o maior dos números citados neste l i v r o . M a s consideremos o
número N + l : ele é, ao mesmo tempo, citado e não citado neste mesmo l i v r o ! N + l não é c i t a d o , já que é superior em u m a u n i d a d e ao
maior número citado no l i v r o . M a s N + l é citado, pois que a página
em que acabamos de f a l a r pertence a este livro.» O segundo, de
1972, é u m interessantíssimo artigo intitulado «Será a economia u m a
ciência exacta?», do famoso O s k a r Morgenstern, u m dos pais d a teor i a dos jogos, e ocupa-se do p r o b l e m a da incerteza, p a l a v r a que os
economistas preferem à prosaica dúvida. F o i a sua parte final aquela que tantas vezes desejei r e e n c o n t r a r , onde Morgenstern dá o
exemplo de dois sistemas de equações a duas incógnitas, em que u m a
das equações é c o m u m aos dois sistemas e a outra difere apenas, m i nimamente, n u m dos coeficientes (1,00001 n u m caso, 0,99999 no o u tro), ou seja, dois sistemas que se podem considerar, n a prática,
como iguais. N a r e a l i d a d e , ao determinar as soluções, verifica-se
68
que assim não é. «Os coeficientes diferem de duas centésimas milésimas, mas as soluções diferem de 200 000. Será necessário acrescentar mais algum comentário?» A s s i m t e r m i n a o artigo, aviso sério aos
descuidados malabaristas d a economia matemática.
Quando a própria matemática prega partidas destas, de que podemos estar certos em áreas bem menos rigorosas, p o r exemplo
quando se t r a t a de comportamentos humanos, de psicologias, sociologias e coisas afins? P o d e falar-se de coisas «plausíveis», de tendências «verosímeis», de hipóteses «razoáveis», mas de certezas, ou demonstrações, como? Será melhor falar-se de convicções, quando não
de crenças, ou de fés.
T u d o isto veio em boa a l t u r a . Não f o i , aliás, p o r acaso que f u i
buscar, ao f i m de muitos anos, o Montaigne, e isso me trouxe de v o l ta u m dos textos p e r d i d o s . Se o fiz foi p o r q u e l i há pouco o K u n d e r a , que tanto me l e m b r a , em certas passagens, o A b e l a i r a . A m b o s
têm muito a v e r com estas questões: com a dúvida, a «postura i n t e r rogativa», mesmo com a teoria dos jogos, que, sem o saber, a b u n dantemente utilizamos nas relações quotidianas, até (ou sobretudo?)
no a m o r . U m exemplo do K u n d e r a , quando Tomás se interroga sobre «o que fazer com Teresa», que finalmente m a l conhece: «Develhe p r o p o r que venha instalar-se em P r a g a ? E u m a responsabilidade
que o a p a v o r a . Se a c o n v i d a agora a v i r passar uns dias a sua casa,
ela virá imediatamente oferecer-lhe a v i d a i n t e i r a . O u deve r e n u n ciar? Nesse caso, Teresa continuará a ser c r i a d a n u m cervejaria d a quele b u r a c o de província e n u n c a mais a verá. Q u e r que ela venha
consigo ou não?» E logo adiante: «Nunca se pode saber o que se deve querer porque só se tem u m a v i d a , que não pode ser c o m p a r a d a
com vidas anteriores, nem rectificada em vidas posteriores. É melhor ficar com Teresa ou f i c a r sozinho? Não há f o r m a nenhuma de
se verificar q u a l das decisões é melhor porque não há comparação
possível. T u d o se vive imediatamente pela p r i m e i r a vez, sem p r e p a ração.» São fórmulas extremas, que de algum modo negam aquilo a
que se pode c h a m a r a «experiência da vida» como critério de escol h a , e que afinal têm algo de s a r t r i a n o . P o r q u e o que está em jogo
não são apenas sentimentos (é isto amor? ou não?) ou até questões
morais (isto, ou a q u i l o , pode ser melhor p a r a m i m , mas p a r a ela?
devo fazê-lo? com que «direito»? não estarei apenas a «encenar» a
69
minha própria personagem?), a isso se encarregará de responder,
pelo menos em p a r t e , aquilo que eu próprio d e c i d i r . O que está sobretudo em jogo é u m a dúvida f u n d a m e n t a l , a que levarei u m a v i d a
a responder, a t a l «única vida», sobre a f o r m a de, n a escuridão, me
relacionar «com o Outro».
O u t r a passagem, tão a b e l a i r i a n a : «Que escolher, então, o peso
ou a leveza? F o i a questão com que se debateu Parménides, no século V I antes de C r i s t o . P a r a ele, o universo estava dividido em pares
de contrários: l u z - s o m b r a ; espesso-fino; quente-frio; ser-não ser.
Considerava que u m dos pólos d a contradição e r a positivo (o c l a r o ,
o quente, o f i n o , o ser), e o o u t r o , negativo. E s t a divisão em pólos
positivos e negativos pode parecer de u m a facilidade p u e r i l . Excepto
n u m caso: o que é positivo: o peso ou a leveza? Parménides respondia que o leve é positivo e o pesado negativo. T i n h a razão ou não? O
problema é esse.»
F o i b o m ter relido há pouco A Cidade das Flores: o a m o r , a
amizade, a militância política, as ideologias — já então, p a r a o A b e l a i r a , nada disso p o d i a ser tratado em termos de preto ou b r a n c o . . .
Já agora: esta semelhança entre K u n d e r a e A b e l a i r a , existe mesmo ou f u i apenas e u , ser muito singular (como todos), que a «senti»?
A m i n h a tentação é pensar: se, ao ler o K u n d e r a , me lembrei do
A b e l a i r a , isso p r o v a que a afinidade é bem r e a l . M a s , p o r v e n t u r a ,
cada leitor, com as suas referências, memória e imaginação p r ó p r i a s , v i u m i l outras semelhanças, que me não o c o r r e r a m . M a s e n tão, no limite, no l i v r o de K u n d e r a (ou noutro qualquer) estaria tudo, o que não é «razoável». De onde se pode, extremando, concluir
o contrário: que não está lá nada, ou m e l h o r , que só lá está o que
cada leitor vê, o que também não parece «razoável». O que é que lá
está, de facto? E apenas u m a e s t r u t u r a , u m qualquer invariante que
os críticos modernos se a p l i c a m a detectar? M a s , se fosse só isso,
qual a liberdade do r o m a n c i s t a , q u a l o seu mérito?
N u m a entrevista pouco antes de m o r r e r , referindo-se às reacções de psiquiatras à sua História da Loucura na Idade
Clássica,
Foucault d i z i a : «Conheço vários psiquiatras que, ao discutir o l i v r o
na minha presença, i n t i t u l a v a m - n o , p o r uma espécie de lapso s i m u l taneamente lisonjeiro e d i v e r t i d o , o 'Elogio da L o u c u r a ' . Alguns
consideram-no u m a apologia dos valores positivos d a l o u c u r a contra
70
o saber psiquiátrico... O r a , a 'História da l o u c u r a ' não é sobre n a d a
disso, basta lê-lo». E sobre outro l i v r o , As Palavras
e as Coisas:
«Essa ideia de ' d e s c o n t i n u i d a d e ' a propósito desse l i v r o a c a b o u ,
com efeito, p o r se v u l g a r i z a r . Provavelmente serei eu o responsável.
Não impede que o l i v r o diga exactamente o contrário.» De novo:
porque lêem as pessoas «o que lá não está»? O u estará, sem que o
próprio autor se tenha dado conta? A r m a d i l h a s d a linguagem? M a s
como? Qu'est-ce que la lilérature? E , p o r hoje, basta de dúvidas e
de interrogações.
11 de Julho — (Registo u m texto que há dias escrevi, n a estação
de C o i m b r a - B , à espera do comboio p a r a L i s b o a . )
N u n c a ouvi a m i n h a voz t a l como os outros a ouvem: apercebo-me b e m d a diferença quando a escuto n u m gravador e me dizem
que a reprodução está perfeita. O u seja, não conheço (a não ser p o r
essa v i a artificial) a minha-voz-para-os-outros. Isto resulta, j u l g o ,
do efeito de ressonância dos sons que emito dentro da m i n h a caixa
c r a n i a n a : ouço-me «por f o r a » , como os que me ouvem, mas, ao mesmo tempo, também «por dentro».
Esta questão da ressonância vocal sugere-me, p o r analogia, o u tra bem mais importante: o que sou p a r a m i m , e o que sou p a r a os
outros. P a r a os outros sou o que faço (fiz), onde incluo o que digo
(disse) — o u , mais precisamente, a parte disso que eles conhecem,
daí que eu não seja o mesmo p a r a todos, p a r a além de que eles p r ó prios «são» todos diferentes e diferentemente julgarão a mesma i n formação a meu respeito. O r a p a r a m i m , tudo o que faço e digo é
apenas o resultado, face a situações concretas, de tudo o que sinto,
penso, imagino, j u l g o , sonho, conheço, de tudo o que, ao longo da
minha v i d a , f u i sentindo, pensando, imaginando, j u l g a n d o , sonhando, conhecendo. Sucede que é única a colecção desse tudo que já v i ,
senti, toquei, l i , etc. E essa a m i n h a i n d i v i d u a l i d a d e , a m i n h a diferença relativamente a todos os outros, e n u n c a a p o d e r i a e x p r i m i r
totalmente p o r palavras ou actos, a i n d a que o quisesse, e p o d e r i a
nem o q u e r e r . E essa experiência única e indizível o-que-sou-para-mim. E x i s t e , pois, também a q u i , u m a necessária ressonância, de a l gum modo análoga à d a voz — m a s , neste caso, n e n h u m gravador
me poderá d a r a conhecer o que «sou-para-os-outros».
71
E se eu estivesse n u m a i l h a deserta? Então seria uno, isto é, apenas h a v e r i a o s e r - p a r a - m i m , j á que a questão c r u c i a l da relação com
os outros estaria, se assim se pode d i z e r , resolvida p o r omissão. Esse
s e r - p a r a - m i m , c u j a própria designação difcrenciante p e r d e r i a sentido, n a d a teria que ver com o s e r - p a r a - m i m «havendo outros». O h a ver outros é parte da m i n h a experiência: penso, actuo face a outros,
eles condicionam-me como eu os condiciono. O que os outros são-par a - m i m (diferente do que são-para-eles) determina em parte o que
sou-para-eles (e, p o r t a n t o , também o que s o u - p a r a - m i m , já que essa
relação se integra n a m i n h a experiência i n d i v i d u a l ) . E a presença
dos outros — do O u t r o — que me t o r n a dúplice malgré moi e que,
impondo-me u m s e r - p a r a - m i m , digamos, «socializado», v e r d a d e i r a mente me responsabiliza: não posso f a l a r de responsabilidade n u m a
i l h a deserta.
T u d o isto está no centro do p r o b l e m a da comunicação, esse i m possível-necessário. Só em r a r o s momentos de eleição, julgo estar
certo de que sinto, penso e sonho exactamente o mesmo que u m o u tro. Ilusão/certeza de ter penetrado no ser-para-ele, de aí ter aberto
uma b r e c h a , de conseguir olhá-lo de dentro, como ele próprio se
olha, e reciprocamente: é a fusão pressentida, só possível no a m o r , o
estádio mais próximo da comunicação, quando os «seres» se entregam impensadamente sem cálculos nem pudores.
24 de Julho — R e c o r d o u m a anedota que me c o n t a r a m n a P o l ó n i a . N u m a a u l a , o professor pede a cada aluno que escreva n u m a folha de papel três nomes de países amigos. U m único aluno não menciona a U R S S . P e r a n t e a estranheza do professor, o aluno explica:
«A U R S S não é u m país amigo, mas u m país irmão.» «Qual a diferença?» Responde o a l u n o : « E que os irmãos, a gente não escolhe...»
E isso mesmo. N u m a família, só o casal se escolheu. N u m a família alargada, incluindo tios, p r i m o s , avós, e t c , só os vários casais se
escolheram. E certo que o papel tradicional d a mãe nos primeiros
tempos de v i d a , os hábitos comuns, as brincadeiras e episódios d a
infância, t o r n a m tão particulares as relações no interior da família,
que se pode a d m i t i r como natural, no sentido corrente da p a l a v r a , o
facto de p e r d u r a r e m , v i d a f o r a , laços de amizade entre pais e filhos,
72
sobretudo entre irmãos. M a s muitas vezes isso não passa de u m a
convenção, e outras, só mais t a r d e , já na idade m a d u r a , arrefecidos
ânimos antigos, se acaba p o r ter a «ilusão d a amizade», p a r a além
de «tudo o que se passou» (e passaram-se, talvez, terríveis conflitos,
invejas, se não mesmo ódios, em t o r n o , ou não, de questões de famíl i a . . . ) . O u seja, não aceito que, p o r quaisquer imperativos de sangue, muito menos m o r a i s , os pais ou os irmãos devam
necessariamente ser os «nossos melhores amigos», ou simplesmente nossos a m i gos, e vice-versa. P o r q u e não houve escolha — e bem o compreendeu o aluno polaco (ou o autor da anedota).
P e l a m i n h a p a r t e , a família foi muito mais u m lugar de tensão e
de guerrilha do que de confraternização e amizade. F o i o p r i m e i r o
lugar onde me quiseram i m p o r regras, onde me distribuíram papéis
que se me ajustavam m a l , onde me p r e g a r a m valores e me d e r a m a
ver a sua negação, onde, inconscientemente é certo, me tolheram n a quilo que, isso s i m , é natural em cada u m de nós: a l i b e r d a d e (e a
capacidade) de dispormos de nós próprios, de seguir o nosso c a m i nho. Lição útil, a f i n a l . Desde então detestei tudo o que tivesse essa
função: igrejas, p a r t i d o s , tropas, agentes de v i r t u d e , todos os que
nos querem à fina força fazer felizes, enfim, todos os guardadores de
rebanhos.
31 de Julho— « E u , p o r m i m , sou independente. P o r que hão-de
querer que eu seja hoje da mesma opinião que há seis semanas? N e s se caso, a m i n h a opinião seria o meu tirano.» Isto diz u m a daquelas
personagens de salão parisiense, no Le Rouge et le Noir, de S t e n d hal.
V e m hoje no DN o «Apelo dos Independentes» à c a n d i d a t u r a
presidencial de Mário Soares. Independentes? De quê? De quem? I n dependentes, só p o r não serem (ainda) do P S ? E pouco. M a s chega
p a r a continuarem a sê-lo, o que convém obviamente ao c a n d i d a t o .
Todos os partidos sempre gostaram de ter os seus «independentes»,
aquilo a que é costume c h a m a r , quando se trata do P C , os compagnons de route, o que permite que, ao mesmo tempo, sejam e não sejam. Estes 700 independentes são, pois, os compagnons, se não do
P S , pelo menos do D r . Soares, se é que a distinção faz sentido. E m
73
suma, são u m a espécie de M D P do D r . Soares, o que os t o r n a c a n d i datos privilegiados a saborosas recompensas que ele não deixará de
d i s t r i b u i r . C o m excepção daqueles p a r a quem esta assinatura não é
mais do que u m a espécie de pagamento diferido, nem sequer elevado, a f i n a l , de «carinhos» já antes recebidos. Este manifesto é, t a m bém, u m passo mais no longo processo a que, desde a juventude, v a mos assistindo: a entrada n a o r d e m de tantos que a n d a r a m tresmalhados pelos mais «insensatos» ideais, se não pelos mais desvairados
radicalismos e extremismos. E de tantos outros que se v a n g l o r i a v a m
de não se quererem meter n a política, que se p r o c l a m a v a m i n t r a n s i gentemente... independentes. U n s e outros se a c h a m hoje reunidos,
pelo «Apelo», no reconhecimento das imensas virtudes do D r . S o a res, a quem alguns, não há tanto tempo, c h a m a r i a m com desdém
trafulha ou troca-tintas. E n v e l h e c e r é, talvez, justamente isso: p e r der a independência. Os pintores marginais às escolas académicas,
que, no século X I X , f a z i a m escândalo com os seus Salons des Indcpendents, não são hoje comprados p o r milhões de dólares? A sua
p i n t u r a (não eles, que em tantos casos m o r r e r a m n a penúria) foi
«integrada», tornou-se, p o r sua vez, clássica — o que é u m a f o r m a
de envelhecer. E m política, estas coisas passam-se mais depressa. E ,
depois, há sempre o argumento da personagem de S t e n d h a l . . .
74
10 de Agosto
Ao deixar a Faculdade, J F v a i aprender à sua custa, em
pouco tempo, que o mundo se parece pouco com o dos livros
da «Colecção Azul» devorados pela mãe depois de jantar, lido e
relido como u m a Bíblia o J o h n , Chauffeur Russo ao ponto de
se lhe soltar a capa, que errou pelos cantos até o rapaz perder
a paciência e a repor com cola Cisne.
No último ano de curso o pai saíra de casa por u m a vez, e
aguardara apenas os últimos exames do jovem finalista para
cessar o envio das curtas mensalidades a que a contragosto se
obrigara. Chefe de família improvisado, o meu amigo viu-se
forçado a ter de se empregar quase de u m dia p a r a o outro, o
que nem era problema por aí além, pois os principais grupos
económicos disputavam-se então os tenores de cada formatura, e bem precisavam deles, pois a época era de bons, e novos, negócios: ele eram os bancos que compravam e os investimentos no «Ultramar», ele eram o tomate, as rações (para animais e p a r a a tropa colonial), as celuloses, o açúcar, ele eram
os acordos com estrangeiros, que começavam a chegar em força. Foi assim que criaram, sem dar por isso, aquela geração
de tecnocratas que viriam, poucos anos depois, a aborrecer-se
com o Marcelo, e ainda hoje nos aborrecem a nós.
A pressa é que estragou tudo: J F teve de aceitar o primeiro convite que u m desses grupos lhe fizera ainda antes de terminar os estudos, mas contrafeito, pois desejara ter podido esperar p a r a se candidatar a outra empresa, de u m grupo rival,
75
essa ainda só no papel, era cedo de mais. Explicou-me, n a altura, que não só era profissionalmente mais interessante (estagiara em França nesse ramo, e achara àquilo alguma graça,
o que até o surpreendera, confessou-me), como seria u m começar a partir do zero, de algum modo participar de u m acto
de criação, ignorava ele a ferocidade com que os românticos
criadores em poucos anos se baterão pelas promoções e as influências, e tecerão u m a rede de intrigas, insinuações e súbserviências, a «organização informal» segundo os especialistas,
que lhe pintam as virtudes desburocratizantes. Três meses
passados, azar de J F , a apetecida empresa começa o recrutamento. 0 rapaz consulta alguns colegas, e professores bem situados no meio, e todos o encorajam a dar o passo fatal, que
deu, talvez desajeitadamente, mas o resultado seria o mesmo,
pois ninguém o informou de que os tais grupos rivais mantinham um acordo secreto p a r a não desafiarem técnicos u m do
outro, a bem da saúde dos negócios, e assim em pouco tempo
se v i u desempregado: o segundo não o recebe, em cumprimento do acordo, enquanto o primeiro o despede, ofendido pela falta de lealdade do jovem economista, que ainda por cima fora
tão honrosamente convidado. É mesmo o altíssimo patrão
quem o manda chamar e lhe anuncia a «boa nova», aproveitando para o informar de que só lhe interessa gente disposta a
esgatanhar-se p a r a chegar ao topo, «o que bem poucos conseguem, claro, mas todos julgam que sim», e que esse não era
obviamente o caso de quem, ao fim de tão pouco tempo, já se
queria passar p a r a o «inimigo» por ridículas razões de
interesse profissional, «pois, muito bem, que vá p a r a onde
quiser!» De u m a assentada, J F ficou a saber uma quantidade
de coisas úteis e teve de se pôr, agora mais ansiosamente, à
procura de trabalho.
São desse período dois pequenos textos do meu amigo.
«No olhar do novo engraxador do meu café leio o imenso
vazio de u m a existência vegetativa. Só aparece à noite. Trabalhará de dia? Estará desempregado e foi tudo o que pôde arranjar? A s calças de cotim cinzento, o casaco de ganga —
mais parece u m a qualquer farda de trabalho — dão-lhe o ar
76
de ter saído há pouco, atingido o 'limite de idade', de u m asilo,
talvez da Casa Pia. Não teve sorte, onde veio cair. A clientela
de estudantes, que por aqui abunda, não se preocupa
demasiado com o brilho dos sapatos. O rapaz passa a noite
encostado à parede, de mãos nas algibeiras. Encostado à
parede. Sem emoções visíveis, indiferente.
É dos que partiu vencido. E , no entanto, alguém teve nas
suas mãos 'fazer dele' outra coisa: pô-lo a pensar, ensinar-lhe
a lutar, interessá-lo n a vida — difícil, por certo, mas vida.
Nada disso: desde criança lhe vestiram u m uniforme, o
fizeram marchar calado e obediente p a r a o refeitório, p a r a as
aulas, p a r a a capela, p a r a o dormitório, p a r a toda a parte.
Calado. Obediente. O que lhe deram a conhecer foi a
autoridade f r i a ,
a desumanidade, a incompreensão,
a
resignação. A indiferença foi a sua defesa, frágil vitória que o
divorciou do mundo, que o deixou vulnerável a todas as agressões. Talvez esses 'educadores' com alma de sargento não tenham feito mais, no fim de contas, do que agir em nosso nome. Indivíduos como este são modelos de virtudes cristãs, são
cobaias exemplares, a sociedade em que vivemos precisa deles. Como o são também, cobaias exemplares, outros que, 'educados' nos mesmos asilos, pelos mesmos processos, nunca puderam ser dominados e, rebeldes, u m dia acabarão no crime.
A Justiça (a sociedade) precisa também de criminosos: é mais
fácil do que tornar justa a própria sociedade, e as fotografias
de frente e de perfil que deles aparecem nos jornais incitam os
adolescentes (os 'sãos', mas nunca fiando) a afastar-se dos
maus caminhos. Todas as noites, a u m a certa hora, o meu engraxador sem freguesia é vencido pelo sono, sempre encostado
à parede de mãos nas algibeiras. Ocorre-me então que seria altura de lhe fazer cair n a frente todos os sapatos deste mundo,
e obrigá-lo a engraxá-los sem parar, noite fora, até à manhã
seguinte, tarefa a que, estou certo, humildemente se entregaria. Seria u m a maneira de lhe fazer passar o sono, e não é
afinal o que ele pretende, engraxar sapatos? Mostrar-lhe-íamos assim a nossa generosidade, evitando ao mesmo tempo
que insista em ter sono à mesma h o r a do que nós.»
77
O jovem economista autoflagela-se, assumindo a sua parte
de responsabilidade n a sociedade injusta que fomenta a resignação e a passividade, e disso sobrevive. Não é ainda a consciência política, mas a expressão incipiente do acumular de pequenas revoltas, u m a percepção da impotência, ou de «uma
grande dor». Recordo, por sinal, terem sido precisamente estas
as palavras que J P usou p a r a me descrever o que sentiu
quando, em 1962, soube da prisão de u m dos seus colegas da
Faculdade, u m activista associativo p a r a quem as constantes
lutas, reuniões, comunicados, eram obviamente bem mais importantes do que os livros de economia, que só apressadamente folheava nas vésperas dos exames, e que, sabe Deus porquê, o escolhia de vez em quando p a r a lhe confiar os seus entusiasmos ou desânimos, e falar-lhe de m i l coisas que desconhecia, parecendo-lhe às vezes que «sabia tudo de tudo, menos
de Economia», como se isso lhe tivesse vindo do berço, tão natural como precisarmos de comer e beber, tão vital como o
sangue que nos percorre, e por isso mesmo J F o admirava, e,
tão invejado ele pelos seus brilhantes sucessos escolares, o invejava em silêncio.
Terá sido porventura a lembrar-se ainda desse colega de
que não voltou a ouvir falar, que J F escreveu, anos depois,
num canto de jornal, esta curiosa historieta, a que chamou «A
metade da verdade»: «A cada intelectual que entrevistava para
o seu programa, tinha o locutor de lembrar: 'Pode dizer tudo o
que quiser, mas deixo-lhe a escolher: se disser tudo, será decerto o último que entrevisto. Se disser só metade, ainda poderemos ouvir as metades dos outros que aqui vierem.' Tal como
os outros, também aquele preferiu dizer só metade. A metade
da sua verdade. 0 programa foi proibido n o dia seguinte.»
Faltava a J F ler dois ou três livros decisivos, que em breve o acaso lhe poria nas mãos, e conhecer o dia-a-dia de uma
fábrica n u m país estranho, p a r a onde involuntariamente o atirou a intransigência do tal «grande chefe». Poucos meses depois de ter ficado desempregado, voava o rapaz, contratado
por u m industrial português, p a r a u m país da América do Sul.
Faria 25 anos já sob u m calor tropical.
78
7 de Setembro—Diz
Montaigne (1580): « [ o homem vê-se a s i próprio] n u e v a z i o , reconhece a sua debilidade n a t u r a l , e está disposto a receber do alto u m a força que lhe é alheia. Desprovido de
ciência h u m a n a , está tanto mais apto p a r a acolher em si a d i v i n a :
p a r a a b r i r mais espaço à fé, a n i q u i l a a razão [...] E u m a folha em
branco p r e p a r a d a p a r a receber das mãos de Deus as linhas que ele
se digne escrever nela.»
D i z H o b b e s , no Leviathan (1651): «O entendimento das pessoas
vulgares, a menos que esteja turvado pela submissão aos poderosos,
ou pelas opiniões dos doutores, está como o papel b r a n c o , apto a
receber q u a l q u e r coisa que a autoridade pública deseje i m p r i m i r
nele.»
D i z L o c k e , no Ensaio sobre o Entendimento Humano (1690):
«Suponhamos que a mente é, p o r assim d i z e r , u m a f o l h a em b r a n c o
desprovida de q u a i s q u e r caracteres, sem nenhuma ideia; como vem
ela a ser preenchida? De onde obtém esse vasto armazenamento que
a imaginação activa e livre do homem aí gravou com u m a variedade
quase infinita? De onde t i r a ela todos os materiais da razão e do s a ber? A isto respondo n u m a p a l a v r a — da experiência; é nela que todo o nosso conhecimento se f u n d a e, em última instância, é dela que
ele próprio deriva.»
D i z , enfim, M a o - T s e - T u n g (1958): «Para além de outras p a r ticularidades, o povo chinês de 600 milhões de homens tem duas
características notáveis: é pobre e é ' b r a n c o ' . Coisas más, n a a p a rência, boas n a realidade. A p o b r e z a incita à mudança, à acção, à
revolução. E sobre u m a folha b r a n c a , tudo é possível, podem nela
79
escrever-se as mais novas e belas p a l a v r a s , pintar-se os mais novos e
belos quadros.»
D e u s , a autoridade t e r r e n a , a experiência, o P a r t i d o r e v o l u c i o nário. C u r i o s o leque, que a i n d a hoje ajuda a preencher muitas d a quelas folhas b r a n c a s que são... os boletins de voto.
23 de Setembro—Uma
entrevista de J o h n M c E n r o e , n . 1 do
ténis m u n d i a l , ao Spiegel, faz-me voltar ao Ilobbes e à sua descrição
do estado de n a t u r e z a : «Assim, n a natureza h u m a n a , encontramos
três principais causas de conflito. P r i m e i r o , a Competição; depois, a
Desconfiança mútua; enfim, a Glória. A p r i m e i r a faz os homens d i s putarem-se pelo G a n h o , a segunda pela Segurança, a terceira pela
Reputação. [...] D a q u i decorre manifestamente que, enquanto os
homens v i v a m sem u m P o d e r c o m u m que os mantenha a todos em
respeito, eles estarão naquela condição a que chamamos de G u e r r a ;
e t a l guerra é de todos os homens contra todos os homens.» P a r a
H o b b e s , só esse P o d e r f o r t e , esse L e v i a t h a n acima da l e i , possibilitará aos homens a v i d a em sociedade, a passagem da Barbárie à C i v i l i zação.
a
Que diz M c E n r o e ? «Na América, ensinam-nos assim: tenta ser
sempre o m e l h o r , só o óptimo é que serve p a r a te realizares. F u i
educado assim. E s s a ideia faz p a r t e do American Way of Life.» «Ser
o n . 2, ou o n . 3, ou mesmo o n . 4, ainda aguentaria. M a s não sei
se p o r muito tempo.» «Quando, no ano passado, o L c n d l me ganhou
em P a r i s , passei a p i o r noite da m i n h a v i d a . E n f i e i quinze cervejas
p a r a d o r m i r e não consegui, t a l e r a a m i n h a raiva.» «No ténis p r o fissional, é como no boxe, com a única diferença de que ninguém
mata o adversário com u m m u r r o . T a n t o no ténis, como no boxe,
por mais triste que isto seja, u m tem de p e r d e r , e o resto não conta.
E quando digo p e r d e r , não se trata de u m a mão-cheia de dólares.»
«Para v i v e r , já me bastam os rendimentos. O que não sei é se poder i a aguentar o mesmo nível de v i d a . Habituei-me a u m a v i d a de luxo
e quero mantê-la.» Competição, disputa pelo G a n h o ; Glória, disputa
pela Reputação — não será isto? Também o patrão de u m a grande
multinacional escreveu u m l i v r o , dirigido ao americano médio, i n t i tulado Gel a chance to be the first (qualquer coisa como «agarra a
a
80
2
9
oportunidade de ser o primeiro» o u , m e l h o r , «arrisca ser o p r i m e i r o » ) . E muitos outros exemplos não f a l t a r i a m .
Quanto à questão da desconfiança mútua, ainda há tempos me
chegou o relato de u m a conferência empresarial nos E . U n i d o s , em
que, perante a crescente dificuldade de conseguir fazer seguros de
responsabilidade c i v i l com prémios razoáveis, os chefes de empresa
atribuíam esse p r o b l e m a à «natureza litigiosa do público americano»
e sugeriam que se ensinasse aos jovens, desde os bancos da escola,
que «não existe sociedade sem r i s c o , logo, cada u m deve assumir a l guma responsabilidade pela sua própria segurança e pelos riscos
normais da v i d a quotidiana». T r a d u z i n d o p o r miúdos: não devem
passar a v i d a a desconfiar uns dos outros, e a i r p a r a os advogados e
p a r a os tribunais p o r dá cá aquela p a l h a . Também u m a revista amer i c a n a d i z i a , a respeito do p r o b l e m a d a «liderança» nos E . U n i d o s :
«A América é individualista e p l u r a l i s t a , nela a b u n d a m as clientelas
c os interesses, c a d a u m dos quais, ao que parece, tem p o r trás u m
grupo de advogados. A liderança é difícil n u m a sociedade litigiosa,
que tende a querer tudo explanado em contratos.» Aí temos, pois, a
desconfiança, o litígio, a l u t a feroz pela segurança contra os outros,
que estão n a origem de grande parte dos riscos da v i d a em sociedade. E m resumo, não teremos a q u i o curioso p a r a d o x o de ser a sociedade aparentemente mais avançada e mais civilizada do mundo
aquela que mais se assemelha ao «estado de natureza» que H o b b c s
p i n t o u , à «guerra de todos contra lodos», ao conflito permanente
pelo d i n h e i r o , pela segurança e pela glória?
E , já agora, no pólo oposto, não será a b u r o c r a c i a tentacular
soviética, esse monstro acima d a lei que mantém coesos os «homens
das estepes», u m exemplo m o d e l a r , único, do L e v i a t h a n hobbesiano?
A o q u e r e r fugir do L e v i a t h a n que lhes tolheria a iniciativa (e os
negócios...) estarão os mais intransigentes liberais a querer levar-nos p a r a o estado selvagem d a civilização americana? Não vejo p o r
que teremos de escolher apenas entre uma coisa ou o u t r a .
9 de Outubro — E l e i ç õ e s há três dias: o triunfo d a v i r t u d e . C a vaco, M a n u e l a E a n e s , M a r t i n h o mulliplicaram-se cm profissões de fé
na honestidade, seriedade, competência, desinteresse, comovido c m -
81
penhamento nos problemas do «português desconhecido», contra a
politiquice palavrosa e oportunista dos partidos (e se o P S D sabe do
que fala!), c o n t r a o pecado das ideologias — enfim, c l a m a r a m p o r
uma política v i r t u o s a . F o i do B e m que se f a l o u , n u n c a do P o d e r (e
das Ideologias), que era o que estava em jogo. Convém não esquecer
que foi de puritanas virtudes que se fez a acumulação capitalista, foi
nelas que assentou a ideologia da burguesia ascendente: desde o florentino A l b e r t i até ao americano F r a n k l i n , que alinhou treze v i r t u des (Temperança, Silêncio, O r d e m , Parcimónia, Castidade, H o n e s t i dade, etc.) e se propôs privilegiar u m a por semana e anotar os desvios cometidos. Disso nos f a l a r a m os teóricos do «espírito capitalista» — W e b e r , e também S o m b a r t : «Virtudes do espírito, virtudes do
carácter, que se t r a d u z e m p o r sua vez n u m a disciplina do nosso ser
n a t u r a l e n u m a ordenação do intelecto e da vontade». Os liberais de
hoje já esqueceram estas origens virtuosas e austeras do capitalismo
i n i c i a l , e todos eles são temores perante «utópicos» discursos, cm
que j u l g a m a d i v i n h a r a v i r t u d e de iluminados candidatos a ditadores. Eles lá sabem porquê: é que já de há muito os empresários c a p i talistas esqueceram essa lição de «diligência e frugalidade» (Alberti)
que há uns séculos fez constituir o património original dos seus pais
fundadores. Se tivessem referências históricas, é bem provável que
fosse em M a n d c v i l l e (que F r a n k l i n conheceu, aliás) que se apoiassem, se bem que, n a sua expressão famosa «Vícios privados, v i r t u des públicas», a p a l a v r a vício tenha o sentido de «interesse i n d i v i dual» ou «egoísmo», o que não é incompatível com u m a aparência
virtuosa de pugnar pelos interesses próprios e... ganhar d i n h e i r o .
Virtuosos f o r a m , pois, os burgueses da acumulação p r i m i t i v a . Como
foram também, a seu modo, militantes e chefes revolucionários. E
até ditadores de extrema-direita. Não se candidatam hoje a essa
imagem u m Reagan (e a sua «Moral Majority»), u m a Thatcher? E
Cavaco, não fez dela o seu trunfo eleitoral? Temê-lo-ão os neoliberais?
P o r m i m , toda a virtude feita política me i n c o m o d a . M a s a questão é de ideologia, claro — não de v i r t u d e . E se p o r v i r t u d e se e n tende a defesa de valores colectivos, contra a política assente n a febre i n d i v i d u a l de fazer d i n h e i r o , não tenho nada c o n t r a . A virtude
de C a v a c o , ou a de Eanes (tão parecidos, afinal), só me pode i r r i t a r ,
82
mas não me assusta. A r r e p i a - m e , isso s i m , a f o r m a como escondem a
ideologia p o r detrás das virtudes que apregoam, e destas pretendem
fazer u m a política a-ideológica. Se os empresários hoje já não p r e c i sam de «ser virtuosos», ajuda-os muito ter dirigentes que se dizem
t a l . . . F a l o sobretudo de C a v a c o . O eanismo é apenas u m a tontice.
31 de Outubro—Há
dias, n u m a sessão no P o r t o , M . L o u r d e s
Pintasilgo terá dito (registo de memória, pois deixei fugir o j o r n a l
que t r a z i a a reportagem): «A ciência é n e u t r a , não tem n a d a que ver
com a m o r a l ou com a política.» Não me surpreende que tenham s i do essas as suas p a l a v r a s , pois tenho-a visto recusar a validade actual da clivagem esquerda/direita, n a esteira dos defensores da m o r te das ideologias, acabando p o r , partindo de diferentes pressupostos, a d o p t a r também u m a posição «virtuosa», de cunho pragmático,
que parece ser o que «está a dar» entre nós (já me referi a isso n a
nota sobre as recentes eleições). O r a M . L . Pintasilgo, que, contra os
políticos tradicionais, gosta de se assumir como engenheira, f a m i l i a r
das ciências e das técnicas, tem obrigação — mesmo visando objectivos eleitorais, ou sobretudo p o r isso — de não esconder aquilo que
certamente sabe: que a ciência, se é que alguma vez o f o i , cada vez é
menos n e u t r a , e mais tem a v e r «com a m o r a l e com a política», e
com poderosos interesses económicos. Poderá mesmo dizer-se, talvez
desde H i r o s h i m a , que, pela p r i m e i r a vez na História, muitos deixar a m de ver nela «o Progresso», p a r a a olhar com « M e d o » : medo do
n u c l e a r , medo das manipulações genéticas, medo do controlo t o t a l i tário p o r computadores, medo da «Guerra das Estrelas», etc. B a s t a r i a , aliás, ter lido u m artigo do Expresso de Agosto passado («Os p a cifistas que fizeram a b o m b a atómica») p a r a se aperceber das ligações íntimas entre ciência e política, quando os grandes nomes da Física dos anos 30, depois de terem tentado u m pacto de silêncio q u a n to ao potencial político das suas descobertas, a c a b a r a m p o r , i n d u z i dos por uma avaliação e r r a d a do que se estaria a passar na A l e m a n h a , ser eles próprios a p r o p o r a Roosevelt a construção da bomba
atómica: «Fui c u quem carregou no b o t ã o » , v i r i a E i n s t e i n a reconhecer mais tarde. E , justamente, se depois se vieram a d i v i d i r
quanto à B o m b a I I (Oppenhcimcr recusando-se, T c l l c r colaborando
83
entusiasticamente), não foi p o r razões científicas, mas p o r razões
políticas e ideológicas. F o i a G u e r r a F r i a que os a p a r t o u , não questões de Física das partículas...
E hoje: j á se pensou o que poderão d a r as manipulações genéticas nas mãos de outro q u a l q u e r H i t l e r ? Terá sido H i t l e r o último H i tler da História? Isto não colocará problemas de o r d e m moral c política aos cientistas (já há ecos disso, aliás)? E não é, em grande p a r t e ,
tributária de créditos de Defesa a investigação científica em áreas
avançadas? Que independência têm os cientistas n a escolha dos seus
domínios de investigação, quando é daí, ou então de grandes potentados económicos (em que i m p e r a a lógica do negócio e do l u c r o ) ,
que lhes vem o financiamento? Não terão os cientistas, enquanto c i dadãos que são, que se p r e o c u p a r com as implicações morais e políticas dos resultados do seu t r a b a l h o , com o uso que deles podo v i r a
ser feito? E , a f i n a l , porque tudo isto é assim, porque não é possível
uma política de investigação científica n e u t r a , acima das ideologias,
que os cidadãos deviam estar informados destes problemas — e não
esconder-sc-lhe que eles existem. M . L . P i n t a s i l g o , se disse aquilo
que julgo ter dito, prestou u m péssimo serviço aos ditos cidadãos.
Aliás receio que esta m o d a do f i m das ideologias (tão atrasada, aliás:
Daniel B e l l escreveu o seu l i v r o O Fim da Ideologia nos anos 50; m o da ideológica, portanto) esteja a p r o d u z i r u m recuo sério n u m a área
que já andava mais ou menos c l a r i f i c a d a : a das relações entre os i n telectuais, em geral, e a política. C o m efeito, contrariamente aos
cientistas, considerados (erradamente, já se viu) como detentores de
u m saber acima de q u a l q u e r suspeita, os intelectuais — pensadores
políticos, filosóficos, homens «de cultura», sociólogos, economistas,
e t c , especializados descendentes dos homens que, dois ou três séculos atrás, d i s c o r r i a m em simultâneo sobre todas estas disciplinas —
vieram a ser reconhecidos, já no decorrer deste século, como gente
p o r t a d o r a de ideologia, cujo saber, sempre difuso e contestável, suportava, mais ou menos indirectamente, a intervenção «na sociedad e » , ou seja, a intervenção política, ainda que eles próprios, com
frequência, se mantivessem distantes. Até não há muito, distinguiase com facilidade os intelectuais de esquerda dos intelectuais de d i r e i t a , pela atitude c pelo discurso, mais do que pela sua presença no
debate político. De resto, muito antes que esta demarcação estivesse
84
definida, o exemplo dos iluministas do século X V I I I ilustra bem o
papel de intervenção política que obviamente tiveram (ou v i e r a m a
ter posteriormente) em acontecimentos históricos decisivos, p a r a
além da sua própria prática, vontade ou intenções. Bastará ler u m
capítulo de T o c q u e v i l l e , no L'Ancien Regime et la Révolution, significativamente i n t i t u l a d o : «De como, em meados do século X V I I I , os
homens de letras se t o r n a r a m os p r i n c i p a i s homens políticos do país,
e dos efeitos que daí resultaram», onde, aliás, ele sublinha o facto de
que n u n c a «fizeram política». C o n t r a o intelectual-ideólogo escreveu
J u l i c n B e n d a em 1927 La Trahison des eleres, em cujas páginas se
b a t i a , face à o n d a de ideólogos de direita que p u n h a m o pensamento
ao serviço d a política mais reaccionária, p o r restituir o intelectual
ao papel asséptico e neutro que, de qualquer modo, Já não p o d i a ser
o seu. V e r b e r a n d o os intelectuais que «alimentam quotidianamente
as paixões e ódios políticos», B e n d a vaticinava que, a prosseguir essa tendência, «o nosso século será propriamente o século da o r g a n i zação intelectual dos ódios políticos», no que não se enganou, se t r a duzirmos os ódios políticos p o r confrontações ideológicas. E está
certo assim: se existem ideologias, se elas se combatem, o intelectual
não pode ficar n e u t r o , faça o que fizer. P o r mais neutro que q u e i r a
parecer, c a q u i retomo os ambientes caseiros, u m belo d i a vemo-lo a
assinar u m manifesto do D r . Soares, ou a aparecer contrafeito n a
campanha de q u a l q u e r C a v a c o , ou mesmo de u m Soares C a r n e i r o (c
nem f o r a m muitos, p o r isso não se esquecem). Não pode ficar n e u t r o , como não o podem também os cientistas: a diferença está em
que a intervenção destes, b e m mais ameaçadora — mesmo que masc a r a d a , sinceramente até, de não-intervenção — , se faz no segredo
das suas torres de m a r f i m . Não das nossas, portuguesas, c l a r o : os
cientistas que contam p a r a os destinos do mundo não se passeiam
pelas Universidades ou pelos laboratórios portugueses (o que não
dispensa os nossos cientistas de se p r o n u n c i a r e m , pronunciando-se
ou não, sobre a função política da Ciência). Aliás, feitas bem as c o n tas, algo de semelhante se acaba p o r passar com os nossos intelectuais, impenitentes correias de transmissão de outros pensamentos,
vindos de distantes «centros de produção cultural»... Sei do que f a lo. E por isso me penitencio — dizendo-o.
85
5 de Novembro — C o n t r a p o n h o dois recentes textos do Monde.
0 p r i m e i r o , a propósito do N o b e l de literatura atribuído a C l a u d e
Simon, é u m depoimento inédito do escritor sobre «o ofício d a escrita», de 1971: «[na p i n t u r a ] foi-se compreendendo pouco a pouco
que os grandes assuntos obrigatórios constituíam apenas temas o u ,
se se p r e f e r i r , pretextos, e que U c e l l o , Vcronese ou D e l a c r o i x não
'representavam' a Batalha de San-Romano,a& Bodas de Canáou a
Entrada dos Cruzados em Constantinopla,mas
apenas 'apresentav a m ' (ou diziam) essas ' r e a l i d a d e s ' propriamente pictóricas que
eram certas relações de linhas e de cores, e que e r a m precisamente
essas 'relações' [...] que constituíam os verdadeiros assuntos dos
seus quadros. [...] N u m certo sentido, a l i t e r a t u r a tem hoje uns 100
anos de atraso relativamente à p i n t u r a : enquanto esta j á há muito
não tem necessidade, p a r a ser respeitada, de se justificar pelo p r e texto de ilustração de u m facto importante [•••], só há pouco tempo,
graças aos gigantes que nos precederam ( P r o u s t , J o y c c , . . . ) , pode o
romance (mas sempre ao preço de quantos sarcasmos!) apresentarsc como aquilo que é, isto é, tomando a fórmula sugestiva de J c a n
R i c a r d o u , não mais como ' a narração de u m a aventura, mas como a
aventura de u m a narração'».
O outro texto, a propósito do roubo
recente de u m q u a d r o de M o n e t , historia as desventuras dos p r i m e i ros impressionistas, recordando que o Estado francês, cm 1894, r e cusou u m legado de quadros dos grandes mestres da «escola». E
prossegue: «Tal dislate não é, pensando b e m , mais lamentável do
que essa comédia do eterno consentimento que tem m a r c a d o , desde
esse contra-senso quase histórico, tudo o que toca a c u l t u r a , conceito tão prestigioso quanto vago. Os avós que não souberam ver são
renegados pelos netos, que se t o r n a r a m yes men culturais, p o r medo
de virem a ser r i d i c u l a r i z a d o s pelos seus próprios netos. Os avós
tanto disseram não, que os netos r i s c a r a m a p a l a v r a do vocabulário.
Assim se c o n s t r u i u , v i a j o r n a i s e vernissages, u m a civilização do s i m ,
que n a d a terá crivado p o r si mesma, ou bem pouco. Não há, desde
então, abominação estética que não tenha as suas chances, p o r temor deste ou daquele de 'passar ao l a d o ' . A s s i m se consente t u d o ,
cm nome da 'invenção', da ' i d e i a ' , ou mesmo do ' a c h a d o ' . M a l se
sabe que u m pintor (?) compõe quadros (?) scnlando-sc-lhes em cima
86
p a r a espalhar a t i n t a , logo ele é objecto de sinais de interesse, que
infelizmente pouco têm a ver com o sentido de humor.»
Constato, antes do mais, como permanece em aberto o grande
debate sobre a n a t u r e z a da o b r a de arte e sobre os critérios de a
avaliar. Questões como as de arte pela arte/arle-função, f o r m a / c o n teúdo, figurativismo/abstraccionismo, estrutura/tema, e t c , atravessam estes textos, com o dramatismo que decorre de ambos se situar e m na contemporaneidade, aí onde o risco da crítica 6 supremo:
ninguém discute hoje se U c c l l o ou Veronese f o r a m grandes mestres,
mas o tal jovem artista que espalha a tinta sentado no quadro? Esse
está no centro, não só da tela, mas do próprio debate. C o m que c r i térios julgá-lo, ou m e l h o r , j u l g a r a sua obra? Não deixa de ser c u r i o so que ainda se coloquem estas questões, quando este século ficará
sem dúvida na História da c u l t u r a como o «século da teoria, ou da
crítica», aquele em que arte e crítica mais intimamente associados
terão estado, quanto mais não seja p o r ter a função crítica ascendido ao estatuto de profissão autónoma. Disse-o M a l r a u x : «Há mais de
u m século que o nosso convívio com a arte não cessa de se intelectualizar.» M a s adiante. Sou capaz de me extasiar perante u m G i o t t o ,
ou u m G o y a , sem mais. M a s ousarei penetrar na frieza de u m Miró,
ou de u m M o n d r i a n , sem a muleta de u m texto crítico? Não sei se devemos regozijar-nos p o r viver n u m século cm que a arte (como a literatura) precisa de «explicadores». Sei que estou a exagerar. T a m bém a leitura do Ucello ou do Veronese se enriquece se soubermos
mais do que a simples observação das obras nos p r o p o r c i o n a , a nós,
simples amadores. E , inversamente, muita p i n t u r a abstracta nos
«toca» sem prévias explicações. E , aliás, p o r isso que, quer se q u e i r a quer não, a fruição estética, no âmbito da chamada c u l t u r a e r u d i t a , está sempre l i m i t a d a pelo nível educacional e c u l t u r a l e, nesse
sentido, é sempre elitista. M a s estou convicto dc que talvez n u n c a tenha sido tanto como nos nossos tempos.
Leio o texto de C l a u d e Simon e ocorre-me perguntar: será possível ignorar o tema de u m q u a d r o como Guernica? Será possível f a zer desse q u a d r o uma apreensão puramente estética, cm lermos de
simples combinação de linhas e tonalidades, sem conhecer o «assunto», a «história»? E será possível interpretar as combinações dc l i nhas e cores específicas da p i n t u r a renascentista sem conhecer o
87
grande movimento das ideias desse tempo, que poderão «explicar» (e
inversamente) p o r que f o r a m escolhidos certos «assuntos» (ou a sua
ausência) e não outros?
Isto leva-me à questão que, finalmente, mais me interessa, a q u i lo a que talvez possa c h a m a r a «sociologia dos pretextos». S o u capaz
de ligar mentalmente o esquematismo, o não-naturalismo, dos p r i m i tivos gregos (de antes do século V I a . C ) , dos primitivos alemães ou
italianos (dos séculos X I I ou X I I I ) a u m tempo em que todas as «explicações» v i n h a m de cima, das divindades, pagãs ou cristãs, isto é,
cm que o referente não e r a a n a t u r e z a . M a s como explicarão os que
virão séculos depois de nós os «primitivos» do século X X ? Será a a r te do nosso século vista como u m a fuga espiritualista a u m real feito
de tragédias bélicas sem precedentes, de genocídios, de fomes, de u m
quotidiano superpovoado de objectos em que já nem a natureza se
reconhece? Dirão eles: nesse tempo, u m a «natureza-morta», só se
fosse a representação d a meia dúzia de cadáveres? E como e x p l i c a rão eles o retorno à figuração, à n a r r a t i v a , ao «assunto», a que hoje
estamos a assistir?
Se não nos colocarmos hoje estas questões, acho que n u n c a v i r e mos a perceber n a d a . P o r mais que os críticos se esforcem, p o r mais
que sejam capazes de escrever u m a dúzia de páginas sobre uma tela
pintada de u m a cor única, com u m a l i n h a preta a dois terços d a a l t u r a . . . Penso que a questão d a arte didáctica está ultrapassada, mas
não será sempre a arte u m expressão do social — de uma sociedade,
de u m «tempo»? A escolha dos seus pretextos, ou a sua ausência — o
que significam, p a r a além do mero valor estético desta ou daquela
obra particular?
88
17 de Novembro
«A cidade de G., a poucas dezenas de quilómetros da capital, é um aglomerado de casas, quase todas de andar térreo,
caiadas de várias cores, de preferência berrantes, com largas
janelas gradeadas, porta sempre aberta, deixando entrever no
interior pequenos pátios à maneira andaluza, onde ranchos de
crianças se alimentam sobretudo de sol, oferecendo-lhe hora
após hora os seus corpos escuros e pouco cobertos. Palo da cidade que o forasteiro encontra quando os bus es ou os carritos
por puesto o despejam no largo principal, centro do comércio,
onde todo o santo dia, à falta de trabalho, ranchos de homens
e rapazes vão de bar em bar, trocando chistes pesados pelo
caminho, até por fim se espapaçarem nos bancos públicos e, já
noitinha, se arrastarem, eufóricos uns, lacrimosos outros, pelo
seu pé ou amparados, detendo-se nalguma esquina para u m
vómito imprescindível, a caminho de casa.
Não é, porém, a cidade só este traçado geométrico de quarteirões ao gosto colonial, com nomes dados aos cruzamentos,
não às ruas. Há também a parte alta. É o lugar da Igreja, do
banco, da companhia de electricidade, da Câmara Municipal. E
é onde vivem empregados e funcionários, o médico, o engenheiro, o presidente da Câmara e, de u m modo geral, os habitantes mais endinheirados. Mas não se pense que é a 'cidade
nova', de linhas modernas. A igreja, de sóbrio barroco colonial, deve por ali estar há mais de dois séculos. O hospital
89
veio ocupar, sabe Deus quando, u m velho solar, adaptado sem
muita obra e equipado à imagem da austeridade da construção. A Câmara, larga fachada branca com colunas e varanda
de madeira, dir-se-ia nunca haver antes conhecido outra morada. Só destoam ali no meio o banco e a companhia de electricidade, pequenas delegações a que as casas-mãe deram muito
vidro, mármore de imitação e caixilharia de alumínio. A s residências, mesmo as de gente importante, respeitam exteriormente o figurino geral: as mesmas cores garridas, os mesmos
gradeados, os mesmos degraus de pedra gasta, apenas mais
rico, nalgumas, o trabalho do ferro, mais amplos os pátios,
mais adornadas as paredes, mais cuidadas as plantas, mais
reluzentes os vidros, mais limpas as crianças.
Há ainda a cidade que se esconde, meio envergonhada, por
detrás do casario da parte baixa, ao abrigo de acidentes do
terreno que lhe dificultam o acesso, sobretudo n a época das
chuvas. Aí desaparece a cor das paredes, imperam a tábua, o
cartão, a folha zincada, a rede de arame, o caniço. A altura
das construções m a l permite a alguém entrar sem se curvar,
do que, tal o hábito, os habitantes nem se apercebem. Miudagem nua, sem conta, povoa os sinuosos arruamentos, tendo
por brinquedos as poças, as pedras, a lama. São seus irmãos,
seus pais, muitos dos que vimos no largo matando com r u m o
ócio dos dias intermináveis. E há a estrada, a grande estrada
de asfalto, coleante, que, vinda da capital, irá atravessar as
terras do Barlavento, e dobrar depois p a r a sul até atingir as
margens do Orinoco. Do outro lado da estrada, u m a enorme
tabuleta, de que os temporais já levaram meia dúzia de tábuas, anuncia o 'Centro Industrial dei Este'. Urbanização recente, terreno amplo no sopé da montanha que separa a cidade do mar, alguém a imaginou p a r a que ali se multiplicassem
fábricas que arrancariam G. da sua modorra secular. Cálculo
errado, n u m país em que pululam os 'negócios de mão cheia',
que dão fortunas da noite p a r a o dia, e nisso se aposta u m v i da inteira, e em tudo se aposta, e tudo, e todos, se vendem e
compram, n u m país onde até se conta, como anedota exemplar, que uma candidata ao divórcio, ao ouvir o preço que lhe
90
anuncia o advogado, exclama 'mas por menos que isso tenho
eu quem mo mate!'
Bem poucas eram as chaminés que fumavam no Centro Industrial. Paga-se a ministros, a directores-gerais, a funcionários p a r a pôr de pé u m a fábrica, paga-se aos inspectores p a r a
que fechem os olhos a tudo o que não obedece a regulamentos
que parecem feitos p a r a servir de 'pretexto' aos ditos inspectores, paga-se aos sindicatos para que fiquem sossegados, temse esse trabalho todo e u m belo dia, por qualquer distracção
ou passo em falso, desaba u m a multa astronómica, aparece
um fiscal incorruptível, ou mais provavelmente pago por u m
concorrente, há u m a greve selvagem, multiplicam-se os sarilhos — e o empresário que se julgava em paz e enriquecia a
olhos vistos, acha que é bem melhor fechar a loja e ir jogar
nos cavalos. E a pressa de ganhar dinheiro ainda é maior
quando se vem de terras distantes: passa-se em poucos anos
da padaria, ou do camião em terceira mão, à bomba de gasolina, ao cemitério de automóveis, à empreitada de construção,
comendo n a farinha ou no cimento, carregando o camião até
quase rastejar, o que é preciso é aparecer na terra despejando
do paquete u m espada americano do último modelo, com u m a
daquelas estranhas matrículas cheias de letras e números, e
poder distribuir generosas dádivas ao hospital ou aos bombeiros da vilória natal.
E r a no 'Centro Industrial dei Este' a fábrica p a r a onde
vim trabalhar, u m a das poucas sobreviventes. O dono era u m
tal Pato, que herdara u m a fábrica nos arredores de Leiria, e
por isso se intitulava industrial, mas, trapalhão em tudo, especialista do 'feito à matroca', todos ansiavam por que aparecesse o menos possível n a empresa, daí o enorme gáudio
quando se soube que tencionava instalar outra fábrica semelhante n u m país sul-americano, o que por certo o obrigaria a
longa ausência. Lá seguiu a v i a sacra, e até um automóvel
comprou p a r a oferecer à filha de u m alto funcionário, alavanca suposta decisiva p a r a apressar as autorizações que se arrastavam, só dois anos depois vindo a saber que o italiano que
lho vendeu nunca o entregara à destinatária: foi esse carro de
91
sport europeu (o supra-sumo da distinção naquelas paragens),
estafado pelas correrias do italiano com os seus engates, que
me veio a caber, quando cheguei à cidade de G., e várias vezes me iria deixar n a estrada a pedir boleia.
Bom negócio aquele, que o Pato nisso era esperto. Tão pouco quis gastar, todavia, que decidiu ele mesmo dirigir a fábrica
passando lá uns meses entremeados, e pondo nos lugares de
alguma responsabilidade operários portugueses, espanhóis e
italianos Cm'siús, n a gíria local), com a gestão corrente à conta de u m empregado de escritório, leiriense de toda a confiança, que em poucos anos fez fortuna, montou negócios próprios,
construiu casa e, naturalmente, só não afundou de vez a empresa porque o Pato descobriu a marosca ainda a tempo. Foi
então que, passando do oito ao oitenta, resolveu contratar u m
administrador, u m engenheiro e u m economista: peruano, e
velho amigo, o primeiro, portugueses recém-formados os outros dois. Num belo dia de fins de Janeiro, lá desembarcámos
nós, eu e o engenheiro, num aeroporto à beira-mar plantado, e
aí nos esperava num Mercedes pouco recomendável o tal peruano, que viríamos depois a saber catalão de origem e tão
fervoroso admirador do Generalíssimo (que servira durante a
Guerra Civil) que sempre nos interrogámos por que estranha
razão deixara o Reino Ibérico, onde não lhe teriam faltado poleiros e proventos.
Por intermináveis auto-estradas, herança maior do último
ditador, subimos até à capital, e depois a atravessámos de
ponta a ponta, pelo meio de arranha-céus e bairros de lata em
surpreendente vizinhança, chegando perto de u m a hora mais
tarde às portas da fabriqueta. A mulher do peruano tinha-nos
preparado u m jantar de beringelas, o que me fez detestá-la
desde logo, e a nossa cordial inimizade iria durar, por mais
fortes razões, o ano inteiro que por lá passei.»
92
27 de Novembro — N u m número recente do J L , dedicado às r e lações culturais luso-espanholas, encontro u m frente-a-frente entre
P i l a r Vasquez Cuesta e João M e d i n a , o todo-poderoso P a p a d a
«História» n a F a c u l d a d e de L e t r a s . D i z este, a certo passo: «Do
ponto de vista c u l t u r a l , não temos dinamismo, somos apáticos, não
há u m verdadeiro espírito de missionarismo, não temos capacidade
de fazer portuguesismo
[...]. Somos complexados, somos u m povo
complexado. O p r o b l e m a de sermos poucos, sozinhos e perdidos nesta o r l a vã da p r a i a , como d i r i a Pessoa, cria-nos u m complexo de t i midez. Nós vamos a E s p a n h a e não temos coragem de falar p o r t u guês, e t c , etc.» O j o r n a l i s t a presente do JL limita-se a a j u d a r este
chorrilho com u m quase envergonhado «somos envergonhados...»
A i n d a há quem diga que j á não é possível distinguir esquerda e
direita. Não será preciso saber muito mais d a personagem p a r a r e conhecer nesta p r o s a u m a inquestionável posição de d i r e i t a .
Mas por agora, interessa-me apenas a questão da língua. Penso
que a língua, embora possa ou deva ser também u m objecto de estudos teóricos, não é u m objecto com v a l o r próprio, intrínseco, i n d e pendente de quem a utiliza e dos fins com que a u t i l i z a . Q u e m a u t i liza são pessoas, que se servem dela p a r a comunicar com outras, p a r a comunicar alguma coisa a alguém. U m a língua que deixe de servir
este objectivo, m o r r e , embora possa continuar a ser estudada com
outros fins, como seja a leitura de documentos antigos, e até p o r q u e ,
ao m o r r e r , geralmente gerou outras. Se assim é, e se a experiência
nos diz (por razões até conhecidas) que existe u m a assimetria de
93
compreensão entre espanhóis e portugueses, parece u m c o m p o r t a mento racional, inteligente, o de u m português que, em E s p a n h a ,
p r o c u r a falar — ou apenas «imitar» — a língua castelhana. È n o r m a l : o seu objectivo é comunicar, fazer-se entender o melhor possível, e não exibir a s u a língua como se fosse u m a jóia, ou u m sinal de
afirmação n a c i o n a l . Os alemães, que não são assim tão poucos e estão no centro d a E u r o p a , não marginalizados em qualquer «orla vã
da praia» (como d i r i a o Pessoa, a h ! a h ! ) , vem a P o r t u g a l e... não se
põem a falar alemão. F a l a m aquilo que melhor lhes pareça servir o
seu proprósito de se fazerem entender: inglês, francês, ou mesmo u m
espanhol ou português macarrónicos, aprendidos algures na América L a t i n a , ou sabe Deus onde. Serão eles tímidos, complexados? D e vemos acusá-los de não saberem «fazer germanismo»? F r a n c a m e n t e ,
ó Medina!
29 de Novembro — E s t á - s e em maré de, usemos u m termo desapaixonado, reposicionamentos políticos. P r i m e i r o f o r a m as p o r vezes espectaculares adesões à c a n d i d a t u r a Soares, então de vento em
popa — gente d a «esquerda liberal», da «nova esquerda», tecnocratas e gestores. Depois veio o cavaquismo e o P R D . E , ao longo do
ano, f o r a m crescendo apoios ao pintasilguismo, estes mais emotivos,
no geral creio que mais desinteressados. C o m o a p r o x i m a r das p r e s i denciais, com a entrada de Z e n h a em liça, a turbulência aumenta,
multiplicam-se as «surpresas». H o j e : a adesão de Helena V a z da S i l va a Freitas do A m a r a l , «não p o r q u e me tenha convertido à d i r e i t a ,
mas porque me converti ao real», como se não fosse justamente do
real (do seu real) que a direita se r e c l a m a , face ao utopismo e ao i r realismo de e s q u e r d a . . . A articulista é, de resto, clara neste ponto,
quando diz (ela, ex-animadora da revista Raiz e Utopia, esse enorme
equívoco c m que tantos caíram): «Não ouvirei mais as sereias do discurso utópico!» O repúdio da distinção esquerda/direita é, aliás,
quase diário nas páginas dos j o r n a i s . B a s t a pensar nas constantes
afirmações dessa tese pela própria M . L . Pintasilgo e, no lado oposto, as crónicas d a freitista A g u s t i n a , que recentemente d i z i a : «Perde-se u m tempo precioso com essa fácil pretensão de sanidade que é
a classificação de esquerda c d i r e i t a . Só n u m a sociedade em que p r e 94
valece o prosismo político, em que se tropeça continuamente com a
santidade académica, é que estes rótulos a i n d a são possíveis.»
Depois, há outro extraordinário leit motiv: as virtudes nortenhas. Ouçamos, sobre isso, I I . V . da S i l v a : «Porque acredito que no
meu país existe u m a enorme força latente p r o n t a a ser posta cm
m a r c h a — são os jovens, é o N o r t e , como recentemente l e m b r o u u m
cronista que aprecio [ . . . ] » . Não sei quem f o i o tal cronista mas, sobre o tema, ninguém leva a p a l m a a u m certo António V i l a r , grande
promotor da T V n o r t e n h a , ponta-de-lança dos Proenças & C i a . , que
escreveu há dias no DN esta m a r a v i l h a : «A modernidade passa necessariamente pela força do N o r t e , e do N o r t e emerge força suficiente p a r a sobrepujar os fantasmas postos de guarda às fronteiras legais de u m País novo e melhor. Do ponto de vista do Fórum P o r t u calense [a entidade que lançou a emissão-pirata de T V n a passada
semana], é indiferente que a nova T V seja pública ou p r i v a d a — r e leva, isso s i m , que seja do N o r t e e pelo N o r t e e, tanto quanto possív e l , divulgada cm lodo o país. A televisão p r i v a d a , porém, nasceu.
A g o r a , de facto e irreversivelmente, no N o r t e de P o r t u g a l . E onde
poderia nascer senão aqui? É que as coisas só ganham f o r m a e fundo
quando por detrás se acalenta u m estado de espírito decidido e c r i a d o r : como o que prevalece e cresce, em cada d i a , neste espaço nortenho.» Não será de sugerir a toda esta gente que tome como hino
aquele excelente tema do Sergio G o d i n h o : «Ai eu estive quase morto
no d c s c r t o / E o P o r t o a q u i tão perto»?
O u t r o cair no realismo político, este soarista, é o de M a r i a B e l o .
A o r e p u d i a r a c a n d i d a t u r a Z e n h a , diz ela que a c a n d i d a t u r a Soares
é a de «todos os que sentem que o P R E C termina definitivamente
com estas presidenciais pluralistas e civilistas». De passagem, conta
uma curiosa história, a da sua entrada p a r a o P S , quando Z e n h a a
avisou de que «se quiser fazer c a r r e i r a política no P S , deixe dc f a l a r
do P R P e do a b o r t o » . A f i n a l , parece que não se deu m a l , e, segundo
rezam as crónicas, terá sido Soares, o seu candidato, e não Z e n h a ,
quem u m d i a , n u m a sessão no P o r t o , simplesmente a p r o i b i u dc f a l a r . . . sobre o aborto.
95
9 de Dezembro — Leio em B r a u d c l (A Dinâmica do
Capitalismo): «Nos livros de história t r a d i c i o n a l , o homem não come nem bebe.» Fcz-me l e m b r a r u m a observação de u m amigo, deve i r p a r a
t r i n t a anos: «Na grande m a i o r i a dos filmes, n u n c a se chega a saber o
que fazem n a v i d a as personagens, de que vivem, em que t r a b a lham.» C o n t i n u a , em boa m e d i d a , a ser v e r d a d e , e nisso o cinema
virá a ser u m testemunho muito enviesado do nosso tempo. Os historiadores do futuro poderão, através dele, saber como se r e l a c i o n a v a m pessoas n a família, no amor ou n a guerra (e como se matavam:
disso poderão fazer tratados inteiros), mas saberão pouco sobre o
que f a z i a m , em que t r a b a l h a v a m , como se relacionavam no t r a b a l h o . Exagero u m pouco: não faltam filmes sobre as profissões-drama
ou as profissões-cspectáculo, como médicos, advogados, jornalistas,
políticos, gente do próprio show business, detectives, e os respectivos gangsters. M a s a larga m a i o r i a das profissões são as do e n t r a r -às-tantas-e-sair-às-tantas, horas no guiché, ou n a repartição, ou n a
fábrica, ou ao balcão, e nisso se passa o tempo de u m a v i d a , até v i r
(ou não) a r e f o r m a . O cinema esconde-nos todo esse m u n d o : será
porque aí não há d r a m a , mas apenas os chamados «pequenos (e desinteressantes) dramas quotidianos»? O u muito simplesmente porque
as sociedades da produção e do consumo de massa, as sociedades
que f u n d a m n a m e r c a d o r i a e na multiplicação dos objectos a sua
prosperidade, preferem ocultar o preço dessa prosperidade àqueles
que duplamente o pagam (como produtores e como consumidores)?
C l a r o q u e , ao dizer sociedades, estou a referir-me às suas classes dominantes: onde se incluem os empresários que p r o d u z e m os filmes.
M a s r e p a r o q u e , de n o v o , me estou a a t i r a r a moinhos de vento:
não é o cinema u m a arte? As histórias não são meros pretextos,
como na p i n t u r a ? Que i m p o r t a então que sejam estas ou aquelas, ou
que não h a j a nenhuma? Aliás, cada vez mais, as histórias têm sido
transferidas p a r a as séries de televisão, e os filmes deixaram de o ser
p a r a ser apenas, nobremente, cinema. N a d a contra. M a s subsiste o
problema — mais político (a meu ver) do que a imensa subversão
eventualmente contida n u m a audaciosa montagem de planos — d a quilo a que antes chamei a «sociologia dos pretextos»...
96
1986
25 de Janeiro—Dia
de reflexão antes d a votação, amanhã, p a r a a 1.- volta das presidenciais.
U m a vez mais, como sempre, não consigo identificar-me com n a da disto, não chego a v i b r a r com n e n h u m destes. Alia-se à m i n h a
eterna dificuldade de empenhamento político institucional uma «crise de clareza» nas minhas próprias ideias, que não terá tanto que
ver com a decantada crise da esquerda, mas bem mais com a falta de
escrita. F o i sempre o acto de escrever que me obrigou a precisar as
ideias até obter u m grau de definição (no sentido óptico) indispensável, n u m processo de confronto comigo mesmo e com o que me r o deia. Estas notas, apressadamente escritas, pouco mais têm sido do
que u m registo preguiçoso, p a r a pensar depois. Acresce que o muito
que, em c o n t r a p a r t i d a , ultimamente tenho l i d o , veio trazer-me u m a
catadupa de novos elementos de reflexão, q u e , p o r falta dela, se e n contram como que em suspensão (no sentido físico, agora) no meu
espírito, como discretos grãos de poeira que ainda não pude integrar
na «massa de ideias» preexistentes. M a s voltemos às presidenciais.
C o m tudo o que nela me i r r i t a , que nela rejeito, e que nela temo
(se fosse eleita), v o u votar Pintasilgo. Talvez mesmo apenas porque
e lá que estão «os meus». P a r a o c o n f i r m a r , f u i ontem ao comício de
fecho d a c a m p a n h a no Pavilhão. E , de facto, eles lá estavam: os conhecidos, e os desconhecidos. Aqueles que ainda são capazes dc
«aventura», de «sair p a r a fora do quadrado» (ainda te lembras,
97
João C u t i l e i r o ? ) , de ter esperança quando tudo parece fechado.
Aqueles que recusam o «realismo político» (que fazia p o r lá o E .
P r a d o Coelho?), que só vêm a ganhar à distância de meio século ou
mais, ou seja, os que (quase) n u n c a sabem que venceram — mas,
ainda assim, são os vencedores. Sempre f o r a m esses os grandes e i g norados — i n d i v i d u a l m e n t e , entenda-se — dinamizadores de tudo
quanto é n o v o , isso que, prometido hoje à chacota dos anti-utópicos,
u m d i a será ironicamente i n c o r p o r a d o n a «natureza das coisas» ou
nas «coisas naturais», como sempre f o i . Quanto aos discursos do comício, esses j á os esqueci.
P o r isso recusei a m i n h a assinatura a u m manifesto da esquerda
mais r a d i c a l apelando ao voto em b r a n c o . Não só não me sentia com
qualquer autoridade m o r a l p a r a o f a z e r , como suspeitava (e hoje estou certo) de que era importante, ao f i m de tanto tempo, voltar a
contar esta gente, que j á quase não existe na m a i o r i a dos países d i tos «democráticos», «europeus», «industrializados», c l c , etc. Que
se a d m i t a , em P o r t u g a l , cm 1986, que u m a Pinlasilgo pode passar à
2.- volta e pode mesmo ganhar umas eleições p o r voto directo e u n i versal — isto é j á , só p o r s i , u m a espantosa vitória. Que ela vá r e u n i r , no mínimo, p e r l o de 1 milhão de votos — eis qualquer coisa de
impensável (proporcionalmente) em qualquer desses países. E isto é,
independentemente d a c a n d i d a t a , u m a indiscutível e persistente herança do 25 de A b r i l : u m milhão de cidadãos continua a p r o c u r a r , a
interrogar-se, a d u v i d a r do instituído. A sonhar com outra
vida,
com outra democracia, enfim, com algo que a Presidente, se o fosse
(for), n u n c a lhes p o d e r i a d a r . . .
Dói-me que alguns amigos não estejam comigo nesta opção, que
não chega a ser u m a adesão. Custa-me que, por mera aposta no que
julguem ser (penso que muito erradamente) a única hipótese de d e r rotar o Freitas — a c a n d i d a t u r a Zenha — , tenham conseguido ader i r a u m a causa tão pouco transparente — a p a l a v r a que o c a n d i d a to tanto preza e apregoa, mas que ninguém como ele mais atropelou
nesta c a m p a n h a . E l e foi a «dupla campanha» (com o Veloso), u m
lançamento de c a n d i d a t u r a totalmente combinado (do francês combine...) entre «grandes chefes», golpes baixos sem conta (as trocas e
baldrocas de tempos de antena com o Veloso, de pavilhões e locais
de comício, etc. etc.) — enfim, o p i o r deste sistema polílico-partidá98
r i o , o menos «democrático», o mais tristemente desonesto, tudo esteve nessa c a n d i d a t u r a do homem que, desde a famosa u n i c i d a d e , e r a
a sombra negra do P C P , hoje seu dócil aliado. P a r a não f a l a r do
contributo que isto tudo poderá v i r a d a r p a r a a vitória do F r e i t a s .
27 de Janeiro — A Pintasilgo não chegou à 2. v o l t a . O quase
milhão de votos não chegou a meio milhão. Pese embora ao Vicente,
que no último Expresso p a r o d i a v a o Elcctions, píège à cons... do
S a r t r e , mais do que nunca reconheço que era ele (Sartre) que estava
n a plena razão. Ninguém vota socialmente l i v r e em eleições destas:
cada u m vota apenas enquanto elemento da «série» dos eleitores, h o mens amputados do seu «ser colectivo», condicionados p o r mesquinhos cálculos aritméticos (feitos p o r outros), p o r poderosos meios f i nanceiros, p o r máquinas de p o d e r , que apenas lhes pedem que legitimem o seu poder e o seu d i n h e i r o , e que fazem do seu voto o que
melhor entendem.
8
Se assim se pode d i z e r , os menos livres de todos, de entre os
eleitores, terão sido os que v o t a r a m no Z e n h a coagidos — não há
outro termo — pela « 2 . Campanha» (a do P C P ) e pelos interesses
desse p a r t i d o , que muitos suspeitam, tendo em vista a sua própria
consolidação (após o desaire de O u t u b r o ) , desejaria finalmente a v i tória do F r e i t a s . . . e v a i tc-Ia! Quantos dos que v o t a r a m em Z e n h a
pensaram «pelas suas próprias cabeças»? A o menos, dos que v o t a r a m cm Soares e F r e i t a s , muitos terão pensado no que j u l g a m ser os
seus interesses. E não resistiram ao espectáculo (escandaloso, é certo) montado pelo dinheiro a r o d o s , quando não, alguns, à tentação
das benesses e das facilidades com que q u a l q u e r deles saberá p r e miar fidelidades. È isso, também o voto útil.
8
Do lado Z e n h a , homem que não merecia isso, tudo acabou na
maior das vergonhas: j á no sábado, a n d a r a m (quem?) a espalhar
por esse país f o r a que a Pintasilgo desistira, e até mesmo, ao que p a rece, que tivera u m ataque cardíaco. A t a l ponto que a candidata teve de i r votar mais cedo do que p r e v i r a , p a r a que «constasse» que
estava em boa f o r m a e se m a n t i n h a n a «corrida»! Só p o r isso me felicitaria dc não ter andado por aquelas bandas.
Longe de m i m r e t i r a r o que anteontem escrevi. Baixe-se o núme99
ro p a r a meio milhão (os contados, sem i n c l u i r os que nela teriam v o tado sem as violências do P C P ) , e mantenho o que disse. E n f i m , t a l vez só h a j a que t i r a r o chapéu à larga m a i o r i a dos «eleitores de u m
dia» (6 de O u t u b r o ) do P R D , que se distribuíram sem pejo e quase
equitativamente pelos outros candidatos, i n c l u i n d o o F r e i t a s . P e q u e na rebeldia, m o v i d a sabe Deus p o r que interesses ou cálculos mentais, mas r e b e l d i a apesar de tudo. 0 P R D reduziu-se quase a z e r o ,
se esquecermos os seus 45 deputados, que poderão talvez v i r a d a r
ao P S D a m a i o r i a absoluta p a r a c u m p r i r o grande objectivo freitista: u m Presidente, u m G o v e r n o , u m a m a i o r i a . E já só o que f a l t a .
V o l t a r e i alguma vez a votar? G o s t a r i a de pensar que não. S e r i a
a única atitude coerente. M a s esta p a l a v r a parece ser das que caiu
em desuso...
2 de Fevereiro — Poderá dizer-se de Agustina que «perdeu o
norte», ela tão entranhadamente nortenha? Vejamos.
No DN de 8 de D e z e m b r o , glosando o mote, já tão cediço, d a
distinção entre os «portugueses» e os «outros», diz cia que «o p o r tuguês é, por natureza [!!], u m visceral com u m pequeno pó de sal
cercbrolónico», que «o norte-americano é oportuno n a cortesia e
nunca influi n a v i d a p r i v a d a de u m estranho»; que «o nórdico [?]
parece ter verdadeiro h o r r o r à reputação de amigável». P a r a quê
comentários?
Também no DN, em 12 de J a n e i r o : «A v i r i l condição, que se
furta ao doméstico, p o r q u e o doméstico estimula a crueldade, rebelava-se», referindo-se aos tempos em que os homens frequentavam
os cafés. Poderá deduzir-se d a q u i , d a d a a sentença teorizante de
permeio, que os membros do sexo v i r i l fogem a todas as situações
«que estimulam a crueldade»? A c h o que não errei o silogismo, que,
como tantas vezes sucede, conduz ao mais rematado disparate. E
pergunto: e hoje, que j á quase não há cafés, como se manifestará a
rebelião da «viril condição»?
A i n d a no DN, 2 de F e v e r e i r o : «As mulheres não são tão extremosas pelos seus vícios; o u , melhor dito, pelos homens. E l a s só
amam o invulnerável, e p a r a o d e s t r u i r ; o que não inclui os homens,
evidentemente.»
100
O português, o norte-americano, o nórdico, a v i r i l condição, as
mulheres: aí estão eles genialmente caracterizados, em poucas p a l a v r a s , dc f o r m a definitiva.
E x g e r o : também a prosa ficcional de
Agustina constantemente tropeça em m i l sentenças, definitivas
quanto estas, p a r a , páginas adiante, outras igualmente definitivas as
virem contradizer.
101
7 de Fevereiro
«Regressado há u m mês do outro lado do Atlântico, há que
fazer sem demora o balanço, ainda quente, de u m ano duro
mas inesquecível. Tantas foram as coisas novas que me entraram pela cabeça dentro, que o difícil v a i ser ordená-las, desenlear o novelo que foram formando. Tenho quase a sensação
física de que se acotovelam n a memória p a r a chegar 'à superfície', como se temessem que eu as perca de vista ou que as
recalque p a r a quaisquer profundezas da consciência. Mas ao
mesmo tempo pressinto que todas elas de algum modo se completam, que não são ideias isoladas, que é possível apanhar-lhes as inter-relações essenciais, assim eu seja capaz.
Surge-me, antes de mais, a imagem de u m país dominado
('ocupado', n a expressão de um militante político local), num
sentido tão forte, tão violento — e tão óbvio — que nenhum livro ou panfleto revolucionário alguma vez mo poderia sequer
sugerir, não tivesse eu nele vivido. País que viu os seus imensos llanos, fonte suficiente da sua própria alimentação, abandonados em poucos anos pela miragem dos dinheiros do petróleo, e se vê hoje obrigado a importar o que come, que lhe chega, em boa parte, enlatado pelas prósperas indústrias do
'Grande Vizinho do Norte', o mesmo que lhe veio explorar o
oiro negro, com ele se abastece e faz incalculáveis lucros. A
canção famosa A l m a llanera espécie de segundo hino nacional, pouco mais é agora do que o reflexo nostálgico de quem
T
102
continua a fantasiar intermináveis rebanhos e searas, retrato
cada vez menos fiel de u m país sugado pelas quimeras das
grandes cidades do litoral, onde se amontoam em miseráveis
ranchitos os antigos camponeses, sonhando com os dólares
que um dia virão, de qualquer milagroso 'serviço', ainda que
pouco limpo, ou de qualquer aposta, onde repetidamente se
gasta o pouco que há. O americano põe e dispõe, como quer:
leva o petróleo, alimenta o comércio de importação (tudo se
importa!), gere a corrupção que se generalizou, distribuindo
fortunas pelos mais fiéis e deixando cair alguns dólares pela
sofreguidão dos restantes, instala e abate governos por interpostos militares bem oleados — e, de há uns anos para cá, até
se revê n u m a 'exemplar democracia', em que apenas são mais
uns quantos os que se sentem com direito ao quinhão. 0 preço
é irrisório, comparado com o efeito de propaganda conseguido
pelo generoso protector, bandeira tão útil para u m a moribunda
'Aliança p a r a o progresso', cujo crédito é pouco, com tantos ditadores sentados à mesma mesa. O que é a violência do crime,
que enche diariamente as páginas dos jornais, face à violência
da própria sociedade em dissolução, a que só a brutalidade policial consegue dar u m a aparência de ordem? Odeia-se os americanos, como nunca v i odiar nada nem ninguém, mas, à semelhança do escravo, sabendo-se que deles se depende sem
remissão. Adopta-se-lhes os modos, os O. K. e os ali right, a
coca-cola, o vestuário, os programas de televisão, imita-se-lhes
os arranha-céus, os hotéis, os bares e os clubes privados: dia
a dia u m a 'cultura de F a r West' ganha terreno à cultura crioula. Já ouvira falar do imperialismo americano, agora vi-o — e
não vou esquecer.
Depois vem a fábrica. Palavra r a r a n a boca dos economistas, mais habituados aos gabinetes e corredores das administrações de empresas, onde se ocupam dos dinheiros, das contas, das estatísticas. E m G., pelo contrário, a fábrica era o local e o centro de tudo. Na fábrica era a minha secretária, n u m
pequeno espaço onde outras havia, da fábrica nos vinham
constantemente, pelas paredes de tabique, pela porta guardavento, sons metálicos, vozes, o bafo quente do forno. À fábrica
103
tinha eu de ir a toda a hora. Porque imaginara uns quantos
papéis para registo de dados, de matérias-primas, da produção, dos armazéns, e havia que ensinar a preenchê-los, que ir
recolhê-los e comentá-los regularmente. Porque, tarefa pouco
comum a economistas, me encarregaram de organizar as
expedições, e por isso tinha de programar os circuitos dos
camiões, e diariamente orientar as operações de carga, para
evitar depois, em cada paragem, perigodas ginásticas p a r a libertar os caixotes que aí deveriam ficar. Dentro da cerca da
fábrica eram, por fim, as duas casas pré-fabricadas destinadas, uma ao peruano, a outra a nós os dois. Vivia-se, pois, n a
fábrica, dia e noite, e ainda bem, digo-o agora, pois não foi coisa que n a altura me agradasse.
Cedo aprendi que, para os trabalhadores naturais do país,
os m'siús, todos eles, operários ou dirigentes, eram os que iam
ali amealhar, eram todos iguais, não mereciam qualquer confiança. E como não havia de ser assim, se, fosse qual fosse a
sua qualificação, o seu posto de trabalho, o seu merecimento,
o europeu ganhava o triplo do operário local? Se era mais do
que óbvio que, para a administração, eram os europeus os
seus fiéis, se não os seus informadores? Concluí, em pouco
tempo, que h a v i a ali como que u m a 'ordem colonial' a distorcer a 'ordem natural das coisas'.
0 melhor exemplo disto foi quando, sem dar cavaco, convencidos pelos europeus de que a empresa ia ser vendida e,
indefesos, perderiam as (poucas) regalias sociais, 23 trabalhadores requereram à inspectoria do trabalho a constituição de
um sindicato de empresa e a imediata discussão de u m projecto de contrato colectivo. O que se seguiu levaria páginas a descrever: o pânico da administração (o Pato estava por lá n a altura); o inspector que tinha mudado há pouco e ainda não estava a receber 'luvas'; a ideia de despedir de imediato meia
dúzia dos signatários (o que a lei proibia, até estar concluído o
processo); a descoberta, pela própria empresa, de que tinha
estrangeiros a mais, tendo conseguido 'ser intimada' a correr
com eles, reduzindo assim as assinaturas a u m número insuficiente (dizendo, entretanto, aos europeus atingidos que 'era só
104
enquanto as coisas não se resolvessem'); a admissão de mais
dois naturais 'amarelos', familiares do assessor jurídico, para
aumentar o peso dos anti-sindicato; as conversas, muito compreensivas, com os da terra, dizendo ser tudo 'culpa dos europeus', e vice-versa, ameaçando com u m corte n a habitual 'distribuição de lucros' e acenando com um contrato outorgado pela própria empresa; a inclusão no conjunto do pessoal dos dirigentes da empresa (os três recém-chegados), para fazer aumentar o número de assinaturas necessárias. Enfim, como era
de esperar, tudo 'acabou em bem', não houve sindicato e foi
aprovado o contrato proposto pela empresa. Ficou-me u m
amargo de boca: tive de assinar onde me mandaram e dar a
força dessa assinatura à corrente anti-sindicalista. Mas, pergunto-me ainda, que outra coisa poderia fazer? Não o fazer seria u m daqueles quixotismos que não aproveitaria a ninguém.
Nem sequer ganharia, com isso, a confiança dos trabalhadores: simplesmente não perceberiam, ou talvez até desconfiassem ainda mais. Corrupção dos inspectores e do próprio sindicato, advogados bem pagos e com influências nos Ministérios
— isso chegava p a r a que estivesse escrito o resultado daquela
luta, com ou sem a m i n h a assinatura. E , sem ela, restava-me
procurar u m exílio qualquer, pois os meus patrões não deixariam de informar 'quem de direito' em Portugal de que iria
chegar em tal avião u m 'indivíduo politicamente suspeito'. Não
estava preparado p a r a isso, pelo que procurei serenar a consciência com a ideia de que a lição fora valiosa e dela viria a
aproveitar mais tarde, quando já não 'estivesse sozinho e impotente'. Ou seja, concluo agora, contra este sistema só é possível combater organizadamente.
Falei, até aqui, de experiência vivida e, ainda assim, quase
só daquilo que é descritível. Não saberia encontrar as palavras certas — talvez só u m poeta, mas os poetas não conhecem fábricas! — p a r a transmitir sensações, emoções, 'estados
de alma' que nos percorrem ao ver corpos contorcidos, os
músculos iluminados como num teatro, que extraem de um
forno u m a pasta incandescente, ao observar o inferno dos gestos repetitivos, desumanos, de quem é pago 'à peça' e sabe
105
que cada movimento, inexoravelmente, é u m a côdea mais na
mesa familiar ao fim do dia, ao estremecer de cada vez que
um homem, artista de circo sem o saber, habilmente transporta uma finíssima chapa translúcida, esquecendo que ela o deixará em sangue se qualquer minúsculo defeito a desfizer em
pedaços — e eu v i isso acontecer. Mas também quando vários
operários da mesma imensa família, do mesmo imenso bairro
de lata, meticulosamente partilham u m a única banana, ou
quando u m deles se faz substituir uns meses por qualquer primo ou amigo há muito sem emprego, mas também com filhos
para criar; ou ainda quando outro aproveita o ruído pendular
de u m a máquina p a r a nela ritmar com os dedos u m a canção
crioula que, por momentos, o faz evadir dali. E interrogo-me
se, alguma vez, nalgum lugar, será possível eliminar, atenuar
ao menos, toda esta violência que presenciei, naquilo a que
abstractamente chamam 'trabalho», e a que tanta virtude se
atribui.
Falei de experiência vivida, mas teria talvez falado de outro modo, não fora a sorte de me v i r e m parar às mãos, por
mero acaso, alguns livros 'providenciais'. Um deles emprestoumo o meu colega engenheiro, u m amigo lho metera n a mala à
última hora e, dissuadido pelas centenas de páginas do volume, ele não tivera coragem de lhe pegar. Estes Dias Tumultuosos, edição de 1946 retirada do mercado, é o relato, feito por
um jornalista holandês, de várias missões em 'áreas quentes',
ao serviço de u m diário canadiano. Passeia-nos, sem piedade,
pelas trincheiras da l . Guerra, pela baixa política europeia
dos anos 20, pela Palestina, pela Alemanha em vias de se entregar à vertigem hitleriana, pela Itália de Mussolini e pela
'conquista' da Etiópia, pela guerra de Espanha, pela complacência das 'democracias europeias' que desemboca em Munique e n a queda da França em 1940. 0 homem está longe de
ser u m revolucionário, é mesmo u m bom e devoto protestante,
mas o livro, esse, é simplesmente explosivo. 0 espectáculo das
negociatas, das manobras de bastidores, dos oportunismos, da
manipulação permanente dos cidadãos — não só nos regimes
â
106
totalitários, onde isso é 'natural', mas nas mais respeitáveis
democracias —, da íntima conivência entre políticos, militares,
industriais e financeiros, n u m a palavra, o espectáculo do poder e dos lucros comandando a paz e a guerra, presidindo aos
massacres e às misérias de milhões de seres humanos: é este
o tema, vigorosamente esmiuçado, de um livro que nos deixa
sem fôlego. Mas com as ideias bem mais claras. Talvez mais
inquietos. Sem alibis.
Outro livro, dei com ele n u m a daquelas prateleiras pouco
frequentadas da livraria francesa que descobri n u m a das r a ras vezes em que consegui dar u m salto à capital e apanhar
as lojas abertas, pois era habitual trabalhar-se ao sábado até
às 5 ou 6 horas da tarde. Chamava-se Tolstoi e Gandhi, e ainda estou p a r a saber o que me levou a comprá-lo, tão pouco me
diziam então esses nomes. Descobri aí o antimilitarismo e o
pacifismo mais intransigentes, fundados n a não violência original dos textos sagrados do cristianismo, já que de Gandhi, neste livro, apenas aparecem algumas cartas que escreveu, n a
sua juventude, ao grande patriarca russo. É, acima de tudo,
uma crítica meticulosa e radical à hierarquia ortodoxa e à forma como ela colaborava sem pudor com os poderes políticos e
militares, levando os seus rebanhos de crentes a aceitar a violência e a guerra como 'coisas naturais'. Não retirei da leitura
qualquer convicção 'não-violenta', não me pareceu adequado o
método de, em qualquer situação, 'oferecer a outra face'. Pelo
contrário, dei u m passo mais p a r a compreender que, face às
poderosíssimas instituições que 'nos governam', só resta o caminho da violência de sinal contrário. Por isso me precipitei,
logo que pude, p a r a a mesma livraria, à procura de outro livro da mesma colecção, anunciado n a badana do primeiro, esse sobre Ghandhi e M a r x — e de M a r x ia-me chegando notícia
através de comunicados de partidos revolucionários locais,
sempre truncados nos jornais, e de publicações com que dava,
uma vez por outra, nas idas à capital. Lá estava o livro, arrumadinho n a mesma prateleira. Nele se falava bem mais no líder indiano do que no teórico alemão, contrapondo-se sempre
107
as virtudes da 'não violência' de u m aos malefícios da 'violência necessária' do outro. Duvido mesmo que estejam expostas
com algum rigor as teses de M a r x , mas chegou; é aí que eu terei de ir buscar o que me falta ainda».
108
10 de Fevereiro — C u l t u r a que «dá de comer» e c u l t u r a que «dá
de viver» — ou a distinção entre o profissional d a c u l t u r a e todos
aqueles que, tendo acesso à c u l t u r a (no sentido restrito: l i t e r a t u r a ,
arte, filosofia, ciência, debate de ideias, em geral), dela se servem
p a r a dialogar consigo próprios, p a r a tentar apreender o m u n d o ,
p a r a pautar os seus gestos e dizeres quotidianos. Os segundos vêem
u m q u a d r o , o p r i m e i r o vê e classifica. P a r a os segundos, u m livro 6
prazer e procura, p a r a o p r i m e i r o é, também, u m a ficha
bibliográfica. E n q u a n t o p a r a os segundos u m a citação será apenas u m suporte
do seu próprio pensamento, p a r a o p r i m e i r o ela é, também, u m instrumento do seu ofício. Os segundos, porque têm o tempo limitado,
escolhem o que vêem e o que lêem, em função das suas ideias, dos
seus interesses vitais, o p r i m e i r o procurará ver e ler tudo o que tenha relação com sua especialização,
se não mesmo tudo o que for
possível da c h a m a d a «produção cultural». Posto isto, é claro que t o dos são gente, todos vivem, e nada me move contra os profissionais
da c u l t u r a — u m a boa p a r t e , de resto, do que os outros vêem e lêem
foi p o r eles p r o d u z i d o . M a s é u m facto que o seu diferente r e l a c i o n a mento com os «objectos culturais» pode (embora não necessariamente) ter algumas interessantes consequências. Quero dizer que, e n quanto os amadores têm mais sólido o estômago, pode acontecer que
os profissionais tenham mais sólida apenas a argumentação. Isto
porquê?
Atinge-se o estado adulto quando se começa a d i s c o r d a r f u n d a mentalmente daquilo que se vê, se lê, se observa: isto é, quando já
se escolheu u m corpo mínimo dc ideias que se ajustam à experiência
109
i n d i v i d u a l e à informação (no sentido mais amplo) até aí disponível.
D a q u i se passa ao processo de construção, p e d r a a p e d r a , do edifício ideológico que nos v a i p a u t a r o viver quotidiano, os projectos, a
selecção de novas fontes de informação. Sem que demos p o r isso, esse corpo de ideias, essa grelha de análise (como hoje se diz) do que
nos r o d e i a , vai-nos passando ao «estômago», e é este que p o r vezes
reage, irracionalmente n a aparência, a homens, ideias e situações.
N o entanto, quando digo «o Cavaco dá-me volta ao estômago» (ou o
Reagan, ou a Thatcher) não estou a e x p r i m i r n a d a de intuitivo ou
i r r a c i o n a l : sem necessidade de q u a l q u e r sábia formulação, a expressão traduz a m i n h a repugnância ao que o homem d i z , f a z , representa. E esta descida ao estômago que, no homem m a d u r o , t o r n a difíceis as radicais reconversões ideológicas. A s ideias irão m u d a n d o ,
adequando-se a u m m u n d o que, ele próprio evolui rapidamente d u rante os 40 ou 50 anos de u m a v i d a a d u l t a . A s r u p t u r a s são possíveis, c l a r o , mas, de boa-fé, são r a r a s : o reconvertido terá sempre d i ficuldade em explicar a mutação, em m u d a r de argumentação de u m
dia p a r a o outro — até p o r q u e o estômago lhe causará problemas.
N o caso dos profissionais da c u l t u r a , e não pretendo de alguma
forma generalizar, tudo c mais fácil. E t a l a abundância e d i v e r s i d a de da sua informação, a habituação profissional às numerosas d o u trinas em confronto, que o seu corpo de ideias próprio está sempre
sujeito ao desafio de argumentações contrárias, p o r vezes aliciantes.
Daí que possa acontecer n u n c a se chegar a d a r a t a l descida ao estômago: tudo se passa ao nível da razão, e esta muitas vezes não está
escudada p o r u m a inserção social que p e r m i t a u m conhecimento do
mundo «material» dc experiência feito. O exclusivo c i r c u l a r pelas b i bliotecas, pelos anfiteatros, p o r congressos, p o r doutoramentos, p o r
gabinetes de investigação, p o r lançamentos de livros ou vernissages,
pelas intrigas universitárias ou do establishement c u l t u r a l — não
a j u d a . A s tentações d a influência política (ou mesmo do poder), da
c a r r e i r a («cultural», se possível), do «andar nas bocas do m u n d o » ,
encontrarão u m terreno propício. E serão sábias, cheias de novas c i tações, as argumentações encontradas p a r a cada «mudança ideológica», por mais r a d i c a l que seja.
Nos mais recentes realinhamentos políticos, e em muitos outros
que virão, d a classe intelectual portuguesa, é fácil encontrar múlli110
pios exemplos deste processo. Como muitos outros em que isso não
aconteceu.
R e l i há tempos o prefácio de B a u d c l a i r e às Histórias
Extraordinárias de P o e . D i z ele, a certo passo: «Entre a vasta enumeração
dos direitos do homem que a sabedoria do século X I X tão frequente
e complacentemente r e t o m a , dois muito importantes têm sido esquecidos: o direito a contradizer-se e o direito de partir». E m b o r a só
deste último se ocupe, pois é sobre o suicídio que escreve (o «quasesuicídio» de P o e , n a sua expressão, mas outros também), o p r i m e i r o
poderá d a r que p e n s a r . E x i g i r que, em nome da razão, as ideias e os
comportamentos humanos sejam perfeitamente coerentes, lógicos,
previsíveis é algo que releva d a mais p u r a ideologia burguesa, e que
tem a sua expressão limite nas teorias do equilíbrio económico, em
que se supõe ser assim que se c o m p o r t a m os agentes económicos n u m
mercado l i v r e e c o n c o r r e n c i a l . O direito a contradizer-se, a não f a zer e dizer sempre e apenas «aquilo que (em toda a lógica) esperam
de nós», é algo inerente à nossa l i b e r d a d e , à nossa c r i a t i v i d a d e , à
nossa inteligência. O intelectual que v a i vestindo sucessivas r o u p a gens ideológicas nunca se contradiz. Q u e m se c o n t r a d i z , e assume
isso como u m a l i b e r d a d e , é q u e m , p o r t a d o r do tal «corpo dc ideias»
que laboriosamente v a i tecendo, faz da v i d a uma incessante busca
— de si próprio e dos outros. È fácil encontrar contradições n u m
Rousseau, n u m M a r x , n u m S a r t r e . E n t r e nós, n u m Sérgio, n u m
E d u a r d o Lourenço. Os cataventos ideológicos que povoam os nossos
semanários, esses, a c h a m que só m u d o u o mundo — eles, não.
21 de Fevereiro
— D c novo me enganei nas eleições — e ainda
bem!
De novo f u i v o t a r , no Soares, o «estômago» bem o s e n t i u . . . T e rão, a f i n a l , sido decisivos os que «não pensaram pela própria cabeça»? Penso que não. Eles t e r i a m , perante a ameaça f r e i l i s t a , votado
no Soares fossem quais fossem as directivas do p a r t i d o . M a s isto restitui-mc, a u m tema delicado, que me interessa há muito: a ideologia
face aos problemas concretos d a prática política, os «grandes princípios» face às situações em que, tantas vezes, temos dc tomar p a r t i do. B e m me lembro da perplexidade que causei em certo colóquio
111
(Costa Gomes foi dos que mais reagiu...),ao a b o r d a r questões como
as da paz e da violência: posso dizer de boa-fó que sou, por princípio, contra toda e qualquer g u e r r a , contra toda e q u a l q u e r violência? Terá isso algum sentido quando existem guerras de libertação,
quando nos lembramos do Vietname? Posso negar que sou mais tolerante com a violência e repressão de regimes ou movimentos «de esquerda» do que com as de u m P i n o c h e t ou aparentados? Isto c assim, ainda que eu não seja capaz de dizer onde estão os limites entre
a violência tolerável e a intolerável, e isso me p e r t u r b e . E que tudo
começa antes. D i z i a há tempos u m filósofo do direito, M i c h e l V i l l e y :
«Uma noção tão complexa como 'o direito dos povos a disporem de
si próprios' não quer dizer grande coisa: a quem a aplicaríamos, a
Israel ou aos Palestinianos?» E u respondo: primeiro
escolhemos,
ideologicamente, Israel ou os Palcstianos, só depois aplicamos o
princípio. Não há outra saída, a não ser estar condenado a n u n c a
tomar p a r t i d o . Retomo o que d i z i a há dias a propósito da c u l t u r a :
antes de tudo, está a weltanschaung,o
o l h a r que formámos sobre o
que nos r o d e i a , a ideologia. Daí decorre tudo o resto: e tudo o resto
não é necessariamente coerente, nem lógico, nem científico, n e m
«limpo». S o b r e t u d o , coloca-nos o interminável dilema dos meios e
dos fins, p a r a o q u a l , q u e r se queira quer não, não há solução científica, independente da ideologia. A partir de que ponto, os meios
negam os fins? E s s a a grande questão.
24 de Fevereiro — A s s i m como sempre a b u n d a r a m os marxistas
que n u n c a l e r a m M a r x , muitos dos neoliberais nunca lerão lido o
grande filósofo da burguesia ascendente, u m dos pais do liberalismo
político, J o h n L o c k e . P o r q u e se o fizessem não f a l a r i a m da p r o p r i e dade sem limites como de u m direito natural. E tão pouco rejeitar i a m a ideia, que talvez reputem m a r x i s t a , de que só o trabalho c r i a
valor e confere naturalmente direito à p r o p r i e d a d e . A vontade d i v i na e a razão conjugam-se n a argumentação de L o c k e sobre os f u n d a mentos da p r o p r i e d a d e e do v a l o r .
O homem que, nas terras sem fim do estado n a t u r a l , se alimenta
de bolotas ou de maçãs, apropria-se delas. P e r g u n t a L o c k e : «Quando é que as coisas que come começam a pertenecr-lhe?» E responde
112
de imediato: «O seu trabalho distingue e separa esses frutos de o u tros bens que são comuns; ele j u n t a algo mais àquilo que a natureza,
a mãe comum de todos, neles pôs; e p o r isso eles se t o r n a m seu bem
p a r t i c u l a r [...] 0 trabalho, que é m e u , colocando essas coisas fora
do estado comum, fixou-as e tornou-as m i n h a propriedade». M a s ,
interroga-se de n o v o , terá ele o direito de colher quantos frutos q u i ser? «Respondo que não terá esse direito. P o i s a mesma lei da natureza que dá esse direito p a r t i c u l a r sobre esses frutos, também lhe
impõe limites.» C o m efeito p a r a que f i m nos deu «Deus todas as coisas em abundância»? Responde: «Para que as possamos fruir. A r a zão diz-nos que a p r o p r i e d a d e dos bens adquiridos pelo trabalho deve estar l i m i t a d a ao b o m uso que deles façamos, p a r a nossa v a n t a gem e comodidade. Se passamos os limites da moderação e se tomamos mais coisas p a r a além das que necessitamos, estaremos a exceder a parte que nos cabe e a tomar o que pertence aos outros». O
mesmo quando se trata da t e r r a , de t a l modo abundante, no entanto, que «ao a p r o p r i a r - s e dc u m certo pedaço de t e r r a , ninguém p r e j u d i c a seja quem f o r , pois sobra sempre bastante e igualmente b o a ,
mais do que a necessária p a r a qualquer homem que ainda a não
possua». E quanto aos limites: «Seja como f o r , ouso defender que a
mesma medida e a mesma regra de p r o p r i e d a d e , isto é, que cada u m
deve possuir tantos bens quantos necessários
à sua
subsistência
[aqui o sublinhado é m e u ] , podem aplicar-se hoje, e poderão sempre
aplicar-se, sem que ninguém seja incomodado e sujeito a carências,
pois há t e r r a suficente p a r a outros tantos habitantes.» Mais adiante,
Locke precisa: «O excesso de p r o p r i e d a d e não consiste n a extensão
daquilo que se possui, mas no apodrecimento e no desperdício dos
frutos que daí provêm.» C o m isso justifica que se possa p r o d u z i r
mais do que se necessita, desde que se troque os excedentes, antes
que apodreçam, p o r outros bens necessários à vida. Diferentes terras ou diferente empenho ou habilidade em cultivá-las estão, pois,
n a origem d a «primeira desigualdade», muito limitada pelas possibilidades de troca. E n f i m : «tal como diferentes graus dc indústria [esforço, h a b i l i d a d e ] d e r a m aos homens propriedades
em diferentes
proporções, a invenção do dinheiro deu-lhes ocasião de aumentar
continuamente os seus bens particulares.» «Desde que o ouro e a
p r a t a , p o r natureza tão pouco úteis à v i d a do homem, c m relação à
113
alimentação, ao vestuário e a outras necessidades, receberam u m
certo preço e u m certo v a l o r , apenas p o r consentimento dos homens
[...] é claro que os homens a c o r d a r a m em desproporcionar e desigualar a p r o p r i e d a d e d a t e r r a , p o r terem encontrado, p o r tácito e
voluntário consentimento, o meio pelo q u a l o homem pode justamente possuir mais do que aquela cujos produtos pode c o n s u m i r , recebendo ouro e p r a t a em troca do excedente, já que os metais não se
estragarão nas suas mãos». Que evolução resultou d a q u i , ao sair do
estado n a t u r a l p a r a o estado «social», assente n u m acordo entre os
homens? «Primeiro, os homens, n a sua maior p a r t e , contentavam-se
com o que a p u r a e simples natureza fornecia p a r a as suas necessidades. Depois, em certos lugares do m u n d o , porque f o r a m demasiado povoados e porque se começou a usar d i n h e i r o , a terra tornou-se
r a r a , e p o r isso aumentou o seu v a l o r , as sociedades passaram então
a distinguir os seus territórios p o r meio de vedações, e a fazer leis
p a r a regular as propriedades de cada u m dos seus membros; e assim, p o r acordo e p o r convenção, foi estabelecida a
propriedade,
que o trabalho e o espírito empreendedor t i n h a m já começado a estabelecer».
Estava-se a i n d a nos puritanos tempos do capitalismo nascente:
só o trabalho dá direito à p r o p r i e d a d e e esta tem naturalmente
limites; a convenção do d i n h e i r o , acto social, não natural, está n a o r i gem do extremar, sem limites, da desigualdade de propriedades.
L o c k e escreve como se quisesse l i b e r t a r Deus deste acto f u n d a d o r de
u m a humanidade que perdeu a inocência, e p o r ele assumiu a avent u r a da opulência e d a miséria. Não que L o c k e p o n h a minimamente
em causa a legitimidade desta convenção, pelo contrário, pois daí
parte p a r a a sua construção jurídica do Estado de direito. M a s é ó b vio que não subscreveria o seco «Enriquecei!» de G u i z o t : d i r i a , t a l vez: «Enriquecei, mas sem p r e j u d i c a r o próximo!», o que nessa a l t u r a poderia p o r v e n t u r a não ser hipócrita.
Basta c o m p a r a r com o que, dois séculos mais tarde, escreve
T h i e r s , em p l e n a explosão do capitalismo i n d u s t r i a l europeu, sobre
o mesmo tema. «Em todos os povos, p o r muito primitivos que sejam,
encontra-se a p r o p r i e d a d e , p r i m e i r o como u m facto, depois como
uma ideia, ideia mais ou menos c l a r a segundo o grau de civilização a
que chegaram, mas sempre invariavelmente estabelecida.» «Ás r c 114
gras instintivas desse estado p r i m i t i v o , as mais rudimentares de todas, as mais gerais, as mais necessárias, podem bem ser designadas
por direito n a t u r a l . O r a a p r o p r i e d a d e existe desde esse momento
[...]». P o r q u e é (ou se torna) desigual a propriedade? A p r i m e i r a
das desigualdades está nas próprias faculdades humanas, cuja « p r o priedade é desigual, pois com certas faculdades este fica pobre toda
a v i d a , com outras aquele torna-se rico e poderoso [...] E u , que me
reporto aos factos observáveis p a r a auscultar a vontade de Deus, i s to é, as leis da criação, declaro que, se o homem é desigualmente dotado, Deus quis p o r certo que ele tivesse desiguais fruições [...] T e rei de confessar que é ele o p r i n c i p a l culpado, o p r i n c i p a l autor do
m a l , se m a l há, nas desigualdades que estaríeis dispostos a l a m e n tar». M a s T h i e r s não l a m e n t a , nem se l i m i t a a constatar: «Aquele
que, entregando-se ao seu gosto, à sua habilidade p a r a o t r a b a l h o ,
se expõe, ao tornar-se mais r i c o , a despertar a vossa i n v e j a , c o n t r i b u i u p a r a a prosperidade c o m u m , nomeadamente a vossa. Se, g r a ças aos seus esforços, há mais cereais, mais f e r r o , mais tecidos, mais
ferramentas, mais d i n h e i r o , há mais de tudo isso p a r a todos. A
abundância que c o n t r i b u i u p a r a c r i a r é em proveito da h u m a n i d a de, e se a sociedade lhe permite crescer, a i n d a que daí resultasse
uma desigualdade face a outros que t r a b a l h a m p i o r , ela permite-o
porque a prosperidade geral cresce à medida d a sua própria prosperidade.»
A linguagem não ó já a de u m filósofo que p r o c u r a definir os
fundamentos e os contornos de u m a sociedade n o v a em formação —
e da classe em ascensão que nela deterá o poder. E a de u m político,
de u m panfletário, que escreve c m 1848, o ano de todas as r e v o l u ções, e que p r o c u r a d e s c u l p a b i l i z a r as suas «tropas», assediadas j á
pelos primeiros assaltos da ideia socialista. E m 1871 prestar-lhes-á
u m bem mais útil serviço, esmagando a C o m u n a de P a r i s .
Que pensarão de tudo isto os que t r a b a l h a m u m a v i d a inteira e
nunca passam d a propriedade «original»: a de si próprios e das suas
faculdades — p o r certo insuficientes p a r a c o n t r i b u i r p a r a a prosperidade geral...? M a s o que terão feito eles esses longos anos senão
c o n t r i b u i r p a r a algumas «propriedades particulares»? E os que e n riquecem aplicando dinheiro n a c o m p r a de papeis (ironicamente
chamados «acções»), mesmo u m T h i e r s , que excepcionais faculdades
115
lhes encontraria? E os países d a fome, onde, em tantos eles, a i n d a
existe t e r r a em abundância e, p o r t a n t o , ela deveria s o b r a r p a r a assegurar, ao menos, a subsistência de cada u m — o que d i r i a L o c k e
dessa «irracionalidade»?
Aos neoliberais do nosso tempo, n a d a disto interessa: são p r a g máticos, n a d a de teorias, a não ser a r u d i m e n t a r cartilha de que a
iniciativa i n d i v i d u a l é a chave de tudo — a começar pela d a sua p r ó p r i a c a r r e i r a , e f o r t u n a . Não lhes ocorre sequer que, sem t r a b a l h o ,
ou de f o r m a obviamente d e s p r o p o r c i o n a d a em relação aos que t r a b a l h a m , possam estar a a p r o p r i a r - s e de r i q u e z a gerada pelos que
trabalham e, p o r efeitos da discriminação social (incluindo a do
meio em que nasceram) e política, n u n c a passarão além da subsistência, ainda que possam ter u m frigorífico, u m a T V a cores ou mesmo u m video, tudo a prestações.
25 de Fevereiro — Registo a reacção da C I P / F e r r a z da Costa à
eleição de Mário Soares: «profundamente abalada a confiança dos
agentes económicos (lcia-se: empresários — J M P ) , o que os levou a
anular ou a d i a r muitos projectos de investimento» (DN 23-2-86)! D e cididamente, os homens estão com a z a r . Já não investiam p o r causa
da Constituição (mesmo sem Conselho da Revolução), p o r causa da
lei l a b o r a l , e agora mais esta. Fica-se, ao menos, a saber que p r o j e c tos não lhes f a l t a m . . .
27 de Fevereiro — Desabou na semana passada o prédio onde
v i v i desde os 7 aos 33 anos. N a fotografia do j o r n a l reconheço os
restos de alguns dos cenários das minhas b r i n c a d e i r a s . E , no entanto, curioso que não me tenha particularmente emocionado o facto.
Talvez p o r ter sido, esse, com exclusão dos quatro anos que andei
pelo estrangeiro ( A l e m a n h a , Áustria, Venezuela, França), o p i o r
tempo da m i n h a v i d a . A s cruzes de papel nas vidraças pintadas de
azul e as bichas do r a c i o n a m e n t o , durante a g u e r r a , as querelas dos
meus pais, as faltas dc d i n h e i r o , as idas às casas de penhores, o peso
de terem feito dc m i m (a m i n h a mãe) a imagem dc u m «pequeno génio», a incontrolável timidez adolescente, a saída do meu p a i , d e i -
116
xando-me (ainda n a tropa) a responsabilidade pelo sustento da famíl i a , as involuntárias prepotências maternais, as dificuldades de enfrentar os outros, de «crescer» — chega p a r a que a memória dessa
casa seja, à distância, a de u m a grande angústia, se não mesmo a de
uma prisão. N e n h u m dos meus amigos de hoje, n e n h u m dos afectos/
amores que «contaram» (excepto u m , no estrangeiro), d a t a m desse
tempo, ou d a t a m , quando m u i t o , dos últimos dois ou três anos que
ali v i v i . E o que nele houve de b o m , quase n a d a está associado a esse
imenso c o r r e d o r com portas de u m lado e de o u t r o , que era o meu
habitat q u o t i d i a n o : os amigos do colégio, os jogos de futebol, u m a
colónia de férias n a P r a i a das Maçãs, os sucessos escolares, a a c t i v i dade n a Associação de Estudantes, as viagens, enfim. Digo quase,
porque não posso esquecer três idosas vizinhas cujas traseiras d a v a m p a r a as nossas, u m fio com u m cesto pendurado fazendo u m
vaivém de m e r c a d o r i a s , remédios e Modas & Bordados entre as
duas v a r a n d a s , e que f o r a m p a r a m i m u m pouco como os avós que
não tive: nos seus livros e gravuras antigos, nos postais que, muitos
anos atrás, lhes t i n h a m mandado irmãos marcantes de todos os c a n tos do m u n d o , treinei a curiosidade e a imaginação, nas suas histórias, gestos e guloseimas conheci a t e r n u r a sem contrapartidas que é
o segredo dos velhos.
M a s f o r a m precisas as longas ausências lá p o r f o r a , já depois
dos 25 anos, p a r a c u começar verdadeiramente a p e n s a r , a ler a q u i lo que veio a ser decisivo p a r a a m i n h a formação, a l i b e r t a r a cabeça e os sentidos. P o u c o depois de deixar a velha m o r a d a que agora
abateu, e se coragem houve nisso foi apenas a de tentar salvar u m a
paixão sem remédio, entrei p a r a a Seara Nova, onde p u b l i q u e i os
primeiros artigos. Só quando me separei daquelas paredes comecei a
ser o que sou hoje — n a d a mais do que eu próprio.
14 de Março — O ridículo espavento da posse de Soares, com os
seus 2500 convidados escolhidos entre os «grandes deste mundo»,
faz-me l e m b r a r a famosa coroação do i m p e r a d o r B o k a s s a I , da R e pública C c n t r o - A f r i c a n a . U m reforço mais p a r a a tese, que tanto p a rece repugnar ao mesmo Soares, de que P o r t u g a l se parece muito
com u m país do 3. M u n d o . . .
9
117
A ministra grega d a C u l t u r a e Ciência M e l i n a M e r c o u r i , u m a
das convidadas, diz hoje ao DN que «Mário Soares é u m amigo de
longa d a t a , e t c , etc. A s nossas relações são muito próximas e temos
em comum o mesmo fanatismo pela cultura». E m p r i m e i r o l u g a r ,
acho notável a expressão «fanatismo pela cultura», que me parece
uma contradição nos termos, a não ser que por c u l t u r a se entenda (e
é isso que geralmente se entende...) o conjunto de objectos e de s i nais exteriores de que t r a t a m os suplementos culturais e de que se
ocupam os jornalistas culturais. O fanático d a c u l t u r a será então
uma espécie de coleccionador — de l i v r o s , de q u a d r o s , de discos, de
filmes, de citações, de tiques, de presenças em exposições, lançamentos de l i v r o s , e t c Neste sentido, talvez se possa aplicar a Soares t a l
epíteto.
M a s se p o r fanático da c u l t u r a se quer designar, e seria algo
mais aceitável, pese a infelicidade d a expressão, o homem atento a
todos os sinais (factos, ideias, reflexões, comportamentos, mensagens
artísticas, informação, em geral), como meios p a r a sofregamente i n dagar de si e dos outros, então acho espantoso que se possa ver Sores em semelhante pele. E m c o n t r a p a r t i d a , talvez fosse correcto c o n siderá-lo u m b o m exemplo de fanatismo pela superficialidade, o que
é mais ou menos o oposto. A i n d a há bem pouco, no seu debate televisivo com a Pintasilgo, mostrou não fazer a menor ideia do que foi
o M a i o de 6 8 . . . C u l t u r a e demagogia sempre se d e r a m m a l .
U m a pequena n o t a , jocosa, à margem da posse de Soares. Há
dias, o general A l m e i d a B r u n o (o do 16 de Março de 74), c o m a n d a n te da P S P , anunciou que a corporação estaria, este fim-de-semana,
totalmente m o b i l i z a d a p a r a garantir a segurança dos altos c o n v i d a dos de Soares. Óptimo aviso p a r a todos os pequenos e grande r a t o nciros desta cidade, que terão campo livre p a r a as suas a c t i v i d a des... E s t a fez-me l e m b r a r a do impagável Basílio H o r t a , pouco depois de ter chegado a ministro do Comércio, ao anunciar que em tal
data a fiscalização económica i r i a i n i c i a r u m a vasta acção j u n t o dos
comerciantes e armazenistas, não sei mesmo se precisando em que
áreas. N u n c a f o r a m revelados os resultados, mas não me s u r p r e e n deria que tivessem encontrado tudo na melhor o r d e m .
118
16 de Março — M e s a - R e d o n d a no Expresso sobre «Os novos c a minhos da Esquerda». E m torno do Vicente Jorge Silva e d a Teresa
de Sousa, moderadores, lá estavam António B a r r e t o , Jaime G a m a ,
E d u a r d o P r a d o C o e l h o , M e l o A n t u n e s , N u n o B r e d e r o d e , Guterres e
Espada.
O que retenho d a discussão como mais interessante — e i n q u i e tante ( p a l a v r a aliás muito usada p e l o . » participantes) — é o facto de
ser o mais novo, E s p a d a , o mais à d i r e i t a , e o mais velho, Melo A n tunes, o mais à esquerda. Aliás, só as teses de u m e de outro v e r d a deiramente se o p u n h a m . T u d o o resto andava p o r a l i a navegar u m
pouco à d e r i v a — e alguns dos presentes já a n c o r a r a m em demasiados portos, desde o P C P a Sá C a r n e i r o , e mesmo às águas c a v a q u i s tas, p a r a que saibamos onde acabará a sua navegação...
N a v e r d a d e , não dou ao E s p a d a muitos anos (até à próxima
campanha presidencial?) p a r a se passar com armas e bagagens p a r a
uma direita «moderna», «atenta aos problemas do nosso tempo». É
o único que se refere ao «arcaísmo marxista», o único p a r a quem é
obsessiva a necessidade de «desideologização da demarcação esquerda-direita» (mas como fazer então a demarcação, se não f o r c m termos ideológicos?), o único que claramente aposta n a «defesa da c i v i lização l i b e r a l , da sociedade aberta n u m a economia de mercado e de
livre empresa, a única sociedade em que esquerda e direita podem
viver em liberdade». C i t a apenas u m a u t o r , P o p p e r , p o r acaso também o filósofo de cabeceira de Freitas do A m a r a l . E , p r e p a r a n d o o
terreno (se me é permitido o processo de intenções...), é também o
único que l o u v a «o amadurecimento da sociedade portuguesa, p a r a
quem ser de direita começa a ser tão n a t u r a l como ser de esquerda».
E u pergunto: como é possível alguém dizer-se de esquerda e mostrar-se tão satisfeito com u m a sociedade cm que i m p e r a a desigualdade e a exploração, em que obviamente o domínio político pertence
à escassa m i n o r i a que detém o poder económico, cm que as o p o r t u nidades e «bem-estar» (incluindo o acesso aos níveis educacionais
mais avançados, à saúde e habitação condignas) estão reservados a
essa m i n o r i a e aos seus filhos? A c i m a de tudo como pode alguém d i zer-se de esquerda e achar que, n u m a tal sociedade, c tão n a t u r a l
scr-se dc esquerda como de direita?!
A propósito, repesco u m texto recente do Pacheco P e r e i r a , u m
119
dos sócios ideológicos do E s p a d a e, como ele, experimentado navegador vindo das paragens da extrema-esquerda, publicado durante a
campanha p a r a a 2. v o l t a das presidenciais. P o d e m ler-se pérolas
como esta: «Foi particularmente importante que Soares ganhasse
[na 1.' volta] ao mesmo tempo c o n t r a tudo o que de p i o r h a v i a nessa
área [a da esquerda]: o P C P , E u n c s , o P R D , e M . de L o u r d e s P i n tasilgo. O u seja, c o n t r a o comunismo, o frentismo dos compagnons
de route, o revanchismo a n t i - P S dos 'verdadeiros socialistas', o p o pulismo miserabilista, o racionalismo de esquerda, a extrema esquerda snobe d a animação c u l t u r a l — u m a soma impressionante de
coisas péssimas que se espera terem sido postas n a ordem p o r algum
tempo.» F a l o u cedo de mais: no preciso momento em que escrevia,
estava a c a n d i d a t u r a de Soares a tentar de todas as maneiras a t r a i r
todas essas coisas péssimas, sem cujo voto não poderia vencer, o
que, como se sabe, conseguiu. C o m tais desabafos, não a d m i r a que o
rapaz tenha estado completamente marginalizado durante a campan h a , coisa que bem lhe terá doído e não lhe teria acontecido se, a
tempo, se tem colocado nas hostes do «Prá frente, Portugal», onde
bem precisam de ideólogos destes.
8
120
Download