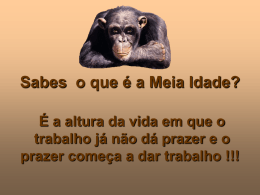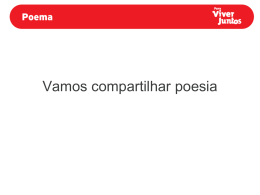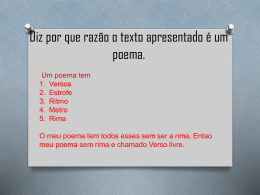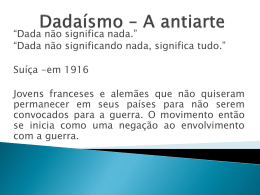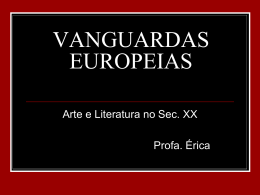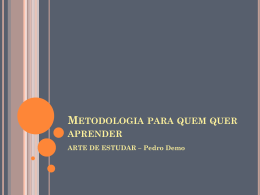O DESEJO E A MORTE EM FERNANDO PESSOA(S) Boa viagem!Boa viagem! A vida é isto. (Álvaro de Campos) O essencial é saber ver, Saber ver sem estar a pensar, Saber ver quando se vê, E nem pensar quando se vê Nem ver quando se pensa. (Alberto Caeiro) Aguardo, equânime, o que não conheço, Meu futuro e o de tudo. No fim tudo será silêncio, salvo Onde o mar banhar nada (Ricardo Reis) ABERTURA Um dia, escrevi um pequeno poema que intitulei Pessoa’s Last words, no qual ficcionava aquelas que, poderiam ter sido, as últimas palavras proferidas por Fernando Pessoa, numa cama do hospital de São Luís, em Lisboa, onde todos os seus “eus”, no dia 30 de Novembro de 1935, morreram sós. Era assim: Dêemme os óculos/Para ver a morte/Encarála de perto/E tocarlhe a alma/Num abraço forte/Para toda a vida. Ficção pura, naturalmente. No entanto, e sob a capa do seu heterónimo Alberto Caeiro, julga‐se que este pequeno poema tenha sido o último a ser ditado pelo poeta no dia da sua morte: É talvez o último dia da minha vida/Saudei o sol, levantando a mão direita/Mas não o saudei dizendolhe adeus./Fiz sinal de o gostar de ver ainda, mais nada. Na realidade, desconhecem‐se quais teriam sido as suas últimas e exactas palavras embora se saiba que a última frase que escreveu, na véspera da sua morte, tendo ficado registada para a eternidade na primeira língua em que o poeta escreveu, a inglesa, constituirá, porventura, a maior dúvida desde sempre presente no universo pessoal de cada ser humano: I know not what tomorrou will bring. Inadvertidamente, (mas não será este o verdadeiro advérbio de modo da vida?) reparei que conjugara naquele meu curto poema, dois temas pouco tratados, assim o julgava, na sua obra e vida: o desejo e a morte. Pessoa foi sempre um caminhante solitário que vivia intensamente, mas só por dentro de si mesmo, pelo que tudo o que lhe era exterior e acontecia fora de si, pouco ou nada lhe interessava, prendia ou sequer reparava. Era ainda uma criança de cinco anos quando o primeiro contacto com a mais dura das realidades, a morte, aconteceu. Primeiro o pai, com tuberculose e no ano seguinte, o irmão. Talvez, como mecanismo emocional de substituição, tenha criado nesse momento o seu primeiro heterónimo: Chevalier de Pas. Provavelmente, ter‐se‐á iniciado também aí, por força do impacto desse momento dramatico, o tal ponto de reunião de uma pequena humanidade como Pessoa se autodefiniu numa carta a Adolfo Casais Monteiro, no próprio ano da sua morte, e achando‐se por isso “tão louco como Shakespeare fora”. Um ser literário muito para além do normal, de excepção e verdadeiramente único, vários génios num só corpo, assim foi Pessoa, que, aliás, num dos seus muitos aforismos defendeu a não existência da noção de normalidade e que, por isso, todos os homens são excepções a uma regra que não existe. Numa vertiginosa sucessão de máscaras, de enigmas e de verdades, mais de setenta personagens habitaram aquela magra esfinge de bigodinho, um paradoxo vivo sempre torturado interiormente, cuja verdadeira biografia é a sua própria obra. “Um vulcão”, como lhe chamou António Quadros. Mas o próprio Pessoa, num dos seus poemas, tenta explicar a complexidade da sua Heteronímia e a génese do seu processo criativo: Não sei quantas almas tenho./Cada momento mudei./Continuamente me estranho./Nunca me vi nem achei./De tanto ser, só tenho alma./Quem tem alma não tem calma./Quem vê é só o que vê,/Quem sente não é quem é,/Atento ao que sou e vejo,/Tornome eles e não eu./Cada meu sonho ou desejo/É do que nasce e não meu./Sou minha própria paisagem,/Assisto à minha passagem,/Diverso, móbil e só,/Não sei sentirme onde estou./Por isso, alheio, vou lendo/Como páginas, meu ser/O que segue não prevendo,/O que passou a esquecer./Noto à margem do que li/O que julguei que senti./Releio e digo: «Fui eu?»/Deus sabe, porque o escreveu. E num outro poema acrescenta a mesma ideia já expressa no fim deste, envolvendo‐o com uma aura mais esotérica: Emissário de um rei desconhecido/Eu cumpro informes instruções do além,/E as bruscas frases que aos meus lábios vêm/Soamme a um outro e anómalo sentido... Mas, quanto aos temas da morte e do desejo que relações se conseguem estabelecer com Pessoa? Quanto ao primeiro são inúmeras as referências expressas na sua obra, depreendendo‐se algum temor e respeito pelo último momento da nossa vida, mas não se pode afirmar que Pessoa vivesse obcecado com a ideia da morte. Digamos que pensava subtilmente nela quando a desdramatiza em tom de brincadeira, Morrer é só não ser visto. Ou, quando com paciente resignação impregnada de alguma frustração, desabafa, Assim vivo já morto numa espera/Num intento adiado que se adia. Quanto ao desejo: Não tenho ambições nem desejos, dizia ele. Ora, se olharmos as diferentes faces do desejo, constatamos que quanto ao desejo sexual, pouco ou nada se manifesta, desvalorizando‐o até como algo de acidental e patológico, O amor é que é essencial/ O sexo é só um acidente./Pode ser igual/ou diferente./O homem não é um animal:/É uma carne inteligente/Embora às vezes doente; mas, já no que se refere ao desejo de reconhecimento, aqui e ali ele assoma em jeito de desabafo; o desejo da riqueza material, não, este de todo não existe; e, por fim, o duplamente prosaico e ambicioso desejo de... ser feliz, também nunca, de modo algum, e até pelo contrario, Cada dia da minha vida é o dia mais infeliz da minha vida. Talvez, porque a diferença entre desejo e prazer seja quase sempre imperceptível, as suas expressões desta sensação, estejam também ausentes da sua vida e da sua obra. Toda a nossa arte deve ser reduzir ao mínimo o doloroso elemento dos prazeres, escreveu referindo‐se àquilo a que chamava, um epicurismo feito de abdicações. Porém, no âmbito daquele seu conjunto de poemas conhecido por Poesia Inglesa, Pessoa no soneto a seguir transcrito, joga com os conceitos de prazer e de gozo, brincando com as palavras, através das diferenças entre o real e o imaginário: Nunca o gozo se goza na medida/em que a saudade o deseja ter gozado/nem dela a força, a imagem querida/que recorde em mente o prazer passado/Mas o gozo foi gozo ao ser gozado/e voltou a ser gozo em pensamento/gozo foi, antes do gozo acabado/gozo ainda, lembrado em sofrimento/Mas ai!tudo isto inútil, pois prazer/está só no prazer, não no pensar,/o reflectirse peca em refazer/O só reflexo que o real destrói./Quanto mais pensamos para provar/não dever pensar, mais gozo se foi. E, numa outra expressão naturalista, plena de simplicidade ingénua e generosa, estabelece uma analogia entre a felicidade vísivel na natureza e a ansiedade dos seus desejos por beijos de uma mulher: O sol feliz está a brihar/o campo é verde e contente/mas tenho o peito a ansiar/Por algo que está ausente/Anseia por ti somente/anseia por beijos teus/não importa se és fiel/A isto/o que importa és tu somente. Ou manifestando‐se através de desejo muito puro e inocente como o que é expresso nesta quadra: Loura de olhos dormentes/Que são azuis e amarelos/Se as minhas mãos fossem pentes/Penteavamte os cabelos. Mas a primeira manifestação da ligação desejo/morte em Pessoa encontramo‐la quando, ainda adolescente, vindo a Portugal de férias em 1901, escreveu um poema juvenil intitulado “Quando ela Passa”, no qual, curiosamente, manifesta já uma ligação, um pouco mórbida até, entre o desejo romântico por uma jovem adolescente e a morte desta, terminando, pasme‐se, com o epitáfio escrito para a sua sepultura: Quando eu me sento à janela/P'los vidros qu'a neve embaça/Vejo a doce imagem d'ela/Quando passa... passa.… passa.../N'esta escuridão tristonha/Duma travessa sombria/Quando aparece risonha/Brilha mais qu'a luz do dia./Quando está noite ceifada/E contemplo imagem sua/Que rompe a treva fechada/Como um reflexo da lua,/Penso ver o seu semblante/Com funda melancolia/Qu'o lábio embriagante/Não conheceu a alegria/E vejo curvado à dor/Todo o seu primeiro encanto/Comunicamo o palor/As faces, aos olhos pranto./Todos os dias passava/Por aquela estreita rua/E o palor que m'aterrava/Cada vez mais s'acentua/Um dia já não passou/O outro também já não/A sua ausência cavou/Ferida no meu coração/Na manhã do outro dia/Com o olhar amortecido/Fúnebre cortejo via/E o coração dolorido/Lançoume em pesar profundo/Lançou
me a mágoa seu véu:/Menos um ser n'este mundo/E mais um anjo no céu./Depois o carro funério/Esse carro d'amargura/Entrou lá no cemitério/Eis ali a sepultura: Epitáfio. Cristãos! Aqui jaz no pó da sepultura/Uma jovem filha da melancolia/O seu viver foi repleto d'amargura/Seu rir foi pranto, dor sua alegria./Quando eu me sento à janela/P'los vidros qu'a neve embaça/Julgo ver imagem dela/Que já não passa... não passa. Quatro anos depois do poema Quando ela passa atrás referido, no ano de 1905, de regresso definitivo a Portugal, Pessoa começa a escrever poesia sob o pseudónimo de Alexander Search sobre o qual um dia afirmou que “ fosse qual fosse a idade em que morreu, foram demais os dias que viveu”. Curiosamente, o próprio Alexander Search, no poema, A história de Salomão Cansado, sintetizou assim a vida deste anti‐herói: nasceu e morreu e entre o que passou/ele se aborreceu e de si zombou/Trabalhou, cansou, andou e sofreu/mas na sua vida nada é encontrado/que dois simples factos: viveu e morreu. Pessoa tinha 18 anos e muitas hormonas à solta, naturalmente, mas como confessou um dia (em 25 de Julho de 1907) “namoradas é coisa que não tenho e é um dos meus ideais (outro era encontrar um amigo verdadeiro. A verdade, porém, é que sofro”. Talvez por isso tenha mais tarde escrito no famoso poema Tabacaria que se casasse com a filha da minha lavadeira/talvez fosse feliz . E este parece ter mesmo sido um episódio verdadeiro(?). Ou, então, que tenha imaginado aquela genial e pungente história de um namoro à distancia, retratada na carta da Corcunda ao Serralheiro onde, mais uma vez, combina no mesmo texto o platónico desejo de amor de uma jovem mulher de 19 anos, fisicamente deformada e vivendo solitária, com a eminência do seu fatal e precoce destino: Senhor António: O senhor nunca há de ver esta carta, nem eu a hei de ver segunda vez porque estou tuberculosa, mas eu quero escreverlhe ainda que o senhor o não saiba, porque se não escrevo abafo. O senhor não sabe quem eu sou, isto é, sabe mas não sabe a valer. Temme visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si, porque o espero a chegar, e sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da casa amarela, mas eu não penso senão em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura alta e bonita; eu tenho inveja dela mas não tenho ciúmes de si porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si, e tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio, e poder ir à rua e falar consigo ainda que o senhor me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecêlo de falar (….) Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o senhor soubesse que eu gostava muito de si, mas tenho medo que se o senhor soubesse não se importasse nada, e eu tenho pena já de saber que isso é absolutamente certo antes de saber qualquer coisa, que eu mesmo não vou procurar saber. Eu sou corcunda desde a nascença e sempre riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso sou doente, e nunca tive alma, por causa da doença, para ter grandes raivas. Tenho dezanove anos e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade, e doente, e sem ninguém que tivesse pena de mim a não ser por eu ser corcunda, que é o menos, porque é a alma que me dói, e não o corpo, pois a corcunda não faz dor. (….)Mas eu não consigo nada do que quero, nasci já assim, e até tenho que estar em cima de um estrado para poder estar à altura da janela. Passo todo o dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe, e estou sempre a pensar noutra coisa, tanto que quando me perguntam como era aquela saia ou quem é que estava no retrato onde está a Rainha de Inglaterra, eu às vezes me envergonho de não saber, porque estive a ver coisas que não podem ser e que eu não posso deixar que me entrem na cabeça e me dêem alegria para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois todos me desculpam, e acham que sou tonta, mas não me julgam parva, porque ninguém julga isso, e eu chego a não ter pena da desculpa, porque assim não tenho que explicar porque é que estive distraída. Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui ao Domingo com o fato azul claro. Não era azul claro, mas era uma sarja muito clara para o azul escuro que costuma ser. O senhor ia que parecia o próprio dia que estava lindo e eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga, a não ser que o senhor não fosse ter com ela mas com outra qualquer, porque eu não pensei senão em si, e foi por isso que invejei toda a gente, o que não percebo mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que estou aqui sempre à janela, mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer, e assim estou como se fosse paralítica, o que é uma maçada para todos cá em casa e eu sinto ter que ser toda a gente a aturarme e a ter que me aceitar que o senhor não imagina. Eu às vezes dáme um desespero como se me pudesse atirar da janela abaixo, mas eu que figura teria a cair da janela? Até quem me visse cair ria e a janela é tão baixa que eu nem morreria, mas era ainda mais maçada para os outros, e estou a ver
me na rua como uma macaca, com as pernas à vela e a corcunda a sair pela blusa e toda a gente a querer ter pena mas a ter nojo ao mesmo tempo ou a rir se calhasse, porque a gente é como é e não como tinha vontade de ser.(…) O senhor não pode imaginar, porque é bonito e tem saúde o que é a gente ter nascido e não ser gente, e ver nos jornais o que as pessoas fazem, e uns são ministros e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras, e outros estão na vida da sociedade e casam e têm baptizados e estão doentes e fazemlhe operações os mesmos médicos, e outros partem para as suas casas aqui e ali, e outros roubam e outros queixamse, e uns fazem grandes crimes e há artigos assinados por outros e retratos e anúncios com os nomes dos homens que vão comprar as modas ao estrangeiro, e tudo isto o senhor não imagina o que é para quem é um trapo como eu que ficou no parapeito da janela de limpar o sinal redondo dos vasos quando a pintura é fresca por causa da água. Se o senhor soubesse isto tudo era capaz de vez em quando me dizer adeus da rua, e eu gostava de se lhe poder pedir isso, porque o senhor não imagina, eu talvez não vivesse mais, que pouco é o que tenho de viver, mas eu ia mais feliz lá para onde se vai se soubesse que o senhor me dava os bons dias por acaso.(…) Adeus senhor António, eu não tenho senão dias de vida e escrevo esta carta só para a guardar no peito como se fosse uma carta que o senhor me escrevesse em vez de eu a escrever a si. Eu desejo que o senhor tenha todas as felicidades que possa desejar e que nunca saiba de mim para não rir porque eu sei que não posso esperar mais. Eu amo o senhor com toda a minha alma e toda a minha vida. Aí tem e estou a chorar. Maria José“ Mas o poema, onde porventura melhor se casa a relação amor/prazer/morte, talvez seja um da série dedicada a Lídia, uma das suas (poucas) heroínas inventadas a quem dedicou alguns dos seus raros poemas de amor pela voz de Ricardo Reis, que neste poema chama aos seus ingénuos amantes Pagãos inocentes da decadência, evocando a tranquilidade no amor em vez do fogo que os desejos ateiam às paixões : Vem sentarte comigo, Lídia, à beira do rio./Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos/Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas/(Enlacemos as mãos)./Depois pensemos, crianças adultas, que a vida/Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa,/Vai para um mar muito longe, para ao pé do Fado,/Mais longe que os deuses./Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmonos./Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio./Mais vale saber passar silenciosamente/E sem desassossegos grandes./Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz,/Nem invejas que dão movimento demais aos olhos,/Nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria,/E sempre iria ter ao mar./Amemonos tranquilamente, pensando que podíamos,/Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e caricias,/Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro/Ouvindo correr o rio e vendoo./Colhamos flores, pega tu nelas e deixaas/No colo, e que o seu perfume suavize o momento —/Este momento em que sossegadamente não cremos em nada,/ Pagãos inocentes da decadência./Ao menos, se for sombra antes, lembrarteás de mim depois/Sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova,/Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos/Nem fomos mais do que crianças./E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, /Eu nada terei que sofrer ao lembrarme de ti,/Sermeás suave à memória lembrando
te assim — à beirario,/Pagã triste e com flores no regaço Fernando Pessoa, como já notámos atrás, tem consciência que a sua escrita o transcende tendo porventura até origem divina, isto é, seria inspirada pelos deuses ou como ele chega a confessar: Deus sabe porque o escreveu, ou um carácter mediúnico através de alguém que lhe dita o que ele escreve ou simplesmente o utiliza como veículo de escrita. Ou poderá ser mesmo uma missão que alguém lhe destinou e que ele, através da escrita, tem de cumprir, tal como ele próprio confessa sentindo‐se o Emissário de um rei desconhecido a cumprir instruções de além. Mas uma constante na sua vida e obra, essa muita humana e um pouco doentia, era a sua permanente insatisfação com tudo e principalmente consigo próprio, situação bem conhecida e enquadrável no foro patológico das perturbações de personalidade, tão genialmente expressa no poema: Se estou só quero não estar/se não estou quero estar só/enfim quero sempre estar/da maneira que não estou. Pessoa, ele próprio, num prenúncio de desejo: Passageira que viajarás tantas vezes no mesmo compartimento comigo/no comboio suburbano/chegaste a interessarte por mim? Ou vendo‐se mesmo, numa das raras manifestações de auto‐estima, como um objecto de desejo: Sou qualquer coisa do príncipe de todo o coração de rapariga (...) Ou ainda neste poema surpreendente sobre a memoria e o desejo: Usas um vestido/que é uma lembrança/para o meu coração (...)ou o desejo de regressar à infância: Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez/por uma viajem metafísica e carnal, e o cansaço reforçado pela insatisfação dos desejos: Porque eu desejo impossivelmente o possível/porque quero tudo, ou um pouco mais se puder ser/ou até se não puder ser. Mas como analisar a obra de um poeta que já por si e pela sua própria natureza, senão não seria poeta, é sempre um fingidor? Na esteira, aliás, do seu heterónimo Álvaro de Campos que escreveu precisamente O poeta é um fingidor/consegue até fingir que é dor/ a dor que deveras sente. E no poema Dactilografia vamos encontrar uma espécie de confusão entre o sonho e a realidade, entre a vida e a morte: Todos temos duas vidas/ (...)/ Na outra somos nós/na outra vivemos/ nesta morremos que é o que viver quer dizer. Mas aqui Pessoa vai mais longe alargando o âmbito do fingimento muito para além da poesia e, no fundo, para toda a sua obra quando escreve em tom de desabafo: Dizem que finjo ou minto/tudo o que escrevo. Não/eu simplesmente sinto com a imaginação. E quando aborda o tema da morte será que Pessoa também finge que se sente morto em vida ou que como ele diz, começou a morrer muito antes de ter vivido? Não sei mas sinto morto/o ser vivo que tenho/nasci como um aborto/salvo a hora e o tamanho ou cansado de viver, antecipando José Gomes Ferreira que achava que viver sempre também cansa, também expressou desejo semelhante com os versos Só quero dormir uma morte que seja encarando a morte como uma forma de finalmente descansar e fugir ao cansaço da vida ou, com algum sarcasmo ousado e blasfemo Pus o meu Deus no prego (...) e hoje sou apenas um suicida tarado/um desejo de dormir que ainda vive ou então com mais e mais metáforas, tais como, a morte é a curva da estrada ou a enorme gare onde Deus manda. Mas também encontramos em Pessoa, ele prório, poemas onde concilia os temas do amor e da morte como por exemplo este: A morte chega cedo,/Pois breve é toda vida/O instante é o arremedo/De uma coisa perdida./O amor foi começado,/O ideal não acabou,/E quem tenha alcançado/Não sabe o que alcançou/E a tudo isto a morte/Risca por não estar certo/No caderno da sorte/Que Deus deixou aberto./As coisas que errei na vida/São as que acharei na morte,/Porque a vida é dividida/Entre quem sou e a sorte./As coisas que a Sorte deu/Levouas ela consigo,/Mas as coisas que sou eu/Guardeias todas comigo./E por isso os erros meus,/Sendo a má sorte que tive,/Terei que os buscar nos cues/Quando a morte tire os véus/À inconsciência em que estive. A morte do seu grande amigo Sá Carneiro não poderia, naturalmente, deixar de ser evocada, referindo‐se Pessoa a esta, como a ida que afinal é um regresso ou interrogando‐se mesmo sobre a falta de sentido da morte. Por vezes, escorrem da sua escrita grossas gotas de cepticismo metaforizado reduzindo a importância da vida a uma mera passagem para a morte: Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Em carta dirigida a Armando Cortes Rodrigues escreveu em intimo desabafo: O SáCarneiro suicidouse em Paris no dia 26 de Abril. Não tenho cabeça para lhe escrever mas não quero deixar de lhe comunicar isto. Claro está que a causa do suicídio foi o temperamento dele que fatalmente o levaria àquilo (...) ele suicidouse com estricnina. Uma morte horrorosa (...) Naturalmente, Pessoa acabaria por escrever sobre esta morte que tanto o marcou com o poema SÁ CARNEIRO publicado na revista Orpheu: Nunca supus que isto que chamam morte/Tivesse/qualquer espécie de sentido.../Cada um de nós, aqui aparecido,/Onde manda a lei e a falsa sorte,/Tem só uma demora de passagem/Entre um comboio e outro, entroncamento Chamado o mundo, ou a vida, ou o momento;/Mas, seja como for segue a viagem./Passei, embora num comboio expresso/Seguisses, e adiante do em que vou;/No términus de tudo, ao fim lá estou/Nessa ida que afinal é um regresso./Porque na enorme gare onde Deus manda/Grandes acolhimentos se darão/Para cada prolixo coração/Que com seu próprio ser vive em demanda./Hoje, falho de ti, sou dois a sós/Há almas pares, as que conheceram/Onde os seres são almas./Como éramos só um, falando! Nós/Éramos como um diálogo numa alma./Não sei se dormes [...] calma,/Sei que, falho de ti, estou um a sós./É como se esperasse eternamente/A tua vida certa e conhecida/Aí em baixo, no café Arcada —
/Quase no extremo deste [...]/Aí onde escreveste aqueles versos/Do trapézio, doriunos [...]/Aquilo tudo que dizes no «Orpheu»./Ah, meu maior amigo, nunca mais/Na paisagem sepulta desta vida/Encontrarei uma alma tão querida/Às coisas que em meu ser são as reais.[...] Não mais, não mais, e desde que saíste/Desta prisão fechada que é o mundo,/Meu coração é inerte e infecundo/E o que sou é um sonho que está triste./Porque há em nós, por mais que consigamos/Ser nós mesmos a sós sem nostalgia,/Um desejo de termos companhia —/O amigo como esse que a falar amamos. Só um homem ultra‐sensível poderia ter escrito a outro homem este hino ao amor da amizade. PRIMEIRO ACTO 1ª cena – Pessoa, jovem e tímido Uma grande timidez, uma veia idealista sim mas resignada, A minha vida é um sonho imenso (…)Deixem
me chorar, algum medo, uma certa ausência de desejo, pouca ou nenhuma ambição, e uma enorme “falta de vontade” para se afirmar, marcavam‐lhe indelevelmente a constituição do seu espírito, todo feito de “hesitação e dúvida” e de uma certa ambivalência alternada entre o sono, o sonho e a realidade da vida: Temos todos que vivemos/Uma vida que é vivida/e outra vida que é pensada/E a única vida que temos/é essa que é dividida/entre a verdadeira e a errada. Ou entre uma dualidade dificil de discernir repartida pelo seu verdadeiro EU e o seu EGO: Entre o sono e o sonho,/entre mim e o que em mim/ é o quem eu me suponho,/Corre um rio sem fim. Aos 19 anos de idade, na página do seu diário intimo do dia 25 de Junho de 1907, escreveu: sou tímido e tenho repugnância em dar a conhecer as minhas angústias e amigas ou namoradas é coisa que não tenho e é outro dos meus ideais. Pouco ou nada se sabe sobre os aspectos mais intímos da vida de Pessoa o que tem levantado algum tipo de interrogações especulativas nem sempre respeitosas. Dada a natureza um pouco assexuada que ressalta da sua vida e obra pode perguntar‐se se Pessoa seria hetero ou homossexual? Teria alguma vez tido relações sexuais? Se sim, como terá sido a sua iniciação? Na época era costume ir às casas de putas. Terá Pessoa frequentado alguma vez as chamadas “casas de passe”? Ou será que Pessoa permaneceu virgem até à sua morte? Num poema de 1914, Pessoa reflecte, pela voz de Ricardo reis, sobre o sentimento do amor considerando‐o uma maçada e preferindo‐o na sua vertente onírica: Amar é maçador, mas é talvez preferível a não amar. (O sonho, porém, substitui tudo). Nele pode haver toda a noção do esforço sem o esforço real. Dentro do sonho posso entrar em batalhas sem risco de ter morto ou de ser ferido. Posso raciocinar, sem que tenha em vista chegar a uma verdade, a que nunca chegue; sem querer resolver um problema, que nunca resolvo; (...) Posso amar sem me recusarem nem me trairem, nem me aborrecerem. Posso mudar de amada e ela será sempre a mesma. E se quiser que me traia e se me esquive, tenho às ordens que isso me aconteça, e sempre como eu quero, sempre como eu o gozo. Em sonho posso viver as maiores angústias, as maiores torturas, as maiores vitórias. Posso viver tudo isso tal como se fosse da vida; depende apenas do meu poder em tornar o sonho vivido, nítido, real. Isso exige estudo e paciência interior. Mas, como qualquer ser humano a necessidade de amar e de ser amado vivia nele e por vezes assomava à superfície, como neste desabafo em que se reclamava, Órfão da Fortuna, tenho como todos os orfãos, a necessidade de ser o objecto da afeição de alguêm. Porém, nem sempre quando se ama se é retribuído e há que aceitar, Uma vez amei, julguei que me amariam,/mas não fui amado./Não fui amado pela única razão/Porque não tinha que ser, ou o amor que se recebe não corresponde exactamente ao que se idealizava, Não sei se é amor que tens ou amor que finges,/O que me dás./Dás
mo.Tanto me basta. Independentemente da adesão do amor à realidade da sua vida, um facto inquestionável é que na sua obra, Pessoa expressou de maneira brilhante as contradições de quem ama, como se constata nos seguintes extractos de diferentes poemas: Amo como o amor ama./Não sei razão para amarte mais que amarte/que queres que te diga mais que te amo/se o que quero dizerte é que te amo. (…) Ninguém a outro ama, senão que ama/O que de si há nele ou é suposto/ (…) Porque quem ama nunca sabe o que ama/Nem sabe porque ama, nem o que é amar… E, por fim, que dizer deste …Gostava de gostar de gostar. De um modo geral, para Pessoa nada era ou podia ser positivo, o seu carácter auto‐cêntrico, o seu desejo de ser completo, como ele dizia, aquilo porque sempre se luta com esforço e angústia” e o seu sentido da vida: “ter uma acção sobre a humanidade e o intenso desejo de melhorar o estado de Portugal”, o que colidia frontalmente com a grande instabilidade pessoal da sua vida (em 15 anos, entre 1905 e 1920, viveu em 15 casas diferentes em Lisboa) e a sua costela fatalista tantas vezes invocada de “seja como o Destino quiser” ou “o castelo maldito de ter que viver”. O seu desajustamento face aos padrões “normais” de vida faziam‐no reflectir sobre si próprio, Não sei. Falta
me um sentido, um tacto/Para a vida, para o amor, para a glória, e consequentemente, a sofrer por tal inadaptação, Dóime a vida aos poucos, a goles, por interstícios. E um plano de vida, será que tinha? E o que é um plano de vida? Valerá apena fazer algum? Não será mesmo verdade, como diz o provérbio, que quando um homem faz planos, Deus se ri? Pessoa já porventura teria absorvido essa sabedoria, porque tinha apenas como objectivo essa coisa humilde a que chamava estabilidade financeira, ou seja, segundo as suas próprias contas, cerca de sessenta dólares por mês e uma casa com bastante espaço para arrumar todos os papéis e livros, na devida ordem e onde pudesse viver sozinho, porque, como ele dizia, estar só era “ser livre e triste num sossego perto da resignação”. Mas, para ninguém é fácil viver sempre só, daí o desabafo “de vez em quando aborreço
me de não andar senão comigo”. Mas a solidão não será uma condição indissociável da produção literária, uma inevitabilidade associada ao génio? Escrever não é em si mesmo um puro acto solitário de prazer e dor? Pessoa tinha consciência da sua singularidade ainda que esta o fizesse também sofrer e, em momentos mais difíceis, confortava‐se com a ideia de se encontrar à frente dos seus contemporâneos pensando “ a minha crise não é crise para eu me lamentar, é a de se encontrar só quem se adianta demais aos companheiros de viagem”. A solidão era também uma sua opção de vida e dos heterónimos que dentro dele viviam, como por exemplo, escreveu Álvaro de Campos, mataforizando mais uma vez com a morte, no último verso do poema Lisbon revisited: “ e enquanto tarda o Abismo e o Silêncio quero estar sozinho”. Pessoa sabia bem do valor da sua obra e, por vezes, brincava consigo próprio com uma fina ironia narcísica como, quando dizia, esperar um dia ganhar o prémio Nobel, em carta de 13 de Janeiro dirigida a Adolfo Casais Monteiro, ou quando num excepcional texto sobre poética publicado na revista Águia, em Abril de 1912, deixou antever nas entrelinhas o seu desejo de ser considerado um super Camões: (…)E isto leva a crer que deve estar para muito breve o inevitável aparecimento do poeta ou poetas supremos, desta corrente, e da nossa terra, porque fatalmente o Grande Poeta, que este movimento gerará, deslocará para segundo plano a figura, até agora primacial, de Camões.(…) ou ainda, quando se mima e auto‐aprecia, numa carta dirigida a Cortes Rodrigues, a 19 de Janeiro de 1915, na qual se pode ler: “Amo‐me por ter escrito: Ah! Poder ser tu, sendo eu!/Ter a tua alegre inconsciência/ e a consciência disso!...” Também na serie de poemas designados por Pauis, no quarto poema desta série datado de 4 de Novembro de 1914, Pessoa volta a combinar o desejo do amor com o desejo da morte como a fatal inevitabilidade depois do primeiro desaparecer numa permanente relação de causa e efeito: Como a noite é longa!/Toda a noite é assim.../Sentate, ama perto/Do leito onde esperto./Vem pr'ao pé de mim.../Amei tanta coisa.../Hoje nada existe./Aqui ao pé da cama/Cantame, minha ama,/Uma canção triste./Era uma princesa/Que amou... Já não sei.../Como estou esquecido!/Cantame ao ouvido/E adormecerei...7Que é feito de tudo?/Que fiz eu de mim?/Deixame dormir,/Dormir a sorrir/E seja isto o fim. De novo, o dormir, como uma metáfora da morte e de um fim tranquilo sorrindo, que volta a reafirmar no Livro do Dessassossego através da comparação de o amor ser um sono que chega para o pouco ser que se é. Analogia várias vezes retomada em toda a sua obra como é o caso deste poema de Ricardo Reis, pela voz heroína de Lídia: O sono é bom pois despertamos dele/Para saber que é bom. Se a morte é sono/Despertaremos dela;/ Se não, e não é sono,/Conquanto em nós é nosso a refusemos/Enquanto em nossos corpos condenados/Dura, do carcereiro,/A licença indecisa/Lídia, a vida mais vil antes que a morte,/Que desconheço, quero; e as flores colho/Que te entrego, votives/De um pequeno destino. Também, na série de poemas que designou por poemas dramáticos escreveu a confissão da sua incapacidade de se entregar a alguêm: Não me concebo amando nem dizendo/a alguêm eu te amo sem que me conceba/com uma alma que não é minha. Contudo, Pessoa também escreveu cartas de amor, àquela mulher que foi a única das suas namoradas conhecidas, Ófelia, cartas um pouco lamechas, algo desinteressantes, rídiculas até em certos passos, como aliás, todas as cartas de amor o são! Bebezinho do Nininhoninho Oh! Venho só quevê pâ dizê ó Bebezinho que gotei da catinha dela. Oh! E também tive munta pena de não tá ó pé do Bebé pâ le dá jinhos. Oh! O Nininho é pequinininho! Hoje o Nininho não vai a Belém porque, como não sabia se havia carros, combinei tá aqui às seis o’as. Amanhã, a não sê qu’o Nininho não possa é que sai daqui pelas cinco e meia (isto é a meia das cinco e meia). Amanhã o Bebé espera pelo Nininho, sim? Em Belém, sim? Sim? Jinhos, jinhos e mais jinhos Fernando Comentários? Mas, também é nestas cartas que podemos encontrar algumas afirmações que permitem compreender melhor as suas inseguranças e dúvidas em matéria de amor e de relações conjugais: Se casar, não casarei senão consigo. Resta saber se o casamento, o lar são coisas que se coadunam comigo e a minha vida de pensamento. Também Álvaro de campos um dia gritou: Queriamme casado, fútil, quotidiano e tributável? E se contradisse: Até amaria o lar, desde que o não tivesse. Ao mesmo tempo, a consciência de que tudo é impermanente e passageiro, pode ler‐se na carta de ruptura que também escreveu a Ofélia: Se a vida que é tudo, passa por fim, como não hãde passar o amor e a dor e todas as coisas que não são mais que partes da vida (…) É ainda noutra carta também dirigida a Ofélia em 29/11/1920 que escreveu: Quanto a mim…O amor passou. Mas conservolhe uma afeição inalterável e não esquecerei nunca – nunca creia – nem a sua figurinha engraçada e os seus modos de pequenina, nem a sua ternura, a sua dedicação, a sua índole adorável. Mas a angústia (o famoso le mal de vivre tão francês) está nele sempre presente. Também em carta datada de 14 de Março de 1916 dirigida ao seu grande amigo Mário de Sá Carneiro, Pessoa escreve: Estou hoje no fundo de uma depressão sem fundo (…) num daqueles dias em que nunca tive futuro (…) Há barcos para muitos portos, mas nenhum para a vida não doer, nem há desembarque onde se esqueça”. Continua depois num tom tão intimista quanto genial: Em dias da alma como hoje eu sinto bem, em toda a consciência do meu corpo, que sou a criança triste em quem a vida bateu. Puseramme a um canto de onde se ouve brincar. Sinto nas mãos o brinquedo partido que me deram por uma ironia de lata. Hoje, dia catorze de Março, às nove horas e dez da noite, a minha vida sabe a valer isto. (…) No jardim que entrevejo pelas janelas caladas do meu sequestro, atiraram com todos os balouços para cima dos ramos de onde pendem; estão enrolados muito alto, e assim nem a ideia de mim fugido pode, na minha imaginação, ter balouços para esquecer a hora. Pouco mais ou menos isto, mas sem estilo, é o meu estado de alma neste momento (…) Se eu não estivesse escrevendo a você, teria que lhe jurar que esta carta é sincera, e que as cousas de nexo histérico que aí vão saíram espontâneas do que sinto. Mas você sentirá bem que esta tragédia irrepresentável é de uma realidade de cabide ou de chávena — cheia de aqui e de agora, e passandose na minha alma como o verde nas folhas. Foi por isto que o Príncipe não reinou. Esta frase é inteiramente absurda. Mas neste momento sinto que as frases absurdas dão uma grande vontade de chorar. Pode ser que se não deitar hoje esta carta no correio amanhã, relendoa, me demore a copiála à máquina, para inserir frases e esgares dela no «Livro do Desassossego». Mas isso nada roubará à sinceridade com que a escrevo, nem à dolorosa inevitabilidade com que a sinto. (…) ENTREACTO Cena Única ‐ Pessoa Zen? A Veia Esotérica e Mediúnica. Na pele e pela voz de António Mora, um dos seus heterónimos menos conhecidos, numa espécie de niilismo transcendental de óbvias influências budistas (Tudo é Maya) Pessoa afirma que a vida não tem sentido nenhum, que a beleza não existe e que tudo é ilusão. Tudo é criação e toda a criação é ilusão. Também, numa outra das suas muitas reflexões pessoais seguindo a mesma linha de pensamento, chegou a escrever evocando até o espírito de Buda: Os verdadeiros grandes da humanidade são os que amaram sem lhe tocar, de cima, de onde se pode amar sem pertencer, porque nós só amamos por engano a nós próprios. Considerar tudo como uma ilusão e tratálo como tal (…) Mais tarde, em Álvaro de Campos desenvolve‐se essa veia nihilista e de certo modo abúlica na forma como inicia o famoso poema Lisbon revisited e no qual estabelece a relação entre a falta de vontade de viver e a inevitabilidade da morte: Não: não quero nada/Já disse que não quero nada./Não me venham com conclusões./A única conclusão é morrer. Sabe‐se que Pessoa contactou com a doutrina budista através de várias fontes, a mais forte das quais talvez tenha sido a tradução que efectuou do livro A Voz do Silêncio, da teosofista Madame Blavatsky e que consubstancia os ensinamento absorvidos por ela ao longo de uma vivência de três anos num convento de monges budistas no Tibete. Alguns dos principais princípios de vida e filosofia budistas manifestam‐se em diversas partes da sua obra e particularmente na poesia do seu heterónimo Ricardo Reis, a sua parte mais zen, como o viver aqui e agora ou o carpe diem: Cada dia sem gozo não foi teu:/Foi só durares nele. O mesmo Ricardo Reis que indo ainda mais longe nos dá a fórmula mágica para atingir a suprema compreensão e sabedoria da vida: Sábio é o que se contenta com o espectáculo do mundo,/E ao beber nem recorda/Que já bebeu na vida,/Para quem tudo é novo/E imarcescível sempre. (Pessoa utiliza no final deste poema um dos adjectivos mais incríveis e desconhecido da língua portuguesa e ao qual Mário Henrique Leiria dedica uma das suas estórias do seu livro Contos do Gin Tonic: imarcescível!!) E também, Alberto Caeiro, assume num escrito de nítida inspiração budista, no Guardador de Rebanhos que: Não tenho ambições nem desejos/Ser poeta não é uma ambição minha/É a minha maneira de estar sozinho. Pessoa desenvolveu também uma vertente esotérica e mediúnica que quase a brincar descreve os seus primórdios numa carta escrita à sua tia favorita Anica. Conta ele que sentiu, numa dessas manifestações, a crise mental que Sá Carneiro atravessou em Paris e que antecedeu a sua morte tendo caido sobre ele “uma depressão vinda do exterior” que nesse momento não soube explicar. Nessa carta confessou ainda que “a escrita automática que sentia era também uma manifestação legítima de “mediunidade escrevente” além da manifestação de “Visão Astral” e “Visão Etérica”. Igual explicação seria por ele dada também para explicar a génese criativa da série de poemas O Guardador de Rebanhos que terá escrito de pé durante uma noite até ao amanhecer. Essa sua natureza curiosa pelo esoterismo fê‐lo conhecer um dos magos da época, Alester Crowley, e envolver‐se com este num episódio estranho relacionado com a mistificação encenada da morte deste na Boca do Inferno, em Cascais, no dia 25 de Setembro. Morte encenada?morte real? Suicídio? Blague? Acto publicitário? Ainda hoje não se sabe qual a verdade e foi assim que o próprio Fernando pessoa numa entrevista da época se referia ao caso: — Não — diznos Fernando Pessoa — não há o que v. chama "notícias" do Crowley. Quer o secretário dele, que está em Inglaterra, quer um íntimo amigo dele, que está na Alemanha, continuam a revelarse, quando me escrevem, desorientados com o caso. Parecem, na verdade, não estar absolutamente convencidos do suicídio, mas também parecem não saber de que é que hãode estar convencidos. Do que não tenho dúvidas, pelo tom das cartas, é que, se Crowley está vivo algures, um e outro (e são os seus mais íntimos), lhe ignoram por completo o paradeiro. E você, o que pensa? — Não penso, que é o mais cómodo. A princípio, ao verificar a absoluta autenticidade da carta e a estranheza da sua data e assinatura ("Sol em Balança" e "Tu Li Yu", respectivamente), acreditei em absoluto no suicídio; claramente o disse, porque o acreditava, na Investigação Criminal. Hoje reconheço falhas lógicas no argumento que me serviu para essa conclusão. A data astrológica, provando que a carta foi escrita depois das 6 horas da tarde do dia 23 de Setembro, não prova, na verdade, que Crowley se houvesse suicidado em seguida; e o facto, que me pareceu sinistro, de Crowley assinar com o nome chinês, de que ele uma vez me disse ser "uma das suas incarnações anteriores", não prova nada, pois ele pode bem terme mentido, com um propósito antecipado e sabendo as conclusões que eu viria a tirar, ao darme, aliás no acaso de uma conversa, essa informação sobre o seu passado longínquo. O próprio Pessoa, numa Nota Biográfica, escrita por ele mesmo, confirma ter sido iniciado na Ordem dos Templários e que o seu grande objectivo de vida é ter sempre na memória o mártir Jacques de Molay, grão‐
mestre dos Templários, e combater, sempre e em toda a parte, os seus três assassinos—a Ignorância, o Fanatismo e a Tirania. 2º ACTO 1ª cena – A Morte e o Desejo Já vimos que Pessoa não se considerava um homem feliz embora a sua ideia de felicidade fosse bastante despojada e simples: um livro policial de Conan Doyle ou de Arthur Morrison, para lhe pegarem na consciência ao colo como ele dizia, um cigarro de 45 ao pacote e uma chávena de café, eis a sua Santíssima Trindade do prazer. Mas, recuando no tempo, o primeiro texto literário que publica é um fragmento fantástico e simbolista do futuro Livro do Desassossego que intitula A Floresta do Alheamento e que começa com a frase Sei que despertei e ainda durmo que poderia constituir‐se como uma perfeita metáfora da sua vida e obra. É neste texto que encontramos algumas das suas primeiras referências aos temas do amor e do desejo ainda que numa aura onírica: A nossa vida era toda a vida…o nosso amor era o perfume do amor…vivíamos horas impossíveis cheias de sermos nós…E isto porque sabíamos, com toda a carne da nossa carne, que não éramos uma realidade… Para depois logo a seguir, como sempre, de novo o tema da morte: (…) E assim corremos (?) a nossa vida, tão atentos separadamente a corrêla que não reparámos que éramos um só, que cada um de nós era uma ilusão do outro, e cada um, dentro de si, o mero eco do seu próprio ser… Para depois terminar com uma recusa muito zen e repetidamente glosada na sua obra: Não choremos, não odiemos, não desejemos…Cubramos, ó Silenciosa, com um lençol de linho fino o perfil hirto e morto da nossa imperfeição. De novo o tema da Morte a impor‐se no primeiro verso de um longo poema da sua fase inglesa, Antinous : the boy lay dead ... embora estes poemas em inglês, Antinous e Epithalamium, sejam também profundamente marcados por um grande erotismo havendo até quem os tivesse apelidado de obscenos (António Quadros ?). No poema Epitalãmio, o tema da morte e do desejo, neste caso, entre noivos, é tratado de forma magistral e sem qualquer espécie de mau gosto: Afastai nas janelas a cortina breve/Que menos que à luz a vista só proscreve!/Olhai o vasto campo, como jaz luminoso/Sob o azul poderoso/E limpo, e como aquece numa ardência leve/Que na vista se inscreve!/Já a noiva acordou. Ah como tremer sente/O coração dormente!/Os seios dela arrepanhamse por dentro numa frieza de medo/Mais sentido por crescido nela,/E que serão por outras mãos que não as suas tocados/E terão lábios chupando os bicos em botão./Ah, ideia das mãos do noivo já/A tocar lá onde as mãos dela tímidas mal tocam,/E os pensamentos contraemselhe até ser indistintos./Do corpo está consciente mas continua deitada./Vagamente deixa os olhos sentir que se abrem./Numa névoa franjada cada coisa/Se ergue, e o dia actual é veramente claro/Menos ao seu sentir de medo./Como mancha de cor a luz pousa na palpebrada vista/E ela quase detesta a inescapável luz. Sobre este conjunto de poemas escreveu Teresa Rita Lopes, no seu livro de 1990, Pessoa por Conhecer. Textos para um Novo Mapa: Os cinco poemas que formam este volume, muito embora cada um deles seja independente face aos restantes considerados individualmente e no seu conjunto, são ligados, contudo, pela circunstância de serem ou de representarem estádios da psicologia histórica. Expressam cinco conceitos do mundo, considerados através da emoção sexual, e são portanto «weltanschauugen» no respeitante ao instintivo. O primeiro poema, Antinous, representa o conceito grego do mundo sexual. Como todos os conceitos primitivos, é substancialmente perverso; como todos os conceitos inocentes, a emoção manifestada é propositadamente nãoprimitiva; a fim de permitir que surja como conceito inocente, desenvolvese o conceito até se tornar uma metafísica, mas, como se trata de inocência, a metafísica acrescentase a, sem se inserir dentro da substância do tema principal. O segundo poema, Epithalamium, representa o conceito romano do mundo sexual. É brutal, como todas as emoções coloniais, animalesco, como todas as coisas naturais, quando são secundárias, como eram para homens tais como os romanos, que eram animais a dirigirem um estado. Neste poema não há nenhuma metafísica. Neste poema não poderia haver perversidade. O cenário, como no poema Antinous, não se relaciona com o tema. Um vulgar casamento cristão fornece o cenário; contra este pouco imaginativo cenário negro fazse destacar o instinto romano como um monstro nu nascido do mundo. (…) E, novamente associado ao tema do desejo, agora entre os deuses, a evocação dos deuses como negação da morte e ideia de transmutação. Tal como no poema “Iniciação” ele afirma: Neófito não há morte (…) mas uma passagem para além utilizando muitas outras metáforas de morte tal como “Noite”, “Estalagem do Assombro” ou “Funda Caverna”. Não dormes sob os ciprestes,/Pois não há sono no mundo(......)./O corpo é a sombra das vestes/Que encobrem teu ser profundo./Vem a noite, que é a morte/E a sombra acabou sem ser./Vais na noite só recorte,/Igual a ti sem querer./Mas na Estalagem do Assombro/Tiramte os Anjos a capa./Segues sem capa no ombro,/Com o pouco que te tapa./Então Arcanjos da Estrada/Despemte e deixamte nu./Não tens vestes, não tens nada:/Tens só teu corpo, que és tu./Por fim, na funda caverna,/Os Deuses despemte mais./Teu corpo cessa, alma externa,/Mas vês que são teus iguais......./A sombra das tuas vestes/Ficou entre nós na Sorte./Não estás morto, entre ciprestes./....../Neófito, não há morte. Também a morte de Sidónio Pais de quem Pessoa foi um confesso admirador, foi motivo inspirador para o poema, À Memória do PresidenteRei Sidónio Pais, onde se mistura a morte do político com o desejo do seu regresso tal D.Sebastião: Longe da fama e das espadas,/Alheio às turbas ele dorme./Em torno há claustros ou arcadas?/Só a noite enorme./Porque para ele, já virado/Para o lado onde está só Deus,/São mais que Sombra e que Passado/A terra e os céus./Ali o gesto, a astúcia, a lida,/São já para ele, sem as ver,/Vácuo de acção, sombra perdida,/Sopro sem ser(….)/No mistério onde a Morte some/Aquilo a que a alma chama a vida,/Que resta dele a nós — só o nome/E a fé perdida? /Se Deus o havia de levar,/Para que foi que nolo trouxe/Cavaleiro leal, do olhar/Altivo e doce?/Soldadorei que oculta sorte/Como em braços da Pátria ergueu,/E passou como o vento norte/Sob o ermo céu./Mas a alma acesa não aceita/Essa morte absoluta, o nada/De quem foi Pátria, e fé eleita,/E ungida espada./Se o amor crê que a Morte mente/Quando a quem quer leva de novo/Quão mais crê o Rei ainda existente/O amor de um povo!/Quem ele foi sabeo a Sorte,/Sabeo o Mistério e a sua lei/A Vida fêlo herói, e a Morte/O sagrou Rei!/Não é com fé que nós não cremos/Que ele não morra inteiramente./Ah, sobrevive! Inda o teremos/Em nossa frente.(…)/Nada sabemos do que oculta/O véu igual de noite e dia,/Mesmo ante a Morte a Fé exulta:/Chora e confia.(…)/Tenhamos fé porque ele foi./Deus não quer mal a quem o deu./Não passa como o vento o herói/Sob o ermo céu./E amanhã, quando queira a Sorte,/Quando findar a expiação,/Ressurrecto da falsa morte!/Ele já não.(…)Pra que deu Deus a confiança/A quem não ia dar o bem?/Morgado da nossa esperança,/A Morte o tem!(…)/ E no ar de bruma que estremece/(Clarim longínquo matinal)/O DESEJADO enfim regresse/A Portugal. Mas seria Fernando uma pessoa mórbida? É verdade que matou os seus heterónimos e escreveu alguns epitáfios a começar pelo de Alexander Search: Aqui jaz Alexander Search/Que Deus e os homens deixaram só (…) Andava pelos vinte anos quando morreu/estas foram as suas últimas palavras:/Deus, a Natureza e o homem, malditos sejam. Pessoa podia não ser mórbido mas era mesmo um novelo embrulhado para o lado de dentro. Há um soneto, não assinado nem datado, intitulado Post
mortem, num dos milhares de papeis que deixou, que quase parece uma brincadeira com a sua própria morte e talvez por isso ele tenha riscado por cima, num risco transversal e oblíquo, a palavra Nonsense: Quando eu morrer ao meu corpo frio e exangue/Não deitem nem à terra e às vendas(?) vis o leguem/Nem às feras cruéis que sempre me perseguem/o deêm, pois que então será falto de sangue/Não me queimem e as cinzas ao vento agreste entreguem/Não me deixem dormir à sombra desse mangue/Ao cemitério triste o meu corpo neguem/ofereçamme à ciência, à rude anatomia. 2ª Cena ‐ O Ideal Estético como Prazer e Desejo Na crítica em jeito de ensaio que escreveu sobre o livro “Canções” de António Botto, Pessoa desenvolve noções de ideal estético e de oralidade subjacentes aos conceitos de prazer e de desejo sexual sobre os quais, a poesia e a vida de Botto, davam à época “pano para mangas”. António Botto é o único português, dos que conhecidamente escrevem, a quem a designação de esteta se pode aplicar sem dissonância. Com um perfeito instinto ele segue o ideal a que se tem chamado estético, e que é uma das formas, se bem que a ínfima, do ideal helénico. Segueo, porém, a par de com o instinto, com uma perfeita inteligência, porque os ideais gregos, como são intelectuais, não podem ser seguidos inconscientemente.(…) Nasce o ideal da nossa consciência da imperfeição da vida. (…)Duas ideias centrais governam a inspiração do poeta, e lhe servem de metafísica e de moral. São as ideias de beleza física e de prazer. A análise do conteúdo dessas duas ideias, tais quais se nos apresentam nas «Canções», revelará o esteta inequivocamente. No modo como apresenta a primeira delas, o poeta afastase de toda a espécie de moralidade; no modo como apresenta a segunda, de toda a espécie de imoralidade. Das três formas, que podemos conceber, da beleza física — a graça, a força e a perfeição — , o corpo feminino tem só a primeira, porque não pode ter a beleza da força sem quebra da sua feminilidade, isto é, sem perda do seu carácter próprio; o corpo masculino pode, sem quebra da sua masculinidade, reunir a graça e a força; a perfeição só aos corpos dos deuses, se existem, é dado têla. Um homem, se se guiar pelo instinto sexual, e não pelo instinto estético, cantará, como poeta, só o corpo feminino. Essa atitude representa uma preocupação exclusivamente moral. O instinto sexual, normalmente tendente para o sexo oposto, é o mais rudimentar dos instintos morais. A sexualidade é uma ética animal, a primeira e a mais instintiva das éticas. Como, porém, o esteta canta a beleza sem preocupação ética, segue que a cantará onde mais a encontre, e não onde sugestões externas à estética, como a sugestão sexual, o façam procurála. Como se guia, pois, só pela beleza, o esteta canta de preferência o corpo masculino, por ser o corpo humano que mais elementos de beleza, dos poucos que há, pode acumular.(…) Disse eu que António Botto se afasta de toda a moralidade no modo por que canta a beleza física, e que se afasta de toda a imoralidade no modo por que canta o prazer. De que modo canta ele o prazer? Que modo háde cantar o prazer que, sem ser moral (porque se o fosse, estaríamos fora do caso estético), se afaste da imoralidade? Para com o prazer há três atitudes possíveis — aceitálo, rejeitálo, aceitálo com moderação. A cada uma destas atitudes correspondem graus vários de moralidade e de imoralidade, porque pode haver moralidade no modo de aceitar o prazer, e imoralidade na maneiras de rejeitálo. Aqui, porém, tratase de quem aceita o prazer, e só o prazer; não temos portanto que considerar as outras hipóteses. Aceite o prazer, e só o prazer, de que modo pode ele ser aceite? Pode ser aceite como alegria, ou como forma da alegria, e é esta a maneira moral, porque é natural, de aceitar o prazer. Pode ser aceite como excitação, como, por assim dizer, a única forma agradável da dor, pois que toda a excitação — tomada a palavra no sentido vulgar, e não no fisiológico — tem um fundo de dor; e é esta a maneira imoral, porque é a antinatural, de aceitar o prazer. Pode, finalmente, ser aceite simplesmente como prazer, como, em sua essência, nem alegre nem triste, porém a única coisa que pode encher o vácuo absurdo da existência. Deste conceito de prazer não se pode dizer que seja moral nem imoral, logo que se não esqueça que se está considerando o prazer só, isolandoo de qualquer outro elemento da vida. Quem leia com atenção normal o livro «Canções», não tardará que veja, é este último o conceito que António Botto forma do prazer, que é neste sentido de compreendêlo que ele o canta. «Canções» é um hino ao prazer, porém não ao prazer como alegria, nem como raiva, senão simplesmente como prazer. O prazer, como o poeta o canta, nem serve de despertar a alegria da vida, nem de ministrar um antídoto a uma dor substancial constante; serve apenas de encher um vácuo espiritual, a ser conceito de vida a quem não tem nenhum. Há neste livro, sim, a intuição do fundo trágico do ideal helénico, do fundo trágico de todo o prazer que sabe que não tem além. Essa intuição, porém, se é do que é trágico, não é trágica em si. Este prazer não tem a cor da alegria, nem a da dor. «A alegria» disse Nietzsche, «quer eternidade, quer profunda eternidade». Não é, nem nunca foi assim: a alegria não quer nada, e é por isso que é alegria. A dor, essa, é o contrário da alegria, como a concebia Nietzsche: quer acabar, quer não ser. O prazer, porém, quando o concebemos fora da relação essencial com a alegria ou com a dor, como concebe o autor deste livro, esse, sim, quer eternidade; porém quer a eternidade num só momento.(…) Artistas tem havido muitos em Portugal; estetas só o autor das «Canções». Em jeito de espírito de contradição, viria a seguir Alvaro de Campos, numa carta endereçada a José Pacheco, criticá‐lo pela mania de julgar que as coisas se provam e negando a existência de qualquer ideal estético na obra de Botto. Enfim... 3º ACTO O ELENCO PRINCIPAL Se atentarmos agora nos heterónimos mais conhecidos, constatamos, por exemplo, que Álvaro de Campos aborda o momento da morte do seu mestre Alberto Caeiro, considerando ter sido uma das angústias da sua vida não ter podido estar ao lado de Caeiro nesse “fatídico dia”, pois encontrava‐se em Inglaterra. Inconsolável, lamentou ainda a ausência do próprio Ricardo Reis, por estar no Brasil e do próprio Fernando Pessoa que até se encontrava em Lisboa mas era como se não estivesse, pois como uma vez escreveu “o Fernando Pessoa sente as coisas mas não se mexe, nem mesmo por dentro”. Mas esta não foi a primeira nem a única vez em que Álvaro de Campos se referiu a Pessoa. A propósito do poema “Chuva Oblíqua afirmou que nele Pessoa terá feito a “verdadeira fotografia da sua própria alma” e ainda que Fernando tinha “a vantagem de viver mais nas ideias do que em si mesmo.” Ricardo Reis encarava a vida e a morte com naturalidade mas também reflectia nelas e quando falava da morte parece que antecipava ser enterrado vivo (a húmida terra imposta). Envelhecer e correr parecem ser para Reis a súmula e o sentido da vida. Pelo contrario, para Alberto Caeiro não existe envelhecer e a morte acontecerá com toda a naturalidade. Por sua vez António Mora é o neopaganista e antes de “ O Regresso dos Deuses” o seu desejo é tornar‐se DEUS. Em Bernardo Soares o seu desejo é sonhar e é nos sonhos que os seus desejos se expressam porque fora dos sonhos nada existe nem sequer ele. Até conseguir chegar ao supremo grau do sonho que consiste em construir romances para si próprio, criando personagens, vivendo com todas elas ao mesmo tempo e sendo “todas essas almas conjunta e interactivamente”. ÁLVARO DE CAMPOS, o Tenor, dixit: Não sou nada/Nunca serei nada/Não posso querer ser nada/À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É assim que começa o famoso poema Tabacaria de Álvaro de Campos e que evidencia bem o ser único que Pessoa era. Lá mais para a frente desse longo poema aborda‐se o tema da Morte, da transitoriedade de tudo e de todos, do ciclo infinito e recorrente da existência, de tudo o que aparece desaparece, do princípio e do fim de todas as coisas, no eterno ciclo de Samsara: “ Mas o dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à porta/Olhoo com o desconforto da cabeça mal voltada/ e com o desconforto da alma mal entendendo/Ele morrerá e eu morrerei/Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos/A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também/Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta/e a linguagem em que foram escritos os versos/morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. O mesmo Álvaro de Campos que definitivo e peremptório haveria de afirmar no poema de 1923 Lisbon revisited que a única conclusão era morrer e que, enquanto tarda o Abismo e o silêncio, queria estar sozinho. Talvez por isto seja em Álvaro de Campos que mais abundam as abordagens da morte quer em teoria: Quando eu morrer/Quando me for ignobilmente como toda a gente.../Por aquele caminho cuja ideia se não pode encarar de frente quer como figura literária principalmente, sob a forma de metáforas, tais como, comboio, avó carinhosa, madrinha disfarçada ou sorriso humano de Deus. Na Ode Triunfal profetiza de forma óbvia e havemos todos de morrer, mas ao mesmo tempo manifesta medo da morte no grito desesperado de: “ A morte, a morte, a morte entre mim e a vida! Ou a ideia de suicídio como uma forma de antecipar a morte e suas consequências: se te queres matar, porque não te queres matar? Mas depois falta‐lhe coragem! Se ousasse matarme também me mataria! A morte, em teoria e como figura literária: não saudar como eu a morte em literatura, e antevendo a morte num jeito fatalista num poema dedicado a Caeiro... ou enfrentando‐a directamente: Agora que os dedos da morte à roda da minha garganta... ou usando a morte de uma criança como pretexto para falar da sua própria morte e da injustiça que dela resulta: Dêemme água de Vidago que eu quero esquecer a vida! Até no famoso poema Tabacaria se constata mais uma referencia à morte e à sua inevitabilidade: Ele morrerá e eu morrerei/ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos (...)/morrerá depois o planeta girante onde tudo isto se deu. O sentimento de solidão e isolamento por força da morte dos entes queridos e das suas referências familiares no excepcional poema, No tempo em que festejavam o dia dos meus anos: (...) O que eu sou hoje/é terem morrido todos/é estar eu sobrevivente a mim como um fósforo frio. No poema Passagem das horas deseja, ir ser selvagem para a morte entre árvores e esquecimentos e deixando‐se resvalar um pouco para a falsa modéstia. Noutro poema lamentou‐se, se morrer não falto e ninguém diria/desde ontem a cidade mudou. E sempre mas sempre a analogia entre o dormir e a morte: No fim de tudo dormir . Contudo, e agora céptico, no seu poema insónia duvida que mesmo na morte consiga descansar: Não durmo nem espero dormir/Nem na morte espero dormir. No poema Diluente, Álvaro de Campos a partir de um fait divers trágico de uma alegada vizinha filosofa sobre o esquecimento de quem morre e da necessidade imperativa da vida ter de continuar terminando com um pedido deveras insólito e quase propagandístico de um produto de grande consumo que ainda hoje podemos encontrar em qualquer supermercado: A vizinha do número quatorze ria hoje da porta De onde há um mês saiu o enterro do filho pequeno. Ria naturalmente com a alma na cara. Está certo: é a vida. A dor não dura porque a dor não dura. Está certo. Repito: está certo. Mas o meu coração não está certo. O meu coração romântico faz enigmas do egoísmo da vida. Cá está a lição, ó alma da gente! Se a mãe esquece o filho que saiu dela e morreu, Quem se vai dar ao trabalho de se lembrar de mim? Estou só no mundo, como um peão de cair. Posso morrer como o orvalho seca. Por uma arte natural de natureza solar, Posso morrer à vontade da deslembrança, Posso morrer como ninguém... Mas isto dói, Isto é indecente para quem tem coração... Isto... Sim, isto ficame nas goelas como uma sanduíche com lágrimas... Gloria? Amor? O anseio de uma alma humana? Apoteose ás avessas... Dêemme Agua de Vidago, que eu quero esquecer a Vida! Mas o poema mais dramático de Pessoa, aparentemente perto da sua própria morte física, assinado por Álvaro de Campos e no qual faz um mea culpa, cheio de remorsos, por ter abandonado o seu Mestre Alberto Caeiro, chama‐
se A PARTIDA e é assim: Agora que os dedos da Morte à roda da minha garganta Sensivelmente começam a pressão definitiva... E que tomo consciência exorbitando os meus olhos, Olho p'ra trás de mim, reparo pelo passado fora Vejo quem fui, e sobretudo quem não fui Considero lucidamente o meu passado misto E acho que houve um erro Ou em eu viver ou em eu viver assim. Será sempre que quando a Morte me entra no quarto E fecha a porta a chave por dentro, E a coisa é definitiva, inabalável, Sem Cour de cassation para o meu destino findo, Será sempre que, quando a meianoite soa na vida Uma exasperação de calma, uma lucidez indesejada Acorda como uma coisa anterior à infância no meu partir? Último arranco, extenuante clarão, de chama que a seguir se apaga Frio esplendor do fogo de artifício antes da cinza completa, Trovão máximo sobre as nossas cabeças, por onde Se sabe que a trovoada, por estar [...], decresceu. Virome para o passado. Sintome ferir na carne. Olho com essa espécie de alegria da lucidez completa Para a falência instintiva que houve na minha vida Vão apagar o último candeeiro Na rua amanhecente de minha Alma! Sinal de [..] O último candeeiro que apagam! Mas antes que eu veja a verdade, pressintoa Antes que a conheça, amoa. Virome para trás, para o passado, não [visiono? ]; Olho e o passado é uma espécie de futuro para mim. Mestre, Alberto Caeiro, que eu conheci no princípio E a quem depois abandonei como um espantalho reles, Hoje reconheço o erro, e choro dentro de mim, Choro com a alegria de ver a lucidez com que choro E embandeiro em arco à minha morte e à minha falência sem fim, Embandeiro em arco a descobrila, só a saber quem ela é. Ergome em fim das almofadas quase cómodas E volto ao meu remorso sadio. O alegado medo da morte, sempre, como já vimos: A morte, a morte! Ah como a temo ou, A dor da certeza da morte ou ainda, Todos, oh mestre, têm horror à morte... “A morte, a morte, a morte entre mim e a vida!” é uma constante em Álvaro de Campos, a profecia óbvia de “ e havemos todos de morrer” encontrada na Ode Triunfal e a ameaça de ficar a conhecer a verdade que eventualmente se esconde atrás da morte, como nestes dois poemas deste heterónimo: Quando eu morrer,/Quando me for, ignobilmente, como toda a gente,/Por aquele caminho cuja ideia se não pode encarar de frente,/Por aquela porta a que, se pudéssemos assomar, não assomaríamos/Para aquele porto que o capitão do Navio não conhece,/Seja por esta hora condigna dos tédios que tive,/Por esta hora mística e espiritual e antiquíssima,/Por esta hora em que talvez, há muito mais tempo do que parece,/Platão sonhando viu a ideia de Deus/Esculpir corpo e existência nitidamente plausível./Dentro do seu pensamento exteriorizado como um campo./Seja por esta hora que me leveis a enterrar,/Por esta hora que eu não sei como viver,/Em que não sei que sensações ter ou fingir que tenho,/Por esta hora cuja misericórdia é torturada e excessiva,/Cujas sombras vêm de qualquer outra coisa que não as coisas,/Cuja passagem não roça vestes no chão da Vida Sensível/Nem deixa perfume nos caminhos do Olhar./Cruza as mãos sobre o joelho, ó companheira que eu não tenho nem quero ter./Cruza as mãos sobre o joelho e olhame em silêncio/A esta hora em que eu não posso ver que tu me olhas,/Olhame em silêncio e em segredo e pergunta a ti própria/ Tu que me conheces — quem eu sou... E neste outro grande poema onde encontramos algumas das mais criativas metáforas da morte, como por exemplo, comboio, avó carinhosa, madrinha disfarçada ou sorriso humano de Deus: Não há abismos! Nada é sinistro! Não há mistério verdadeiro! Não há mistério ou verdade! Não há Deus, nem vida, nem alma distante da vida! Tu, tu mestre Caeiro, tu é que tinhas razão! Mas ainda não viste tudo; tudo é mais ainda! Alegre cantaste a alegria de tudo, Mas sem pensálo tu sentias Que é porque a alegria de tudo é essencialmente inevitável. Como cantaras alegre a morte futura Se a puderas pensar como morte, Se deveras sentiras a noite e o acabamento? Não, não: tu sabias Não com teu pensamento, mas com teu corpo inteiro, Com todos os teus sentidos tão acordados ao mundo Que não há nada que morra, que não há coisa que cesse, Que cada momento não passa nunca, Que a flor colhida fica sempre na haste, Que o beijo dado é eterno, Que na essência e universo das coisas Tudo é alegria e sol E só no erro e no olhar há dor e dúvida e sombra. Embandeira em canto e rosas! E da estação de província, do apeadeiro campestre, — Lá vem o comboio! Com lenços agitados, com olhos que brilham eternos Saudemos em ouro e flores a morte que chega! Não, não enganas! Avó carinhosa de terra já grávida! Madrinha disfarçada dos sentimentos expressos! E o comboio entra na curva, mais lento, e vai parar... E com grande explosão de todas as minhas esperanças Meu coração universo Inclui a ouro todos os sóis, Bordase a prata todas as estrelas, Entumescese em flores e verduras, E a morte que chega conclui que a já conhecem E no seu rosto grave desabrocha O sorriso humano de Deus! Ligado à morte encontra‐se sempre o tema do suicídio. Todo este genial poema é uma reflexão sobre a morte do indivíduo e suas consequências: Se te queres matar, porque não te queres matar? Ah, aproveita! que eu, que tanto amo a morte e a vida, Se ousasse matarme, também me mataria... Ah, se ousares, ousa! De que te serve o quadro sucessivo das imagens externas A que chamamos o mundo? A cinematografia das horas representadas Por actores de convenções e poses determinadas, O circo policromo do nosso dinamismo sem fim? De que te serve o teu mundo interior que desconheces? Talvez, matandote, o conheças finalmente... Talvez, acabando, comeces... E de qualquer forma, se te cansa seres, Ah, cansate nobremente, E não cantes, como eu, a vida por bebedeira, Não saúdes como eu a morte em literatura! Fazes falta? Ó sombra fútil chamada gente! Ninguém faz falta; não fazes falta a ninguém... Sem ti correrá tudo sem ti. Talvez seja pior para outros existires que matareste... Talvez peses mais durando, que deixando de durar... A mágoa dos outros?... Tens remorso adiantado De que te chorem? Descansa: pouco te chorarão... O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco, Quando não são de coisas nossas, Quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte, Porque é a coisa depois da qual nada acontece aos outros... Primeiro é a angústia, a surpresa da vinda Do mistério e da falta da tua vida falada... Depois o horror do caixão visível e material, E os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. Depois a família a velar, inconsolável e contando anedotas, Lamentando a pena de teres morrido, E tu mera causa ocasional daquela carpidação, Tu verdadeiramente morto, muito mais morto que calculas... Muito mais morto aqui que calculas, Mesmo que estejas muito mais vivo além... Depois a trágica retirada para o jazigo ou a cova, E depois o princípio da morte da tua memória. Há primeiro em todos um alívio Da tragédia um pouco maçadora de teres morrido... Depois a conversa aligeirase quotidianamente, E a vida de todos os dias retoma o seu dia... Depois, lentamente esqueceste. Só és lembrado em duas datas, aniversariamente: Quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste; Mais nada, mais nada, absolutamente mais nada. Duas vezes no ano pensam em ti. Duas vezes no ano suspiram por ti os que te amaram, E uma ou outra vez suspiram se por acaso se fala em ti. Encarate a frio, e encara a frio o que somos... Se queres matarte, matate... Não tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência!... Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera As seivas, e a circulação do sangue, e o amor? Que memória dos outros tem o ritmo alegre da vida? Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem, Não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? És importante para ti, porque é a ti que te sentes. És tudo para ti, porque para ti és o universo, E o próprio universo e os outros Satélites da tua subjectividade objectiva. És importante para ti porque só tu és importante para ti. E se és assim, ó mito, não serão os outros assim? Tens, como Hamlet, o pavor do desconhecido? Mas o que é conhecido? O que é que tu conheces, Para que chames desconhecido a qualquer coisa em especial? Tens, como Falstaff, o amor gorduroso da vida? Se assim a amas materialmente, amaa ainda mais materialmente: Tornate parte carnal da terra e das coisas! Dispersate, sistema físicoquímico De células nocturnamente conscientes Pela nocturna consciência da inconsciência dos corpos, Pelo grande cobertor nãocobrindonada das aparências, Pela relva e a erva da proliferação dos seres, Pela névoa atómica das coisas, Pelas paredes turbilhonantes Do vácuo dinâmico do mundo... Mas a morte em teoria e como figura literária, verdadeira fatalidade inevitável, é bem expressa naquela antevisão da morte dedicada ao seu mestre Alberto Caeiro e, intitulada precisamente, Ode Mortal. Este poema é um longo estertor mortal equivalente a uma verdadeira expiração, ao fechar dos olhos e ao parar do coração, como se fosse o último suspiro: Tu, Caeiro meu mestre, qualquer que seja o corpo Com que vestes agora, distante ou próximo, a essência Da tua alma universal localizada, Do teu corpo divino intelectual... Viste com a tua cegueira perfeita, sabes o não ver... Porque o que viste com os teus dedos materiais e admiráveis Foi a face sensível e não a face fisiognomónica das coisas Foi a realidade, e não o real. É à luz que ela é visível, E ela só é visível porque há luz, Porque a verdade que é tudo é só a verdade que há em tudo E a verdade que há em tudo é a verdade que o excede! Ah, sem receio! Ah, sem angústia! Ah, sem cansaço antecipado da marcha Nem cadáver velado pelo próprio cadáver na alma Nas noites em que o vento assobia no mundo deserto E a casa onde durmo é um túmulo de tudo, Nem o sentirse muito importante sentindose cadáver, Nem a consciência de não ter consciência dentro de tábuas e chumbo, Nem nada... Olho o céu do dia, espelha o céu da noite E este universo esférico e côncavo Vejoo como um espelho dentro do qual vivemos, Limitado porque é a parte de dentro Mas com estrelas e o sol rasgando o visível Por fora, para o convexo que é infinito... E aí, no Verdadeiro, Tirarei os astros e a vida da algibeira como um presente ao Certo, Lerei a Vida de novo, como numa carta guardada E então, com luz melhor, perceberei a letra e saberei. O cais está cheio de gente a verme partir. Mas o cais é à minha volta e eu encho o navio — E o navio é cama, caixão, sepultura — E eu não sei o que sou pois já não estou ali... E eu, que cantei A civilização moderna, aliás igual à antiga, As coisas do meu tempo só porque esse tempo foi meu, As máquinas, os motores, (...) Vou em diagonal a tudo para cima. Passo pelos interstícios de tudo, E como um pó sem ser rompo o invólucro E partirei, globetrottrer do Divino, Quantas vezes, quem sabe?, regressando ao mesmo ponto (Quem anda de noite que sabe do andar e da noite?), Levarei na sacola o conjunto do visto — O céu e de estrelas, e o sol em todos os modos, E todas as estações e as suas maneiras de cores, E os campos, e as serras, e as terras que cessam em praias E o mar para além, e o para além do mar que há além. E de repente se abrirá a Última Porta das coisas, E Deus, como um Homem, me aparecerá por fim. E será o Inesperado que eu esperava — O Desconhecido que eu conheci sempre — O único que eu sempre conheci, E (...) Gritai de alegria, gritai comigo, gritai, Coisas cheias, sobrecheias, Que sois minha vida turbilhonante... Eu vou sair da esfera oca Não por uma estrela, mas pela luz de um estrela — Vou para o espaço real... Que o espaço cá dentro é espaço por estar fechado E só parece infinito por estar fechado muito longe — Muito longe em pensálo. A minha mão está já no puxadorluz. Vou abrir com um gesto largo, Com um gesto autêntico e mágico A porta para o Convexo, A janela para o Informe, A razão para o maravilhoso definitivo. Vou poder circumnavegar por fora este dentro Que tem as estrelas no fim, vou ter o céu Por baixo do sobrado curvo — Tecto da cave das coisas reais, Da abóbada nocturna da morte e da vida... Vou partir para FORA, Para o Arredor Infinito, Para a circunferência exterior, metafísica, Para a luz por fora da noite, Para a Vidamorte por fora da morte
Vida. ALBERTO CAEIRO, o Baixo, dixit: Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,/Não há nada mais simples./Tem só duas datas—a da minha nascença e a da minha morte./Entre uma e outra coisa todos os dias são meus./ Sou fácil de definir./Vi como um danado./Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma./Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei./Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver./Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras;/Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento./Compreender isto com o pensamento seria achálas todas iguais./Um dia deume o sono como a qualquer criança./Fechei os olhos e dormi./Além disso, fui o único poeta da Natureza. De uma natureza simples até na morte, Alberto Caeiro comparava a injustiça como uma forma de morte: (…) Haver injustiça é como haver morte./Eu nunca daria um passo para alterar/Aquilo a que chamam a injustiça do mundo./Mil passos que desse para isso/Eram só mil passos./Aceito a injustiça como aceito uma pedra não ser redonda./E um sobreiro não ter nascido pinheiro ou carvalho.(...) Alem destas são inúmeras também neste heterónimo as referencias ao tema da Morte, por exemplo, com o poema Quando eu morrer filhinho... Quando eu morrer, filhinho,/Seja eu a criança, o mais pequeno./Pegame tu ao colo/E levame para dentro da tua casa./Despe o meu ser cansado e humano/E deitame na tua cama./E contame histórias, caso eu acorde,/Para eu tornar a adormecer./E dáme sonhos teus para eu brincar/Até que nasça qualquer dia/Que tu sabes qual é. Ou, com o poema: Se eu morrer novo/Sem poder publicar livro nenhum,/Sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa/Peço que, se se quiserem ralar por minha causa,/Que não se ralem./Se assim aconteceu, assim está certo./Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos,/Eles lá terão a sua beleza, se forem belos./Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir,/Porque as raízes podem estar debaixo da terra/Mas as flores florescem ao ar livre e à vista./Tem que ser assim por força. Nada o pode impedir./Se eu morrer muito novo, oiçam isto:Nunca fui senão uma criança que brincava./Fui gentio como o sol e a água,/De uma religião universal que só os homens não têm./Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma,/Nem procurei achar nada,/Nem achei que houvesse mais explicação/Que a palavra explicação não ter sentido nenhum./Não desejei senão estar ao sol ou à chuva —/Ao sol quando havia sol/E à chuva quando estava chovendo/(E nunca a outra coisa),/Sentir calor e frio e vento,/E não ir mais longe./Uma vez amei, julguei que me amariam,/Mas não fui amado./Não fui amado pela única grande razão —/Porque não tinha que ser./Consoleime voltando ao sol e à chuva,/E sentando
me outra vez à porta de casa./Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados/Como para os que o não são./Sentir é estar distraído. Ou ainda com este outro poema: Quando vier a Primavera,/Se eu já estiver morto,/As flores florirão da mesma maneira/E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada./A realidade não precisa de mim./Sinto uma alegria enorme/Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma./Se soubesse que amanhã morria/E a Primavera era depois de amanhã,/Morreria contente, porque ela era depois de amanhã./Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo?/Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;/E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse./Por isso, se morrer agora, morro contente,/Porque tudo é real e tudo está certo./Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem./Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele./Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências/O que for, quando for, é que será o que é. RICARDO REIS, o Barítono, dixit: Em Ricardo Reis encontramos algumas das mais incríveis metáforas da morte, levares o óbolo ao barqueiro sombrio ou então num confronto com a razão (...) e a morte chega/Terei razão, se a alguém a razão é dada/quando me a morte conturbar a mente/eu já não veja mais ou com a consciência (...) o resto passa/ e teme a morte/só nada teme ou sofre a visão clara/e inútil do universo A fatalidade é, em Ricardo reis, uma segunda natureza, fortemente influenciado por leituras de filosofia oriental particularmente budistas ou das traduções que Pessoa fez de madame Blavatski, A Voz do silêncio..., como por exemplo: O que te acontecer aceita. Os deuses nunca se rebelam; ou Ao que nada espera tudo o que vem é grato; ou ainda Segue o teu destino/rega as tuas plantas/ama as tuas rosas numa assunção fatalista de que a justiça não existe e tudo depende do destino que ele considera ser a vida e a morte do que somos nós. Nesta mesma onda filosófica quase de nihlismo transcendental afirma: A vida não tem sentido nenhum. A beleza não existe. Tudo é ilusão. Tudo é criação e toda a criação é ilusão. Tudo é Maya. Mas também Ricardo Reis recusa e receia a morte quando afirma preferir a vida mais vil à morte que desconhece. BERNARDO SOARES, o Contra‐alto, dixit: Por fim, em Bernardo Soares e no seu genial Livro do Desassossego, o tema da morte é igualmente incontornável e está sempre presente como no pungente lamento de Virá o dia em que não seja mais visto (...) ou no paradoxal abandono mais vale escrever do que ousar viver, ainda que viver não seja mais que comprar bananas ao sol, enquanto o sol dura e há bananas que vender. Não pretendendo ser um classificador de coisas Bernardo Soares confessava não poder deixar de pensar que as realidades da morte e do desejo pertenciam também àquele género de classificações incógnitas, de coisas da alma e da consciência que estão nos interstícios do conhecimento. Em Bernardo Soares encontramos também uma tentativa de relacionar as realidades da vida e da morte com o conceito de Deus, avançando por vezes na defesa da metempsicose e sugerindo até uma ideia muito oriental de encontrar prazer na morte ou na equiparação, aparentemente contraditória nos seus termos, entre a vida e a morte quando afirma, lapidar e convicto, num texto fundamental para a compreensão desta temática que Somos morte! Pessoa era um observador incansável e subtil e do qual se poderia sintetizar ao jeito árabe a sua fonte de inspiração como: Pessoa aquele que vê. Mas é em Bernardo Soares, que encontramos uma das explicações mais interessantes para a febre da sua escrita quando ele confessa que talvez porque a sensualidade real não tinha para ele interesse de nenhuma espécie – nem sequer mental ou de sonho – transformara o desejo naquilo que nele criava ritmos verbais, ou seja, as palavras. Numa clara analogia ou aderência às teses budistas de tomada de consciência, de serem os desejos uma das principais fontes do sofrimento humano, chegou a escrever que pretendia tornar o desejo uma coisa inútil e inofensiva (...). Aliás, na comunidade Pessoa são diversos, como atrás vimos, os sinais de nítida inspiração Zen consubstanciando aquilo que poderia designar‐se pela estética da indiferença. Talvez por isso tenha deixado escapar um dia a triste afirmação: Nunca amei ninguém ou a confissão um tanto ou quanto desesperada, muito ao estilo de Álvaro de Campos: Não pertenço a nada, não desejo nada, não sou nada ou, em jeito de indiferença metafísica e egoísta desprendimento: Não fazer a ninguém nem mal nem bem. Impressiona mesmo muito a constante relação que estabelece entre desejo e morte quando escreve num tom derrotista que Amar é entregarse (...) o amor maior é por isso a morte, ou o esquecimento, ou a renúncia ou, então, num registo surpreendentemente irónico e grande sentido de humor: O meu desejo é morrer, pelo menos temporariamente mas isto como disse só porque me dói a cabeça (e o universo) ou, ainda numa aspiração de fuga ou de evasão, como no grito: o meu desejo é fugir. A pretexto de outras mortes, como por exemplo, a do seu barbeiro, admite que estas lhe induzem os pensamentos sobre a sua própria morte e sobre o que dirão dele, ou como, dele se recordarão. EPITÁFIO E CLIMAX Num dos seus últimos e mais estranhos escritos, fausto, um drama em verso que retrata a luta entre a inteligência e a vida, um grandioso monumento de fragmentos iniciado em 1908 e escrito quase até à sua morte, Pessoa não consegue resistir à fatal atracção da diabólica personagem e, obviamente, o tema da morte não poderia ser ignorado a par do tema conhecimento: Em frente de um livro aberto vivo e morro. Também neste poema e pela boca de uma personagem a decepção e a frustração são evidentes (...) Eu morrerei e deixarei/neste mundo isto apenas: uma vida/sem prazer, sem gozo, sem amor/só imersa em estéril pensamento. A realidade é comparada à morte, ambas como formas opostas ao sonho: A mim a morte/mais como o horror de me tirar o sonho/e darme a realidade que me apavora/que como morte. Aliás, a personificação do próprio Diabo afirma: Sou morte porque sei que o infinito/é limitado e assim Deus morre em mim. Na pele de Fausto há um poema essencial, onde e de novo, o medo da morte e a ameaça de conhecer a verdade que se esconde atrás da morte, para acabar com uma das mais pungentes e inúteis súplicas que alguém pode fazer: Não me deixes morrer... Só uma cousa me apavora A esta hora, a toda a hora: É que verei a morte frente a frente, Inevitavelmente. Ah, este horror, como poder dizer? Não lhe poder fugir! Não podêlo esquecer! E nessa hora em que eu e a Morte Nos encontrarmos O que verei? o que saberei? O que não verei? o que não saberei? Horror! A vida é má e é má a morte, Mas quisera viver eternamente Sem saber nunca, (...) e inconsciente Isso que a morte traz e (...) Não me tenta o mistério Nem desejo saber O que é que vai do berço ao cemitério No ardor chamado viver. A verdade apavorame e confrange, Perturbame como a ninguém. Que o tempo cesse! Que pare e fique sempre este momento! Que eu nunca me aproxime desse Horror que mata o pensamento! Envolveime, fechaime dentro em vós E que eu não morra nunca. Odeio a vida, amargame e horroriza. Mas a morte — oh a morte, velada O próprio horror dentro em mim paralisa Deixando a dor funda e estagnada. Horror! Horror! O tempo, oh vidas com vida! Mistérios menores onde esquecer Se pode a mor dor indefinida, Menos horrorosos porque não sabeis dizer Esse segredo que dito deveis trazer. Não me deixeis morrer... Como forma de sublimar este medo atávico, encontramos no Fausto, a chamada filosofia do soldado, ou seja , daquele que sabe que pode morrer a todo o momento e que por isso deve viver as sensações, viver tudo, embriagado pela vida, em cada dia viver uma vida completa como se cada dia pudesse ser o último, viver o hoje porque a morte está sempre certa. Por isso a vida é gozo, depois voltar a gozar e por fim gozar mais ainda: [FRANZ]: Isto de ser soldado Tem uma filosofia obrigatória Como o pé ao fim da perna. Hoje vivo Amanhã morto... D'aqui se conclui Que sendo o vivo vivo enquanto é vivo É morto é morto. OUTRO: Tiralhe o cangirão da mão oh Vesgo [FRANZ]: Ia eu dizendo — deixa o cangirão! — Que quem hoje vive e que não sabe Se amanhã viverá é viver hoje Por amanhã. Como isto de amanhã Nem é aí um dia, mas é muitos Enquanto a gente vive é ir vivendo Em cada dia como se ele fosse Uma vida completa — Bravo o vinho Faz a este pensar. O que diria O teu tio bêbado, oh Francisco? [FRANZ]: É esta A tal filosofia do soldado A qual, senhores, a pensarmos bem É a de toda a vida. E não é pouco. FAUSTO: Dáte o vinho razão, amigo. O homem É um soldado. E este com certeza De morrer no combate de amanhã. Portanto a tal (...) filosofia Que entre goles aí me gaguejaste É mais certa que pensas, meu amigo. É viver hoje que amanhã na vida Não há talvez — é certo — vem a morte. Bebo à saúde aqui do nosso amigo! TODOS: À saúde do Franz! [FRANZ]: Vá que o mereço! Mas olha lá: dá cá o cangirão Então só eu não beberei à minha? OUTRO: Vá que é beberlhe bem. Não é por ser Minha saúde. É só por ser vinho Minha mãe! Minha triste vida! Minha sorte! (Chora) OUTRO: O que é isso? [FRANZ]: O cangirão Não tem mais vinho! Caguei vida. Rei e corno! Um rei corno — isso sabe a não sei o quê! E o cangirão já não tem quase nada O rei corno e eu sem vinho. (cai para debaixo da mesa) FAUSTO: Arre que besta! Mas tem sua graça! Está abraçado ao cangirão Diz que é uma rainha. [FRANZ]: Dáme cá mais um gole Que isto de leito e corpo de rainha Não é com quatro goles que se entende. Um rei corno — isso é grande! Alma danada Onde é que me escondeste ó cangirão? (de debaixo da mesa) Já o rei é corno! FAUSTO: Lá quanto a Deus Quando o sinto a amargarme a boca muito Faço isto (bebe) Tomo um gole. E vai p'ra baixo. TODOS: Viva Fausto! Eia, viva! viva! viva! FRITZ: Mas a vida rapaz? FAUSTO: Caguei p'rá vida! FRITZ: Toma! É assim rapaz! Cantame dessas! És cá dos meus, apesar de doutor... TODOS: Doutor? Isto Doutor? Viva o Doutor! FAUSTO: Morra o doutor e viva Fausto! É assim! TODOS: Bravo. Morra o doutor e viva Fausto! FRANZ: ...Revolta... Não compreendo bem Passame o cangirão que já te entendo. Sem mais dois goles não percebo nada. FAUSTO: Já percebes Estupor avinhado? Já me entendes? Isto de vida — ouve — é sentir tudo Meter o agradável num só dia Como o pé num chinelo. Deixa lá O cangirão e ouve... Isto de vida É a gente gozar e após gozar Gozar mais, entendeste? FRANZ: E depois disso? FAUSTO: Depois disso gozar mais ainda. — Deixao lá. Só tem força p'ra beber. Não vê já mais que o olho do gargalo. FRITZ: Que é isso? FRANZ: Quero piscar o olho. Já me custa! Arre! Ou fecho ambos ou então nenhum. Bebendo mais um gole isto já passa... FAUSTO: Eu queria obter Uma enormidade de sensações Daquelas mais intensas que nós temos arrepio, calor, etcetra e tal... Isso como diz o matemático Elevado ao infinito e num momento Aqui é que é tentar chegar... UM: «Arrepio, calor, etcetra e tal» O que não se diz fica por dizer. Mas, por fim, quando a morte chega, traz com ela uma espécie de tranquila redenção: Vejo que delirei. Nem delirando fui feliz; mas fuio Apenas para obter esse cansaço Que não obtive outrora: desejar A morte enfim. Eis a felicidade Suprema: recear nem duvidar, Mas estar de prazer e dor tão lasso A nada já sentir, longe de mim Como era antigamente: e também longe Dos homens do (...) natural Estranho! com saudade só me lembro Do meu grão tempo de infelicidade, Saudade não, e um orgulho (que é só O que dela me resta hoje) e não quero Àquele tempo regressar. Já nada quero! Caí e a queda assim me transformou! Saudosamente ainda me lembra D'ultra acordado estar, mas a queda Tirou já o desejo de voltar (Se pudesse). Deixou só um sentimento De desejar eterna quietação Ânsia cansada de não mais viver; Ambição vaga de fechar os olhos E vaga esperança de não mais abrilos. Meu cérebro esvaído não lamenta Nem sabe lamentar. Tumultuárias Ideias mistas do meu ser antigo E deste, surgem e desaparecem Sem deixar rastos à compreensão. E ainda com elas, sonhos que parecem Memórias dessa infância, dessas vozes Já deslembradas, vãs, incoerentes, Amargas, vãs desorganizações Que nem deixam sofrer. Vem pois, oh Morte! Sintote os passos! Gritote! O teu seio Deve ser, suave e escutar o teu coração Como ouvir melodia estranha e vaga Que enleva até ao sono, e passa o sono. Nada, já nada posso, nada, nada... Vaiste, Vida. Sombras descem. Cego. Oh Fausto! (Expira) CORRE O PANO Três dias após a sua morte, o Diário de Notícias publicou na primeira página uma notícia intitulada Morreu Fernando Pessoa, grande poeta de Portugal. Outros jornais recordaram‐no como um futurista do Orpheu, como o poeta nacionalista da mensagem e como um critico de rara inteligência, mas com exepção de poucas pessoas, quase ninguém fazia a mínima ideia da sua verdadeira grandeza e universalidade. Curiosamente, uma curta notícia necrológica publicada no jornal lisboeta Bandarra, reconhecia que “a obra notável de Pessoa era ainda inédita” e profetizava que o seu nome “iria crescendo à medida que o tempo fosse passando”. Num dos seus cálculos esotéricos Pessoa previa viver 68 anos e 10 meses. Falhou por 21 anos. O padrasto, João Miguel Rosa, definira‐o como um “teimoso manso” e profissionalmente, ele próprio se considerava um correspondente estrangeiro em casas comerciais em regime de freelancer. Desde criança, tinha pavor às doenças por causa da loucura da avó Dionísia e à tuberculose do pai e quando a sua mãe morre em 17 de Março Pessoa ficou mais só que nunca, tendo em Agosto escrito numa carta a um amigo que se sentia a ficar louco e a questionar‐se se não deveria ser internado. O seu amigo Sá Carneiro, em carta de Agosto de 1915 chamou‐
lhe “Pessoa, o homem‐nação – o Prometeu encerrado no seu mundo interior de génio” e outros amigos vaticinavam‐lhe a futura grandeza como um dos maiores poetas portugueses como conta à mãe em carta de 1914. De facto, Pessoa não era apenas um poeta absolutamente genial (o que já em si seria extraordinário) mas sim vários poetas absolutamente geniais. E, no entanto, aparentou sempre ser um homem sem grandes qualidades quando, na realidade era um universo em expansão de qualidades, mas sem homem ou um drama em forma de gente em vez de actos.
Download