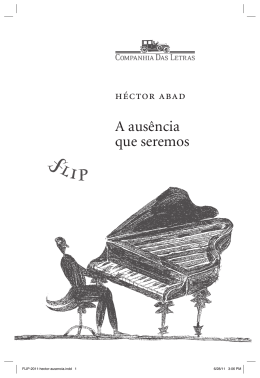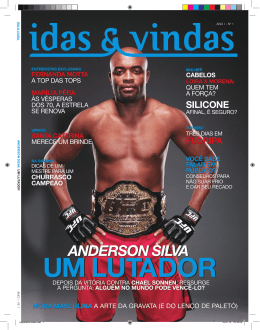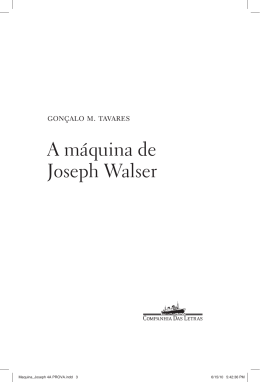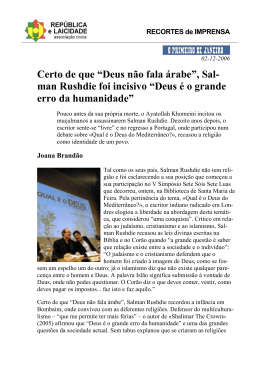Road, 60”. Esse era o endereço dela. Ela chamou a polícia, que passou a noite toda vigiando a casa. Nada aconteceu. Mas a tensão aumentou mais um pouco. Em 28 de dezembro houve outro alarme de bomba nos escritórios da Penguin. Andrew Wylie telefonou para lhe contar. “O medo está começando a ser um problema”, disse. Isso foi em 1989, o ano em que o mundo mudou. No dia em que queimaram seu livro, ele levou sua mulher, americana, para conhecer Stonehenge. Ouvira falar da manifestação programada em Brad ford, e alguma coisa nele reagiu com violência. Não queria ficar esperando o dia inteiro para ver o que aconteceria e depois enfrentar as inevitáveis pergun tas de repórteres, como se não tivesse nada melhor a fazer que explicar o hor ror de cada dia. Debaixo de um céu cor de chumbo, partiram para as pedras antigas. Geoffrey de Monmouth disse que Stonehenge fora obra de Merlin. Geoffrey não era uma fonte em que se pudesse confiar, é claro, mas sua expli cação era mais atraente do que a dos arqueólogos — o lugar seria um antigo cemitério ou um santuário de cultos druidas. Dirigindo velozmente, ele não estava com espírito para druidas. Cultos religiosos, grandes ou pequenos, eram coisa do lixo da história, e ele queria que alguém os pusesse lá, junto com o resto das infantilidades da humanidade, como a terra plana, por exemplo, ou a lua feita de queijo. Marianne estava num de seus melhores dias. Havia ocasiões em que seu rosto irradiava um fulgor quase alarmante, em que sua intensidade habitual atingia níveis fora do comum. Ela era de Lancaster, Pensilvânia, mas nada ha via de amish nela. Tinha um estilo pessoal extravagante. Foram convidados para um garden party real no palácio de Buckingham, e ela havia usado uma combinação preta brilhante em vez de um vestido, com um bolero e um cha peuzinho reto, sem abas. Apesar da insistência da filha, ela se recusara a usar sutiã. Ele percorreu os jardins do palácio com sua mulher, com roupa de baixo e sem sutiã. Os membros da família real, com roupas de cores primárias, es tavam cercados por hordas de convidados, como cavalos de corrida, cada qual em seu paddock pessoal. Os grupos em torno da rainha e de Charles-Diana eram, de longe, os maiores. Já o fã-clube da princesa Margaret era constrange JOSEPH ANTON•miolo.indd 127 8/28/12 5:37 PM dor de tão pequeno. “Fico me perguntando”, disse Marianne, o que a rainha leva na bolsa.” O comentário foi engraçado, e eles passaram alguns momentos felizes imaginando o conteúdo da bolsa real. Spray de pimenta, talvez. Ou tam pões. Dinheiro, evidentemente, não. Nada que tivesse sua efígie. Quando Marianne estava com a corda toda, era bom estar com ela. Sua vivacidade, seu espírito eram incríveis. Fazia anotações aonde quer que fosse, e sua caligrafia era tão extravagante quanto ela. Às vezes ele se espantava com a rapidez com que ela transformava experiências em ficção. Quase não havia pausa para reflexão. Histórias derramavam-se dela, e as situações de um dia viravam frases no dia seguinte. E, quando o fulgor iluminava seu rosto, ela fi cava incrivelmente atraente, ou delirante, ou as duas coisas. Ela lhe disse que todas as mulheres em sua ficção com nomes começados com a letra M eram versões de si mesma. No romance que ela publicou antes de John Dollar, um livro de que ele gostava e que se chamava Separate checks, a personagem prin cipal tinha como sobrenome McQueen: Ellery McQueen, lembrando o escri tor de livros policiais. O verdadeiro Ellery Queen fora, na verdade, dois pri mos do Brooklyn, chamados Frederic Dannay e Manfred Bennington Lee, que, aliás, também eram pseudônimos, pois seus nomes reais eram Daniel Nathan e Emanuel Lepofsky. O nome da personagem de Marianne era uma brinca deira baseada no nome literário de uma dupla de escritores que usavam esse pseudônimo para não expor nomes que, por sua vez, também eram pseudô nimos. A Ellery McQueen de Separate checks estava internada num hospital psiquiátrico particular. Sua mente estava desequilibrada. Em Bradford, uma multidão estava se reunindo diante da delegacia de polícia no Tyrls, uma praça onde também ficavam o prédio da prefeitura, em estilo italiano, e o tribunal. Havia um tanque com chafariz e uma área chama da de “canto dos oradores”, onde as pessoas podiam falar sobre o que bem en tendessem, mas os manifestantes muçulmanos não estavam interessados em discursos feitos em cima de caixotes. O Tyrls era um local mais modesto do que fora a praça da Ópera, em Berlim, em 10 de maio de 1933, e em Bradford apenas um livro estava em questão, não 25 mil ou mais; pouquíssimas das pessoas ali reunidas saberiam alguma coisa a respeito do evento presidido, mais de 55 anos antes, por Joseph Goebbels, que gritara “Não à decadência e à corrupção moral! Sim à decência e à moralidade na família e no Estado! Atiro às chamas os textos de Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner”. Obras de JOSEPH ANTON•miolo.indd 128 8/28/12 5:37 PM Bertolt Brecht, Karl Marx, Thomas Mann e até de Ernest Hemingway também tinham sido queimadas nesse dia. Não, os manifestantes nada sabiam daquela fogueira ou do desejo dos nazistas de “expurgar” ou “purificar” a cultura ale mã de ideias “degeneradas”. Talvez também não estivessem a par do termo auto de fé ou das atividades da Inquisição católica, mas, mesmo que careces sem de conhecimentos de história, ainda assim eram parte dela. Também ti nham ido ali para destruir pelo fogo um texto herético. Ele e Marianne caminharam entre as pedras daquilo que ele queria ima ginar como sendo o monumento megalítico de Merlin, e durante cerca de uma hora o presente passou sem que ele percebesse. Ele pode até ter andado de mãos dadas com a mulher. No caminho de casa, passaram pela Runnymede, a planície, junto do Tâmisa, onde os nobres obrigaram o rei João a assinar a Magna Carta. Foi ali que os britânicos começaram a se livrar de governantes tirânicos, havia 774 anos. Fica ali também o monumento britânico a John F. Kennedy, e as palavras do presidente assassinado, gravadas em pedra, calaram fundo em seu coração naquele dia. Saibam todas as nações, as que nos querem bem e as que nos querem mal: estamos prontos a pagar qualquer preço, suportar todo fardo, enfrentar todas as dificuldades, apoiar qualquer amigo e nos opor a qualquer inimigo para garantir a sobrevivência e o sucesso da liberdade. Ele ligou o rádio do carro, e a queima do livro em Bradford era a principal notícia do dia. Logo chegaram em casa, e o presente se impôs. Ele viu na tele visão o que passara o dia tentando evitar. Houvera cerca de mil manifestantes, todos homens. Tinham no rosto uma expressão de fúria, ou, para sermos mais precisos, faziam caretas de fúria para as câmeras. Dava para ver em seus olhos a euforia que sentiam com a presença da imprensa mundial. Era a euforia da celebridade, daquilo que Saul Bellow chamara de “glamour da ocasião”. A luz dos refletores era gloriosa, quase erótica. Carregavam cartazes que diziam rushdie não presta e rushdie, engula suas palavras. Estavam prontos para o close-up. Um exemplar do romance tinha sido pregado num pau e depois queima do: crucificado e imolado. Era uma imagem que ele não conseguia esquecer: os rostos felizes de raiva, exultantes de raiva, convictos de que sua identidade bro tava da raiva. E, no primeiro plano, um homem cheio de si, com um chapéu de feltro e um bigodinho à la Poirot. Era um vereador de Bradford, Mohammad JOSEPH ANTON•miolo.indd 129 8/28/12 5:37 PM Ajeeb — a palavra ajeeb, estranhamente, em urdu significava estranheza —, que dissera à multidão: “O islã é uma religião de paz”. Ele olhava para seu livro queimando e pensava, naturalmente, em Heine. Entretanto, para os homens e rapazes raivosos de Bradford, Heinrich Heine nada significava. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. (Onde se queimam livros por fim também se queimarão homens.) Essa frase de Almansor, escrita profeticamente mais de um século antes das fogueiras nazistas, fora mais tarde gravada na Berlin Opernplatz, local daquela velha queima de livros pelos nazistas. Seriam essas palavras gravadas também, um dia, na calçada do Tyrls para recordar aquele evento, muito menor, mas ainda assim vergonhoso? Não, ele pensou. Muito provavelmente, não. Ainda que o livro queimado em Almansor fosse o Corão, e os queimadores de livros, membros da Inquisição. Heine era um judeu convertido ao luteranismo. Um apóstata, diriam al guns, os dados a esse tipo de linguagem. Também ele estava sendo acusado de apostasia, entre muitos outros delitos: blasfêmia, insulto, injúria. Foram os judeus que o levaram a fazer isso, diziam. Seu editor era judeu e pagou a ele para fazer isso. Sua mulher, judia, lhe deu a ideia. Isso chegava a ser engraçado. Ma rianne não era judia; e, do jeito que estavam as coisas entre eles durante a maior parte do tempo, ela não o teria convencido a esperar o sinal abrir antes de atravessar uma rua movimentada. Mas naquele dia, 14 de janeiro de 1989, eles tinham esquecido seus problemas e se dado as mãos. Um admirador desconhecido lhe mandara de presente uma camiseta. blasfêmia é um crime sem vítimas. Mas agora a vitória do Iluminismo pa recia temporária, reversível. A linguagem antiga fora renovada, ideias derro tadas estavam avançando. Em Yorkshire, tinham queimado seu livro. Agora, ele também estava zangado. “Como é frágil a civilização”, ele escreveu no The Observer, com que facilidade, com quanta alegria um livro é queimado! Dentro de meu romance, seus personagens buscam tornar-se plenamente humanos ao enfrentar com coragem os grandes fatos do amor, da morte e (com ou sem Deus) a vida da alma. Fora dele, as forças da desumanidade estão em marcha. “Linhas de ba JOSEPH ANTON•miolo.indd 130 8/28/12 5:37 PM talha estão sendo traçadas hoje na Índia”, diz um de meus personagens. “Secular versus religioso, a luz versus as trevas. É melhor você escolher de que lado está.” Agora que a batalha chegou à Grã-Bretanha, só posso esperar que não seja per dida por inação. Está na hora de escolher. Nem todos viam as coisas desse modo. Houve muitas atitudes evasivas, sobretudo por parte de membros do Parlamento com grande número de elei tores muçulmanos. Um dos parlamentares de Bradford, Max Madden, junta mente com Jack Straw, ambos com um digno histórico de defesa da liberdade de expressão, colocaram-se docilmente do lado muçulmano do muro, junta mente com outros nomes combativos do Partido Trabalhista, como Roy Hat tersley e Brian Sedgemore. Defendendo a peça Perdition, de Jim Allen, Straw escrevera, em setembro de 1988: “Sua ideia [...] é para mim repulsiva [...] mas ser democrata consiste em conceder o direito de livre expressão àqueles de quem discordamos profundamente”. Dessa vez, porém, Straw resolveu apoiar aqueles que queriam uma ampliação da lei de blasfêmia de forma a cobrir todas as religiões (a lei de difamação blasfema do Reino Unido só protegia a Igreja Anglicana) e proibir a circulação de textos que “afrontassem o sentimento reli gioso”. (Apesar do que desejava o sr. Straw, a lei da blasfêmia foi abolida em 2008.) Max Madden se disse “triste” com o fato de “Rushdie ter intensificado os protestos com relação a Os versos satânicos ao se recusar a dar aos muçulmanos algum direito de resposta (propus uma breve inserção [no romance] que per mitisse aos muçulmanos explicar por que consideravam o livro de Rushdie insultuoso)”. Seu colega Bob Cryer, também parlamentar por Bradford, opôs -se com ousadia aos muçulmanos e nem por isso perdeu sua cadeira. Max Madden o acusou de ser “reticente” em relação a um confronto com seus oponentes. Ele pegou um trem para Birmingham a fim de participar de um debate no programa Daytime Live, da bbc, com um dos líderes muçulma nos, Hesham el-Essawy, untuoso dentista da Harley Street que se apresenta va como um moderado disposto apenas a acalmar a situação tensa. Enquanto estavam no ar, formou-se uma passeata diante do prédio da bbc, e os manifes tantes podiam ser vistos pelas janelas de vidro às suas costas, gritando ameaças. A situação não melhorou nem se acalmou. Um dia depois da queima do livro em Bradford, a W. H. Smith, a maior rede britânica de livrarias, retirou o livro das prateleiras de todas as suas 430 JOSEPH ANTON•miolo.indd 131 8/28/12 5:37 PM lojas. Seu diretor executivo, Malcolm Field, declarou: “Não desejamos, de mo do algum, ser vistos como censores. O que queremos é proporcionar ao públi co o que ele deseja”. A cada dia, maior se tornava o abismo entre o “Salman” privado que ele julgava ser e o “Rushdie” público que ele mal reconhecia. Um deles, Salman ou Rushdie, ele próprio não sabia ao certo quem, consternava-se com o número de políticos trabalhistas que, por oportunismo, dava força ao clamor muçul mano — afinal, durante toda a vida ele apoiara os trabalhistas — e notava com azedume que “os verdadeiros conservadores da Grã-Bretanha encontram-se hoje no Partido Trabalhista, enquanto todos os radicais vestem azul”. Era difícil não admirar a eficiência de seus inimigos. Mensagens eram enviadas, por fax e telex, de um país a outro, documentos de uma página cir culavam entre mesquitas e outras organizações religiosas, e dentro de muito pouco tempo todo mundo entoava a mesma música. A moderna tecnologia da informação estava sendo usada a serviço de ideias retrógradas: o medieval fa zia o moderno voltar-se contra si mesmo, a serviço de uma visão de mundo que detestava a própria modernidade — a modernidade racional, sensata, ino vadora, secular, desafiadora, a antítese da fé mística, estática, intolerante, estul tificante. A maré montante do radicalismo islâmico era descrita por seus pró prios ideólogos como uma “revolta contra a história”. A história, o progresso dos povos ao longo do tempo, era ela própria a inimiga, mais que quaisquer infiéis ou blasfemadores. Mas o novo, que era a criação supostamente despre zada da história, podia ser empregado para reviver o poder do velho. No entanto, além de adversários, surgiram também aliados. Ele almoçou com o sírio Aziz al-Azmeh, professor de estudos islâmicos na Universidade de Exeter, que nos anos seguintes escreveria algumas das mais incisivas críticas ao ataque movido contra Os versos satânicos, bem como algumas das mais fun dadas defesas, com base na tradição islâmica, do romance. Conheceu a escri tora Gita Sahgal, militante feminista e defensora dos direitos humanos, filha da famosa romancista indiana Nayantara Sahgal e sobrinha-neta de Jawaharlal Nehru. Gita era uma das fundadoras do grupo Mulheres Contra o Fundamen JOSEPH ANTON•miolo.indd 132 8/28/12 5:37 PM talismo, que tentou, corajosamente, opor-se aos manifestantes muçulmanos. Em 28 de janeiro de 1989, cerca de 8 mil muçulmanos desfilaram pelas ruas de Londres, reunindo-se no Hyde Park. Gita e suas colegas organizaram uma contramanifestação em desafio aos manifestantes, sendo agredidas fisicamente e até derrubadas no chão, embora isso não as tenha detido. Em 18 de janeiro, Bruce Chatwin morreu, em Nice, na casa de sua amiga Shirley Conran. O romance estava para ser publicado nos Estados Unidos — a edição americana, bem bonita, chegou à sua casa — e houve ameaças de “assassina tos e desordem” por parte de muçulmanos americanos. Correu o boato de que havia um prêmio de 50 mil dólares por sua cabeça. Houve discussões acaloradas na imprensa, mas por ora a maior parte dos comentários editoriais estava a seu favor. “Estou travando a batalha da minha vida”, ele escreveu em seu diário, “e na semana passada comecei a sentir que estou ganhando. To davia, o medo da violência permanece.” Ao ler esse registro mais tarde, ele se espantou com o otimismo que dele transparecia. Mesmo nessa proximidade com a ameaça vinda do Irã, ele não fora capaz de prever o futuro. De profeta, não tinha nada. Ele começara a levar duas vidas: a vida pública da controvérsia e o que restava de sua vida privada. O dia 23 de janeiro de 1989 assinalou o primeiro aniversário de seu casamento com Marianne. Ela o levou à ópera para assistir Madame Butterfly. Havia adquirido excelentes lugares na primeira fila do bal cão nobre e, no momento em que as luzes diminuíram, a princesa Diana en trou e sentou-se ao lado dele. Ele ficou a se perguntar o que ela pensaria a respeito do enredo da ópera, sobre uma mulher a quem o homem, após pro meter-lhe amor, abandona-a e depois volta, já casado com outra, para despe daçar-lhe o coração. No dia seguinte, na cerimônia de entrega do prêmio Livro do Ano Whit bread, seu romance, ganhador na categoria Melhor Romance, disputava o prê mio com quatro ganhadores em outras categorias, entre os quais a biografia de Tolstói, de A. N. Wilson, e The comforts of madness, o primeiro romance de Paul Sayer, ex-enfermeiro de um hospital psiquiátrico. Ele se encontrou com Sayer no banheiro masculino. O rapaz estava passando mal, tamanho era seu nervosismo, e ele tentou tranquilizá-lo. Uma hora depois, Sayer ganhou o prê mio. Quando vazaram as informações sobre a decisão do júri, ficou claro que JOSEPH ANTON•miolo.indd 133 8/28/12 5:37 PM dois dos jurados, Douglas Hurd, secretário do Interior do gabinete tóri, e o jornalista conservador Max Hastings, haviam eliminado Os versos satânicos por motivos não totalmente literários. O barulho das manifestações havia, por assim dizer, chegado até o júri e exercido seu efeito. Ele teve sua primeira desavença com Peter Mayer e Peter Carson na Pen guin, porque não estavam dispostos a contestar em juízo a proibição do livro na Índia. Graham Greene, que desejava se encontrar com escritores de origem não britânica residentes em Londres, convidou-o para um almoço. Ele foi a esse almoço, no Reform Club, junto com Michael Ondaatje, Ben Okri, Hanan al -Shaykh, Wally Mongane Serote e alguns outros, entre os quais Marianne. Ao chegar lá, deu com Greene, enorme, dobrado numa poltrona funda, mas o homenzarrão pôs-se de pé com um salto e exclamou: “Rushdie! Sente-se aqui e me conte como foi que você conseguiu causar tanta confusão! Eu nunca con segui criar um rolo desses!”. Isso foi curiosamente reconfortante. Greene perce bera como o coração dele estava pesado e do quanto precisava de um momen to de descontração e apoio. Ele se sentou ao lado da grande figura, contou-lhe o que pôde. Greene ouviu com toda a atenção e, a seguir, sem fazer nenhum julgamento, bateu palmas e exclamou: “Muito bem. Almoço”. Não comeu qua se nada, mas bebeu quantidades generosas de vinho. “Eu só como”, disse, “por que assim posso beber um pouco mais.” Depois do almoço, o grupo foi foto grafado na escadaria de entrada do clube, com Greene sorrindo no centro da foto com um casaco curto, parecendo Gulliver em Lilliput. Várias semanas depois, ele mostrou essa fotografia a um dos membros de sua equipe de proteção da Divisão Especial. “Esse aqui é Graham Greene”, dis se, “o grande romancista britânico.” “Eu sei”, respondeu o policial, pensativo. “Ele já foi um dos nossos.” O livro estava recebendo excelentes críticas nos Estados Unidos, mas no dia 8 de fevereiro ele recebeu uma crítica ambígua de sua mulher, que lhe disse que iria deixá-lo; no entanto, ela ainda queria que ele fosse ao jantar comemo rativo da publicação de John Dollar. Quatro dias depois, chegou ao fim o estra nho interregno entre publicação e calamidade. JOSEPH ANTON•miolo.indd 134 8/28/12 5:37 PM
Download