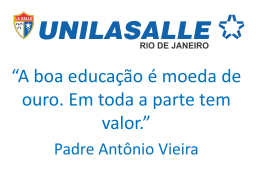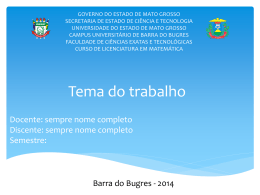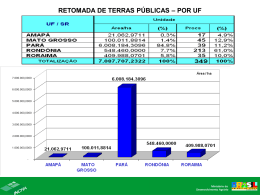Polifonia PERIÓDICO DO Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem-Mestrado Número 20 – 2009 – issn 0104-687X Estudos LITERÁRIOS POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 1-172 2009 issn 0104-687x MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Reitora Maria Lúcia Cavalli Neder Vice-Reitor Francisco José Dutra Souto Pró-Reitora Administrativa Valéria Calmon Cerisara Pró-Reitora de Planejamento Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça Pró-Reitora de Ensino de Graduação Myrian Thereza Moura Serra Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação Leny Caselli Anzai Pró-Reitor de Pesquisa Adnauer Tarquínio Daltro Pró-Reitor de Vivência Acadêmica e Social Luis Fabrício Cirillo de Carvalho Diretora do Instituto de Linguagens Rosângela Cálix Coelho da Costa Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagem Cláudia Graziano Paes de Barros Coordenador da Editora Universitária Marinaldo Divino Ribeiro Conselho Editorial Ana Antônia de Assis-Peterson – UFMT António Manuel de Andrade Moniz – Universidade Nova de Lisboa Cássia Virgínia Coelho de Souza – UFMT Célia Maria Domingues da Rocha Reis – UFMT Cláudia Graziano Paes de Barros – UFMT Daniel Faïta – IUFM/FR Diana Boxer – University of Florida Elias Alves de Andrade – UFMT Enid de Abreu Dobránsky – USF Franceli Aparecida da Silva Mello – UFMT Helena Nagamine Brandão – USP Lúcia Helena Vendrúsculo Possari – UFMT Ludmila de Lima Brandão – UFMT Manoel Mourivaldo Santiago Almeida – USP Marcos Antônio Moura Vieira – UFMT Maria Inês Pagliarini Cox – UFMT Maria Rosa Petroni – UFMT Marilda C. Cavalcanti – UNICAMP Mário Cezar Silva Leite – UFMT Nancy H. Hornberger – University Of Pennsylvania Piers Armstrong – Dartmouth College Rhina Landos Martinez André – UFMT Roberto Leiser Baronas – UFSCAR Simone de Jesus Padilha – UFMT Sônia Aparecida Lopes Benites – UEM Stella Maris Bortoni – UnB Vera Lúcia Menezes de O. e Paiva – UFMG Editores Executivos Ana Antônia de Assis-Peterson Maria Inês Pagliarini Cox Maria Rosa Petroni Organizadores Franceli Aparecida da Silva Mello Rhina Landos Martinez André Polifonia PERIÓDICO DO Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem-Mestrado Número 20 – 2009 – issn 0104-687X Estudos LITERÁRIOS POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 1-172 2009 issn 0104-687x Universidade Federal de Mato Grosso Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 Bairro Boa Esperança – Campus Universitário Gabriel Novis Neves CEP: 78.060-900 – Cuiabá-MT – Brasil Fones: 0XX-65-3615.8408 – Fax: 3615.8413 Polifonia Periódico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem – Mestrado Instituto de Linguagens Universidade Federal de Mato Grosso Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 Bairro Boa Esperança – Campus Universitário Gabriel Novis Neves CEP: 78.060-900 – Cuiabá-MT – Brasil Fones: 0XX-65-3615.8408 – Fax: 3615-8418 e-mail: [email protected] Ficha Catalográfica - Biblioteca Central Polifonia. Periódico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem - Mestrado [do] Instituto de Linguagens, Universidade Federal de Mato Grosso - Ano 17. nº 20. (2009). Cuiabá: Editora Universitária, V. I; 22,5 cm 172p. Semestral I. Universidade Federal de Mato Grosso ISSN 0104-687x Capa, Editoração e Projeto Gráfico: Candida Bitencourt Haesbaert FAPEMAT Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 – Bairro Boa Esperança Fone: (65) 3615 8322 – fax: (65) 3615 8325 Cuiabá – MT – 78.060-900 [email protected] Rua 03, s/nº, 3º andar, Prédio da IOMAT, C. Fone 65-3613-3500 - Fax: 65-3613-3502 CEP 78050-970 - Cuiabá-MT. [email protected] www.fapemat.mt.gov.br SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ARTIGOS AUTORES, AUTORIA E PODER: ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO CAMPO LITERÁRIO EM MATO GROSSO.............................................1 Franceli Aparecida da Silva Mello Wanda Cecília Correa de Mello DIÁLOGO ENTRE JORNALISMO E LITERATURA NA VIDA E OBRA DE JOÃO ANTÔNIO................19 Carlos Alberto Farias de Azevedo Filho DAS LETRAS ÀS CIFRAS: LITERATURA E VALORES NO SÉCULO XIX . .............................43 Simone Cristina Mendonça ÊXTASE ENFERMIÇO: TRANSCENDÊNCIA POÉTICA E VOLÚPIA DA PRECIPITAÇÃO NO DECADENTISMO BRASILEIRO – UM EXEMPLO EM CRUZ E SOUSA...........................................53 Fabiano Rodrigo da Silva Santos ESAÚ E JACÓ E MEMORIAL DE AIRES: A ABOLIÇÃO E A REPÚBLICA SOB O OLHAR MACHADIANO...................................................69 Adriana da Costa Teles MATO GROSSO NA LITERATURA BRASILEIRA: IMAGEM, MEMÓRIA E VIAGEM.........................83 Olga Castrillon-Mendes FERNANDO PESSOA, O POETA DESCONFIADO: UMA BREVE LEITURA DE CANCIONEIRO...........93 Lucelena Ferreira NOS ARREDORES DO FANTÁSTICO MATOGROSSENSE: O BERRO DE TEREZA......103 Mário Cezar Silva Leite José Alexandre Vieira da Silva CAPITALISMO E ESQUIZOFRENIA: A SUBJETIVI DADE BLOQUEADA NA DUPLA ESCRITURA DE TEATRO DE BERNARDO CARVALHO...............119 Maria Carlota de Alencar Pires O LIVRO DAS IGNORÃÇAS COMO VOZ LÍRICA DE INSCRIÇÃO ÉPICA..........................................137 Jamesson Buarque de Souza Marta Helena Cocco O CÃO E O HOMEM NO ROMANCE Los perros hambrientos DE CIRO ALEGRIA..................151 Rhina Landos Martínez André Patrícia Oliveira Lacerda CONTENTS PRESENTATION ARTICLES AUTHORS, AUTHORSHIP AND POWER: ASPECTS OF THE CONSTITUTION OF THE LITERARY FIELD IN MATO GROSSO...................1 Franceli Aparecida da Silva Mello Wanda Cecília Correa de Mello DIALOGUE BETWEEN JOURNALISM AND LITERATURE IN THE LIFE AND WORK OF JOÃO ANTÔNIO ...............................................19 Carlos Alberto Farias de Azevedo Filho FROM LETTERS TO NUMBERS: LITERATURE AND VALUES IN THE NINETEENTH CENTURY............ 43 Simone Cristina Mendonça SICKY ECSTASY: POETIC TRANSCENDENCE AND RAPTURE OF PRECIPITATION IN BRAZILIAN DECADENTISM - AN EXAMPLE IN CRUZ E SOUSA.............................................53 Fabiano Rodrigo da Silva Santos ESAÚ E JACÓ AND MEMORIAL DE AIRES: ABOLITION AND THE REPUBLIC UNDER MACHADO’S EYES............................................69 Adriana da Costa Teles MATO GROSSO IN THE BRAZILIAN LITERATURE: IMAGE, MEMORY AND TRAVEL........................83 Olga Castrillon-Mendes FERNANDO PESSOA, THE SKEPTICAL POET: A SHORT READING OF CANCIONEIRO...............93 Lucelena Ferreira CLOSE TO THE FANTASTIC IN THE MATO GROSSO LITERATURE: THE CRY OF TEREZA................. 103 Mário Cezar Silva Leite José Alexandre Vieira da Silva CAPITALISM AND SCHIZOPHRENIA: OBSTRUCTED SUBJECTIVENESS OF DOUBLE ENTENDRES IN THE NOVEL THEATER BY BERNARDO CARVALHO..................................119 Maria Carlota de Alencar Pires O LIVRO DAS IGNORÃÇAS AS LYRICAL VOICE OF EPIC INSCRIPTION....................................137 Jamesson Buarque de Souza Marta Helena Cocco THE DOG AND THE HUMAN IN Los perros hambrientos BY PERUVIAN WRITER CIRO ALEGRÍA BAZÁN.............................................151 Rhina Landos Martínez André Patrícia Oliveira Lacerda Apresentação Ao percorrer as páginas desta edição de número 20 da Revista Polifonia, o leitor encontrará textos das mais variadas temáticas e abordagens teóricas, o que reflete uma tendência atual da pesquisa no campo dos Estudos Literários. Que bom! Afinal, a diversidade é da natureza da literatura; bem como seu caráter simultaneamente democrático e elitista. Pois, se por um lado, o texto literário se oferece ao gozo e julgamento de qualquer pessoa; por outro, só aos especialistas são dadas as prerrogativas de estudá-lo e consagrá-lo no espaço acadêmico. A luta pela legitimação do escritor é um dos assuntos abordados por mim e Wanda Cecília Correa de Mello, no artigo “Autores, Autoria e Poder: aspectos da constituição do campo literário em Mato Grosso”, no qual se conclui que a inserção de um autor no campo literário depende, não só de seu talento, como de sua relação com as várias instâncias de poder. Embora não trate especificamente do tema, o artigo de Carlos Alberto Farias de Azevedo Filho, “Diálogo entre jornalismo e literatura na vida e obra de João Antônio”, refere as posições de poder conquistadas no exercício do jornalismo, como fator fundamental para que muitos escritores pudessem se fazer conhecidos e reconhecidos pelo público e pela crítica. Este é o caso de João Antonio, Machado de Assis, Visconde de Taunay e Cruz e Sousa, só para citar autores estudados nesta revista. Todos eles tinham consciência do poder de publicidade e consagração da imprensa, especialmente os do século XIX, para quem o espaço para a divulgação da literatura impressa restringia-se ao jornal e ao livro. E nem todos tinham condições de publicar livros, como nos informa o artigo de Simone Cristina Mendonça, “Das letras às cifras: literatura e valores no século XIX”, que trata do esforço dos autores do XIX em estabelecer redes de relações pessoais e profissionais para o (e no) exercício da literatura. Naquele tempo, Machado de Assis e o Visconde de Taunay saíram-se melhor do que Cruz e Sousa nesta empreitada. _ Talvez por ser negro e/ou por morar numa província distante da Corte, ou, ainda, por sua opção estética (o simbolismo/decadentismo não tinha muito prestígio entre as instâncias consagradoras da época, entendam-se a Academia Brasileira de Letras e os escritores consagrados), pode (m) ter contribuído para isso _. O fato é que o poeta catarinense morreu pobre e amargurado por não ver reconhecido seu talento. Talvez estivesse à frente de seu tempo, como demonstra o artigo “Êxtase enfermiço: transcendência poética e volúpia da precipitação no decadentismo brasileiro – um exemplo em Cruz e Sousa”, de Fabiano Rodrigo da Silva Santos, pois, segundo o autor, ao precipitar-se nos abismos, ao percorrer a vereda entrelaçada entre o grotesco e o sublime, o poeta teria aderido a uma nova estética, surgida no seio da Modernidade e aparentemente até então desconhecida pelas letras nacionais. Mais sintonizados com o seu tempo estavam Machado de Assis e o Visconde de Taunay, como demonstram os artigos de Adriana da Costa Teles e Olga Castrillon-Mendes, respectivamente. Em “Esaú e Jacó e Memorial de Aires: a abolição e a república sob o olhar machadiano”, Teles discute alguns aspectos da maneira _ indireta _ pela qual Machado retratou nos seus últimos romances aquele momento da história brasileira. Tomando a obra do Visconde de Taunay como emblemática para se pensar a construção imagética de Mato Grosso, Castrillon-Mendes, em “Mato Grosso na literatura brasileira: imagem, memória e viagem”, a insere na discussão do Romantismo e do gênero paisagístico brasileiro, logrando fazer-nos compreender o processo de elaboração das imagens da natureza e as vinculações ideológicas dela decorrentes. Segundo a autora, o tratamento dispensado à natureza na obra de Taunay articula sentimento e razão, na medida em que acrescenta ao modo romântico de representação da paisagem o projeto ideológico de construção nacional de então. O binômio sentimento/razão também se insinua no artigo de Lucelena Ferreira, “Fernando Pessoa, o poeta desconfiado: uma breve leitura de Cancioneiro”, que investiga a categoria intelectual do pensamento na escrita do ortônimo, esta identificada como uma poesia analítica e intelectualizada, tingida pela busca de significados para o desconhecido. Ao racionalismo exacerbado desta obra de Fernando Pessoa, pode-se opor o misticismo do romance de Tereza Albues, analisado por Mário Cezar Silva Leite e José Alexandre Vieira da Silva no artigo “Nos arredores do fantástico mato-grossense: o berro de Tereza”. Na obra da autora mato-grossense, seus analistas apontam para a recorrência de aspectos sobrenaturalizados, supra-humanos e epifânicos, que convivem no mesmo ambiente narrativo através da intromissão brutal do mistério. Ainda que distantes no tempo e no espaço, a obra do poeta português e da romancista brasileira revelam o homem como um ser estranho para si mesmo. No limite do estranhamento de si mesmo, temos o romance de Bernardo Carvalho, analisado por Maria Carlota de Alencar Pires em “Capitalismo e esquizofrenia: a subjetividade bloqueada na dupla escritura de Teatro de Bernardo Carvalho”. Em seu artigo, a autora vê na linguagem esquizofrênica do romance um sintoma do mal-estar em que novos paradigmas do capitalismo, em fins do século XX, promovem o aprisionamento das subjetividades. Estas subjetividades ocupam, nas narrativas contemporâneas, espaços abertos ou fechados e tornam-se cada vez mais “bloqueadas”, seja no nível mental, seja no social, e se enredam na antilógica cultural do capitalismo tardio. Isto parece não acontecer no mundo pantaneiro descrito na poesia de Manoel de Barros, conforme afirmam Jamesson Buarque de Souza e Marta Helena Cocco em seu artigo, “O Livro das Ignorãças como voz lírica de inscrição épica”. Segundo os autores, o eulírico na poesia de Barros revela-se totalmente integrado ao mundo que o rodeia, de tal forma que se pode falar numa identidade/fusão entre o habitante do mundo pantaneiro com seu ethos particular. Tal identidade é interpretada pelos articulistas como uma tentativa de questionar a supremacia humana diante de outros seres. Se em Manoel de Barros homens, animais e plantas aparecem em pé de igualdade; na obra de Ciro Alegria esta proposição se radicaliza, a ponto de ocorrer uma inversão de comportamentos, ou seja, o homem se desumaniza enquanto o animal se humaniza. É o que demonstram Rhina Landos Martínez André e Patrícia Oliveira Lacerda, no artigo “O cão e o homem no romance Os cães famintos de Ciro Alegria”, ao analisarem o processo de zoomorfização e antropomorfização ocasionados pelas forças antagônicas, enfrentamentos e jogos de poder. Nesta apresentação, destaquei apenas algumas questões que me chamaram a atenção nos artigos deste número da Revista Polifonia. Não quero, nem posso, tirar do leitor o direito, nem o prazer de descobrir outras leituras. Afinal, isto faz parte da já referida natureza democrática da literatura. Ainda bem! Franceli Aparecida da Silva Mello AUTORES, AUTORIA E PODER: ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO CAMPO LITERÁRIO EM MATO GROSSO Franceli Aparecida da Silva Mello1 Wanda Cecília Correa de Mello2 A literatura não existe num vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade. Todas as demais são relativas e temporárias e só podem ser avaliadas de acordo com o ponto de vista particular de cada um. (Ezra Pound, in Abc da literatura, 2003). Resumo: Este artigo procura, num primeiro momento, discutir algumas definições de autor e autoria, baseado em diferentes concepções teóricas, tais como as de Foucault, Barthes, Bourdieu, Possenti e outros. Em seguida, comenta a produção de quatro dos autores mais representativos da literatura mato-grossense _ Dom Aquino, Silva Freire, Ricardo Guilherme Dicke e Ivens Cuiabano Scaff _ no que tange a sua relação com as várias instâncias de poder, visando à inserção no campo literário. Palavras-chave: Autoria, poder, campo literário, Mato Grosso. AUTHORS, AUTHORSHIP AND POWER: ASPECTS OF THE CONSTITUTION OF THE LITERARY FIELD IN MATO GROSSO Abstract: This article intend, at first, to discuss some definitions of author and authorship, based on different theoretical concepts, such as Foucault, Barthes, Bourdieu, Possenti et al. After that, it comments the production of four most representative authors of the literature mato-grossense _ Dom Aquino, Silva Freire, Ricardo Guilherme Dicke and Ivens Scaff _ with respect to its relationship with the various instances of power, aimed at including in the literary field. Keywords: Authorship, power, literary field, Mato Grosso. 1 Doutora em Literatura Brasileira e professora de Teoria Literária no Departamento de Letras e do Mestrado em Estudos de Linguagem/IL/UFMT. Pesquisadora do Grupo RG Dicke de Estudos em Cultura e Literatura de Mato-Grosso. [email protected] 2 Mestre em Estudos de Linguagem e professora de Língua Portuguesa nas redes Estadual e Municipal de Ensino de Várzea Grande/MT. Pesquisadora do Grupo RG Dicke de Estudos em Cultura e Literatura de Mato-Grosso. [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 1-17 2009 issn 0104-687x Na obra O que é um autor? (2002) Foucault busca inicialmente desfazer a identificação habitual entre as unidades do livro, da obra e do autor através do significado do que ele chama de “função-autor”. Esta carece ainda de uma análise histórica dos discursos – o seu valor segundo as modalidades de sua existência. Alguns discursos, no interior de uma cultura, são providos dessa “função-autor” e outros não, sendo que, para Foucault, a função-autor estaria ligada a um sistema jurídico e institucional, não podendo ser exercida em todos os discursos, épocas e formas de civilização de maneira uniforme, uma vez que não poderia ser atribuída espontaneamente ao seu produtor, podendo dar lugar simultaneamente a várias posições-sujeito, ocupadas por diferentes classes de indivíduos. Segundo ele, não se pode definir um autor sem pensar em obra. A noção de autor constitui o momento forte da individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de filosofia, creio que tais unidades continuam a ser consideradas como recortes relativamente fracos, secundários e sobrepostos em relação à unidade primeira, sólida e fundamental, que é a de autor e de obra (2002:33). Assim, não basta escrever para ser autor, no que concorda Sírio Possenti (2002), é necessário que aquele que escreve seja “dono” de seu discurso e que se inscreva em alguma instância de poder capaz de inserir-se no campo literário. A autoria, ou a responsabilidade de um autor sobre um discurso, começou quando a sociedade passou a exigir que alguém assumisse juridicamente sua fala. Em muitas culturas, incluindo a nossa, o discurso era uma ação entre o sagrado e o profano, o legal e o ilegal, ou que se situava no campo do religioso e daquilo que estava entre as blasfêmias. Houve um embate para que o sistema de posse e regras do copyright fosse estabelecido – entre os séculos XVIII e XIX – a partir daí, foi como se o autor, aceito na ordem social da propriedade, pudesse compensar seu novo status com 2 a prática da transgressão. Há que se compreender, no entanto, que o que Foucault chama de “função-autor” não é nem universal, nem constante em todas as civilizações. Houve época em que os textos hoje conhecidos como “literários” – histórias, contos populares e similares – circulavam e eram valorizados sem que se questionasse sua autoria. Entretanto, a partir do século X, o discurso literário passou a só ser considerado quando carregasse o nome do autor de cada texto. Em sua análise acerca do que faz um autor chegar a sê-lo, Foucault conclui que a discursividade é a marca do autor, entendendo o “discurso” como um corpo do pensamento e da escrita que é unida tendo um objeto comum de estudo, uma metodologia comum, e/ou de um jogo de termos e de idéias comuns; a idéia do discurso permite assim que ele fale sobre uma variedade larga dos textos, de países diferentes e dos gêneros históricos diferentes e diferentes disciplinas. Para Roland Barthes (1970), entretanto, a questão da autoria adquire outros contornos que não apenas esses. Para ele, falta uma “sociologia da palavra”, para se conceituar o que é escritor, uma vez que a palavra é poder, um poder que detém, em diversos graus, a linguagem de uma nação. Segundo o autor, foi na França pós-Revolução que os políticos se apropriaram “da língua dos escritores com fins políticos”, processo no qual os escritores também contribuíram para alargar a função literária a fazer dessa palavra institucionalizada da qual são ainda proprietários reconhecidos, o instrumento de uma nova ação; e ao lado dos escritores propriamente ditos, constitui-se e desenvolve-se um novo grupo, detentor da linguagem pública (Barthes, 1970:32) A esses, Barthes chama de escreventes. A diferença entre escritor, que neste caso também é autor, e escrevente, é que enquanto o primeiro realiza uma função, o segundo realiza uma atividade. O escritor tem o poder de abalar o mundo, uma vez que sua verdadeira responsabilidade é a de “suportar o mundo como um engajamento fracassado” (Barthes, 1970:35), para Barthes não há uma escrita engajada, 3 já que a literatura é sempre irrealista, o que lhe permite fazer perguntas ao mundo sem que elas sejam diretas ou excessivamente agressivas. Ao participar do jogo proposto pelo escritor, o leitor transforma o objeto em um mito: o mito do bem-escrever. Pierre Bourdieu (2002) entende que ambos – escritor e autor – são um só. Aquele que escreve é, ainda que minimamente, responsável por seu texto, o que o tornaria o “autor” deste – a autoria considerada como o “fazer consciente” e, segundo ele, o campo literário é o lugar universalmente definido como apropriado para a definição e análise legítima do que seja um escritor/autor. A autoria exige, desse modo e, sobretudo, uma responsabilidade que não se restringe ao sentido jurídico do termo, mas que se estende, também, e com igual rigor perante a sociedade, à história e ao meio. Isto é, perante o contexto sócio-histórico em que se insere o autor. Isso faz com que, para que alguém se apresente como autor, seja preciso assumir diante às instituições (visto que a própria autoria é uma função institucionalizada) o papel social que se constitui a partir de sua relação com a linguagem e o mundo. Isto se torna um dos princípios para o agrupamento, o domínio sobre as várias posições nas quais se instaura o sujeito, imprimindo a ele significações coerentes e dando sentido aos fatos. O autor, assim pensado, passa a ser analisado como função complexa do próprio discurso, e não como seu fundador originário. Aqui, discurso, bem entendido, tem a conotação que lhe dá Sírio Possenti (2002:18) “(...) como um tipo de sentido – um efeito de sentido, uma posição, uma ideologia – que se materializa na língua, embora não mantenha uma relação biunívoca com recursos de expressão da língua”. Faoro (2001) lembra que as condições sociais contribuíram de maneira decisiva para as estratégias de apropriação dos meios para alguém ser alçado à condição de escritor, embora, na maior parte das vezes, de maneira subliminar. Em seu livro As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário (2002), Bourdieu identifica um microcosmo cujos participantes, em simultâneas relações de concorrência e solidariedade entre si, produzem uma arte social. Assim, e especialmente a partir de Napoleão III, teríamos 4 os defensores da idéia de que a elaboração artística deveria expressar os conflitos presentes na sociedade. Em contraposição a este pensamento, os defensores da arte pela arte, secundarizavam os conteúdos abordados em nome de uma pesquisa sempre renovada da linguagem, desconsiderando que a estrutura do espaço social representado nos romances é também a estrutura do espaço social no qual seu próprio autor estava situado (Bourdieu:2004). Para Bourdieu, o campo literário é um espaço social que reúne diferentes grupos, que mantêm relações determinadas entre si e também com o campo do poder. “Este universo aparentemente anárquico e de bom grado libertário [...] é o lugar de uma espécie de balé bem ordenado no qual os indivíduos e os grupos desenham suas figuras” (Bourdieu, 2002, p. 133). De acordo com o autor (2002, 2004), no campo literário, o estabelecimento e manutenção dos espaços de poder estão condicionados a um campo de forças que subordina o artista a critérios socialmente/culturalmente definidos e faz com que sua obra seja aceita. A primeira aceitação é, à primeira vista, aquela realizada entre os componentes do campo, ou seja, a obra literária terá que ser avalizada por alguém – um autor – que já tenha ultrapassado o campo literário e tenha sido reconhecido em outros campos – econômico, cultural etc. Bourdieu considera que o princípio de consagração (illusio) está no jogo e no valor das apostas que permitem aos artistas já consagrados constituírem certos produtos pelo milagre da assinatura (griffe) e essa assinatura serve com moeda fiduciária para as relações de troca entre os participantes do campo. É interessante notar que esse poder de sacralização – e, consequentemente, de dessacralização – é, na verdade, um jogo de espelhos, uma vez que quem consagra é também consagrado no mesmo ato e que esse ato é coletivo. Nas palavras do autor, Para dar uma idéia do trabalho coletivo de que ela [a consagração] é o produto, seria preciso reconstituir a circulação dos incontáveis autos de crédito que se trocam entre os agentes envolvidos no campo artístico, entre os 5 artistas, evidentemente com as exposições de grupo ou os prefácios pelos quais os autores consagrados consagram os mais jovens que os consagram em troca como mestres ou chefes de escola, entre os artistas e os mecenas ou os colecionadores, os artistas e os críticos, e, em particular, os críticos de vanguarda que se consagram obtendo a consagração dos artistas que defendem ou operando redescobertas ou reavaliações de artistas menores nos quais empenham e põe à prova seu poder de consagração e assim por diante. (2002:260, grifo nosso)3 Até meados do séc. XIX, a consagração do escritor passava, necessariamente, pelas Academias de Letras. No Brasil, as Academias, forjadas aos moldes franceses, arrogavam-se o direito de escolher aqueles que podiam ou não participar do grupo, baseadas em critérios como o de adequação ao gosto pessoal dos acadêmicos, à escola literária ou ao projeto político governamental do momento. Por vezes, critérios “inconfessáveis” determinavam a aceitação de alguns membros, como o pertencimento a famílias “tradicionais”, ou sua proximidade a elas, o “você sabe com quem está falando”, discutido por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil (2004) e por Roberto DaMatta em Carnavais, malandros e heróis (1997). Inspirado nos estudos do francês Aléxis de Tocqueville, DaMatta traça um panorama do Brasil que oscila entre a tendência meritocrática proposta pela revolução francesa e aquela que, cristalizada no tempo, busca ainda o reconhecimento no nome de família, o que gera expressões como “paulista quatrocentão”, “carioca da gema”, “cuiabano de chapa e cruz”, entre outras. Para DaMatta, a expressão “Você sabe com quem está falando?” serve para lembrar o lugar de quem fala em situações de separação social. Esse recurso “é a negação do ‘jeitinho’, da ‘cordialidade’ e da ‘malandragem’” (DaMatta,1997.:140), uma forma de fazer com que a pessoa que fugiu a “regra” retome o “seu lugar”. 3 Caso específico desse jogo é o artigo que Silva Freire publicou em um jornal de Cuiabá acerca do trabalho de Ricardo Guilherme Dicke, naquele momento, já com visibilidade nacional como 4º lugar no Prêmio Walmap. 6 O uso dessa expressão também atingiu a literatura e fez com que pessoas que são mais “escreventes“ do que “escritores” ocupassem lugar nas Academias, em detrimento de outros, com menos “nome”; não importando a qualidade da obra, mas a assinatura (griffe) que ela carrega. É o caso de alguns políticos, autores em geral de um livro apenas, ou no muito, de dois ou três, para os quais não se utiliza o valor literário como critério de legitimação e sim seu lugar na pirâmide social. Não obstante a força dessas instâncias “oficiais” de consagração, cabe lembrar que, em alguns casos, o público reconhece como autor, entenda-se, “bom autor”, um nome que nem sempre concorreria à Academia. Incluem-se neste caso autores de best sellers cujos nomes costumam ser questionados em universidades, por exemplo, mas que granjearam posição no campo literário pela extensão do público que atingiram; entrando, neste caso, o mercado como instância legitimadora. Assim, como afirma Bourdieu, (...) a intensidade da luta [pela legitimação] varia, sem dúvida, segundo os gêneros, e segundo a raridade da competência específica que exigem em cada época, ou seja, segundo a probabilidade da “concorrência desleal” ou do “exercício ilegal” (o que certamente explica que o campo intelectual, incessantemente sob ameaça da heteronomia e dos produtores heterônomos, seja um dos lugares privilegiados para apreender a lógica de lutas que obsedam todos os campos). (2002:244) Quando se trata de analisar a formação do campo literário em Mato Grosso, há que se considerar algumas peculiaridades que nos colocam numa posição de desvantagem em relação aos circuitos de produção e comercialização de livros, o que diminui tanto o interesse quanto as condições efetivas para alguém se tornar um escritor. Este processo também altera a forma como o poder se manifesta através da literatura, fazendo com que haja, muitas vezes, uma inversão: o autor é antes conhecido por sua profissão, seu lugar na pirâmide social (muitas vezes advindo de seu nome de família) ou uma conjunção desses e outros fatores, igualmente sociais, do que por sua produção artística. Ou 7 seja, o que lhe confere poder é o lugar de onde fala mais do que o que fala. Segundo Foucault, o poder não é uma coisa, algo que se toma ou se dá, se ganha ou se perde. É uma relação de forças. Circula em rede e perpassa todos os indivíduos. Neste sentido não existe o “fora” do poder, mas um jogo de forças, presente em lutas transversais em toda sociedade engendradas e/ ou movidas pelo saber. Onde há saber, há poder. Mas é importante acrescentar que onde há poder, há resistência. Se, por um lado, novos saberes, novas tecnologias ampliam e aprofundam os poderes na sociedade disciplinar em que vivemos, por outro, sujeitos cada vez mais conscientes lutam contra as forças que tentam reduzilos a objetos, contra toda heteronomia, contra as múltiplas formas de dominação sempre criativas e renovadas. A literatura tem, então, poder, mas este está subordinado às condições sociais em que é produzida. Essa conjuntura cria, entre outras coisas, o que se convencionou chamar de “regionalismo”; este, ainda segundo Bourdieu, carrega propriedades simbólicas que, arroladas por etnólogos e sociólogos objetivistas, funcionam como sinais, emblemas ou estigmas que podem ser utilizados estrategicamente em função dos interesses materiais e simbólicos do seu portador. Para Antonio Candido, o regionalismo foi uma etapa necessária para a expressão literária. Embora “os seus produtos tenham envelhecido” (2003:159), Candido pondera que apenas em países com absoluto predomínio da cultura urbana, em seu sentido de metrópole, essa literatura se tenha tornado anacrônica. Em países como o Brasil, cuja idéia de “nação” ainda está em construção4, o regionalismo é uma forma de subsistência e resistência da literatura, e não necessariamente uma forma de alienação. As diversas formas de resistência se articulam em rede nas lutas pela autodeterminação, pela conquista efetiva da democracia, nas denúncias contra o preconceito, nas revoltas contra toda forma de discriminação, exclusão e violência, na preocupação com a ecologia e na reflexão crítica sobre 4 Veja-se o número de informes publicitários que tem sido publicado na mídia, cujo formato é uma revisitação da frase, “O melhor do Brasil é o brasileiro”, de Câmara Cascudo e que algumas regiões adaptaram à sua própria produção artística. 8 os limites éticos das conquistas científicas e tecnológicas. Essas lutas e seus reflexos percorrem, permeiam a criação artística e inserem a literatura no campo de embate pela legitimação de valores como o “saber regional” e a “cor local”, importantes para a autonomia literária de uma região. A professora Maria Adélia Menegazzo (2004:17) pensa o regionalismo como “o local da cultura e a cultura local ao mesmo tempo. Isto é, não só se apresenta como objeto de cultura, mas também representa a cultura de determinado objeto”. Ou seja, no regionalismo, em alguns casos, além das marcas de fala e “cor local”, se podem encontrar as lutas políticas e sociais que permeiam a vida cultural de determinado lugar. E nisso concorda Bourdieu (2002) para quem retratar, recriar, recompor, redimensionar a “realidade regional” coloca em debate as relações de poder assinaladas como mecanismos pelos quais os dominados aceitam ou resistem à dominação em todas as suas formas. Em parte, isso ocorre porque o poder político percorre e mantém a estrutura das relações em outras instâncias de poder. Segundo Raymundo Faoro (2001) e Sérgio Buarque de Holanda (2004) a formação política de Portugal redundou no formato de colonização que tivemos, o que se reflete até hoje nas relações de poder, em geral construídas a partir do campo econômico. Embora não seja apenas em Mato Grosso que isto se dê, é interessante notar o quanto aqui, o regionalismo ainda molda nossa forma de ver e pensar a cultura, em seu sentido amplo, e atua, especificamente neste trabalho, na construção do campo literário. A fim de exemplificar o que foi dito acima, passaremos a comentar a produção de quatro dos autores mais representativos da literatura local, no que tange à relação entre seu lugar social e sua legitimação no campo literário. São eles: Dom Aquino, Silva Freire, Ricardo Guilherme Dicke e Ivens Cuiabano Scaff. Por tratar-se de um campo ainda incipiente, a literatura de/produzida em Mato Grosso lança mão do discurso regionalista como parte importante de seu processo de legitimação. Dos autores escolhidos, exceto Ricardo Dicke, todos apresentam em comum o fato de terem ocupado/ocuparem 9 lugar de destaque na vida social e política local. D. Aquino foi arcebispo e presidente do Estado, Silva Freire foi considerado o melhor advogado criminalista de sua época, além de atuar como político e professor e Ivens Scaff é médico de reconhecida importância, especialmente por seu trabalho com os portadores de Aids. Nos três, a percepção do espaço social como espaço de poder alicerça sua produção escrita. A despeito da diferença de perspectiva, o fato é que, a nosso ver, todos eles se utilizam do expediente regionalista, conscientes de que, no caso de Mato Grosso, esta é a forma primária mais eficaz para sua legitimação no campo literário. D. Aquino foi, durante um longo tempo, o maior nome de referência em literatura no Estado. Nele percebe-se que a erudição é mais que um processo de construção: é a fala do artista. Reconhecido por todos os estudiosos da literatura mato-grossense como exímio orador, a matéria verbal que constitui sua obra romântico-parnasiana, como a entende Hilda Magalhães (2001), lembra em alguma dimensão o Vaso grego de Vicente de Carvalho em que se misturam traços d’ O Guarani, de José de Alencar. Investido da autoridade que a Igreja lhe outorgou e aliada a esta aquela que o Estado o fez, D. Aquino foi um homem de seu tempo. Limitado – ou acobertado? – por sua função política e religiosa, o 2º arcebispo de Cuiabá fez-se conhecer por sua luta pela constituição de um Estado forte e soberano. Transformando Mato Grosso em um micro-cosmo das discussões nacionais acerca da construção identitária, D. Aquino trabalhou a imagem do Estado optando pela exaltação de sua beleza geográfica ainda selvagem e sua riqueza, ainda inexplorada. Nada em seu discurso era gratuito. Quando no púlpito, trazia aos ouvintes o senso comum embutido na palavra “sermão”: oratória destinada à correção de enganos e erros. Sabia por que lutava e fazia questão que outros soubessem disso também. Sua expressão, escrita ou falada, tinha um claro propósito civilizatório. O anacronismo em sua obra, foi, na opinião de Hilda Magalhães, benéfico para o Estado e para a literatura regional. [Entretanto] o fato de a literatura de Mato Grosso se manter anacrônica durante toda a primeira metade do século não implica em que esse produto seja necessariamente 10 ruim. Dentro do estilo a que ela se propõe, consegue se distinguir e se afirmar no cenário literário matogrossense, não apenas pelo fato de serem as primeiras manifestações literárias com uma identidade regional, mas também pela sua qualidade. Assim, a poesia de D. Aquino é anacrônica no sentido de que se operacionaliza, em plenos anos 1920 e 1930, uma estética caudatária do Parnasianismo e do Romantismo. Mas, dentro do estilo proposto, afirma-se como uma obra importante na literatura de Mato Grosso. (Magalhães, 2001:311). A questão operacional, creio, pode ser vista sob outra ótica: a da necessidade política que havia na época de valorizar a terra e reafirmar a identidade mato-grossense. É interessante notar que o mesmo homem que falava em preservação de valores morais e cultuava o poema parnasiano, destacava-se por sua visão de futuro, como nos lembra Romancini (2005:44) Tendo em vista preparar as ruas para o tráfego de automóveis, que começavam a chegar a Cuiabá, o presidente do Estado, D. Aquino Correa, providenciou o calçamento das principais ruas de Cuiabá, em 1919: XV de novembro, Av. D. Aquino, Mundéu, Praça da República, Joaquim Murtinho e Barão de Melgaço. Esse aparente paradoxo pode ser explicado pelo que diz Manoel de Cavalcanti Proença, em artigo publicado por Carlos Gomes de Carvalho no segundo volume do Panorama da literatura e da cultura em Mato Grosso, havia dois aspectos principais na poesia de Mato Grosso: a epopéia – de D. Aquino – e o panteísmo. Cavalcanti Proença vê como “inevitável” a escolha por temas telúricos. Despertando no momento, nas letras do Estado o primeiro surto de uma literatura independente em que se busca retratar no ambiente natal o homem mato-grossense, era força que nos precursores do movimento predominasse o amor da tradição e da natureza. E a míngua de modelos que orientassem nos vates uma cristalização poética por si capaz de dar feição típica ao versejar nativo, os vanguardistas cuja formação literária se fez no deletrear de 11 livros completamente alheios aos motivos matogrossenses, teriam que adaptar-se, forçando um pouco a sinceridade. Daí resulta a poesia eminentemente objetiva que caracteriza os poetas da minha terra, especificada na história e na paisagem (Carvalho, 2004:213): É fácil reconhecer D. Aquino nesse discurso. E, guardadas as devidas proporções temporais, podemos encontrar Silva Freire e Ivens Scaff aí também. Em Silva Freire, o saudosismo entrelaça-se ao experimentalismo. O poeta é um artífice das palavras, que monta, desmonta e remonta fazendo do poema um laboratório. Segundo Neto (2001): Sabemos que várias restrições são feitas, pelos menos avisados, a respeito da poesia de Silva Freire. Tudo deriva apenas de um fato: despreparo para receber a mensagem... Mas, Magalhães (2002:162) e Leite (2005:249-250) lembram que Rubens de Mendonça, que não pode ser considerado um leitor despreparado, ingênuo ou mentalmente preguiçoso, disse não compreender o poema feito por Freire em homenagem ao nascimento de Rondon, embora o poema tenha sido elogiado por Gervásio Leite e João Antonio Neto, dois nomes também respeitados no campo literário mato-grossense. Silva Freire produziu sua poesia em plena efervescência do movimento concretista. Entretanto, em Mato Grosso, um pouco pelas condições de tráfego entre Cuiabá e as outras capitais, um pouco em nome da preservação da cultura local, o belo, em termos literários, ainda baseava-se no romantismo e na belle époque. De difícil leitura, a obra freiriana situa-se entre aquelas que, malgrado sua beleza intrínseca, são pouco estudadas – embora este não seja o único e, acreditamos, nem mesmo o mais forte motivo para o silenciamento das Academias acerca de sua obra, uma vez que Ricardo Dicke não pode ser considerado também um autor de fácil compreensão e, no entanto, tem reconhecimento nacional. 12 A figura de Dicke é cheia de contradições e desafios: avesso a entrevistas, é, no entanto, nelas que podemos encontrar um pouco do homem por trás do escritor. Há artigos sobre ele em jornais de circulação nacional – “O Estado de São Paulo”, “Folha de São Paulo”, “O Globo”, entre outros – que garantem a manutenção de seu nome entre os grandes da literatura contemporânea. Em Cuiabá, a UFMT tem contribuído para o reconhecimento mato-grossense do autor5, malgrado sua pouca propensão à ribalta. O discurso curto e algo seco nas entrevistas não dão conta de sua erudição, fato mais claramente observável em sua obra. Alguns críticos alegam que há pouca verossimilhança no que tange ao tratamento da linguagem na fala das personagens com pouca instrução formal, como é o caso da maior parte dos seus tipos, outros, porém, entendem que o pensar filosoficamente sobre a vida e o cotidiano não seja prerrogativa dos que tem instrução formal, mas de quem vive cada dia como único. Sua linguagem é erudita, com reflexões de cunho existencial que, embora pertençam ao universo das coisas de todos nós – nascer, crescer, morrer – são cunhadas de forma peculiar, tornando-se pouco acessível, na maior parte das vezes. Em Dicke podemos encontrar um regionalismo menos lúdico e mais calcado no momento político e social que Mato Grosso vivia ao final da década de 60 – quando escreveu Deus de Caim – e subsiste ainda hoje, com as constantes dissensões acerca do pertencimento da terra e à terra. Quanto a Scaff, tanto seus poemas quanto seus contos utilizam-se da história e da paisagem mato-grossenses de forma lúdica. Seguindo a vertente do regionalismo ufanista, Scaff propõe a leitura da cultura local como particularidade deste espaço, sem entrar no mérito de isso ser “bom” ou “mau”. Sua obra não pode ser considerada como unidade homogênea do pensamento mato-grossense, mas revela-se e revela seu autor na medida em que 5 São estudiosos do autor em Mato Grosso, até o momento, Juliano Moreno, Gilvone Miguel, e Everton de Almeida. Alguns outros pesquisadores, como Hilda Magalhães, Mário Cezar Leite, Carlos Gomes e nós, debruçamo-nos apenas sobre alguns aspectos de sua obra. 13 Admite-se que deve haver um nível (tão profundo quanto é preciso imaginar) no qual a obra se revela, em todos os seus fragmentos, mesmo os mais minúsculos e os menos essenciais, como a expressão do pensamento, ou da experiência, ou da imaginação, ou do inconsciente do autor, ou ainda das determinações históricas a que estava preso (Foucault, 2004) Podemos relacionar o que diz Foucault (2002) ao que assevera Bourdieu (2003), para quem há uma lógica interna nos objetos culturais em seu espaço relacional com os campos que produzem obras culturais. As determinações externas só têm força na intermediação das transformações específicas na estrutura do campo resultante. O grau de autonomia do campo é variável e proporcional ao capital simbólico acumulado através de gerações. Dado que o poder simbólico opõe-se a todas as formas de poder heterônomo conferido pelos detentores do capital cultural, a submissão aos gêneros ditados por quaisquer mudanças – sociais, políticas ou de concepções artísticas – nunca é tão grande quanto os produtores mais conservadores fazem crer. (Bourdieu, 2002:253) As lutas internas, especialmente as que opõem os defensores da “arte pura” aos defensores da “arte burguesa” ou “comercial” e levam os primeiros a recusar aos segundos o próprio nome de escritor, tomam inevitavelmente a forma de conflitos de definição, no sentido próprio do termo: cada um visa impor os limites do campo mais favoráveis aos seus interesses ou, o que dá no mesmo, a definição das condições da vinculação verdadeira ao campo (ou dos títulos que dão direito à condição de escritor, de artista ou de cientista) que é mais apropriada para o justificar por existir como existe. (grifos do autor) Essas lutas internas, capazes de definir mais restrita e estritamente o que é um escritor, na visão daqueles que detém o poder de dar-lhes existência, não é outro, ainda segundo Bourdieu (idem, 253), senão “o ponto de vista fundador, pelo qual o campo se constitui como tal e que, a esse título, define o direito de entrada no campo (...)”. Em Mato Grosso, ao que parece, o conceito acerca de quem e como é 14 escritor ainda está em vias de construção, ambiguamente oscilando entre o “você sabe com quem está falando?” e a meritocracia. Ora, ainda não há um público que se possa realmente chamar de “leitor”, até porque as condições de produção e reprodução do livro ainda são precárias. Temos apenas duas livrarias que podem realmente responder por esse nome, e quatro editoras especializadas em literatura. Os espaços para divulgação dos trabalhos são igualmente poucos, se considerada a população da chamada “grande Cuiabá”, os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, e compreendem um centro cultural, os espaços das Universidades e Faculdades, e os três shoppings da capital. Algumas iniciativas como a Literamérica (Feira sulamericana de literatura), o concurso da livraria Adeptus, alguns concursos literários instituídos por Prefeituras e o estabelecimento dos Fóruns Culturais no Estado, têm dado impulso à literatura. Os cursos de Letras deixaram de ser o único espaço para se discutir literatura em Mato Grosso; isso aumenta o público e, em certa medida, a qualidade da produção literária. Quanto ao escritor, vimos que sua maneira particular de se relacionar com a sociedade e sua época determinam seu espaço no campo literário. Cada um dos autores mencionados neste trabalho tratou da questão “o que, como e para quem escrever”, de acordo com sua posição social, seu projeto de construção identitária coletivo e/ou individual e as condições históricas de seu espaço de escrita. Assim pensado, D. Aquino não é anacrônico: é fruto e reflexo de sua época, profissão e condições histórico-sociais e culturais mato-grossenses entre o final da década de 1910 e a de 1950. Ele foi o que devia e podia ser, naquele momento. Analisar sua obra sem levar em conta o contexto em que foi produzida, tira-lhe uma importante função, social e literária. De modo semelhante pode-se pensar a obra de Silva Freire, um modernista em busca da preservação de valores culturais, como própria à construção identitária da época. Essa identidade estava ligada ao reconhecimento externo 15 e o que ele, como poeta e político, buscava era fazer com que a literatura de Mato Grosso acompanhasse os padrões considerados “modernos” para fazer-nos reconhecer para além de nossas fronteiras geo-políticas. Ironicamente, quem consegue esse reconhecimento em seu nome e em nome do Estado é Ricardo Dicke, o pintor que decide mudar o rumo de sua arte e escrever. Contrariando a tendência da época, porém, sua prosa não exalta a grandeza do Estado, antes problematiza e põe a nu questões envolvendo a população que vive à margem da sociedade, pessoas para as quais a cidadania só existe como palavra no dicionário. Atualmente, dos autores comentados aqui, o mais conhecido pelo público é Ivens Scaff, um reconhecimento que este credita à sua atuação como médico, mais que aos seus textos, que ele acredita não serem lidos. De todos, também, é o menos estudado pelas Universidades, o que pode nos levar a conclusão de que nós, das Academias, andamos em dissonância com os gostos populares, uma vez que, via de regra, elegemos como representantes do “saber escrever literatura” pessoas que o leitor comum em geral não elege como “literatos”. Referências BARTHES, R. Escritores e escreventes. São Paulo: Perspectiva, 1970. BOURDIEU, P. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Cia. das letras, 2002. ______. O poder simbólico. São Paulo: Cia. das letras, 2004. CANDIDO, A. A educação pela noite outros ensaios. 3ª. ed. São Paulo: Ática, 2003. ______. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8ª. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000. CARVALHO, C. G. Panorama da literatura e cultura de Mato Grosso. Vol. II. Cuiabá: Verdepantanal, 2004. _____. A poesia em Mato Grosso. Cuiabá: Verdepantanal, 2003. 16 DaMATTA, R. Carnavais, malandros e heróis - Para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. DICKE, R. G. Cerimônias do esquecimento. Cuiabá: EdUFMT, 1995. FAORO, R. Os donos do poder: a formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Globo, 2001. FOUCAULT, M. O que é um autor? 4ª. ed. Portugal: Passagens, 2002. _____. A arqueologia do saber. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. _____. Les mots et les choses: archéologie de la sciences humaines. Paris: Gallimart, 1966. HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. LEITE, M. C. S. (org.). Mapas da mina: estudos da literatura em Mato Grosso. Cuiabá: Cathedral, 2005. MAGALHÃES, H. G. D. Relações de poder na literatura da Amazônia legal. Cuiabá: EdUFMT, 2002. _____. História da literatura de Mato Grosso: século XX. Cuiabá: Unicen, 2001. MENEGAZZO, M. A. Representações literárias de mato grosso: o europeu, o paraguaio, o brasileiro e o mato-grossense. Campo Grande, MS: EdUFMS, 2004. NETO, J. A. D. Aquino: o orador; O modernismo em Mato Grosso: reencontro com Silva Freire. Cuiabá: Academia Matogrossense de Letras, 2001. POSSENTI, S. Os limites do discurso. Curitiba: Criar, 2002. _____. Indícios de autoria. São Paulo: IEL-UNICAMP, 2000. POUND, E. Abc da literatura. São Paulo: Cultrix, 2003. ROMANCINI, S. R. Cuiabá: paisagens e espaços da memória. Cuiabá: Cathedral, 2005. (Coleção Tibanaré, vol. 6). Recebido em 04/11/2009 Aceito em 03/12/2009 17 DIÁLOGO ENTRE JORNALISMO E LITERATURA NA VIDA E OBRA DE JOÃO ANTÔNIO Carlos Alberto Farias de Azevedo Filho1 Resumo: O presente artigo investiga as relações entre literatura e jornalismo na obra do escritor contemporâneo brasileiro João Antônio (1937-1996) desde sua estréia nos anos 60 até o final da década de 90 do século XX. Palavras Chave: João Antônio, Jornalismo, Literatura. DIALOGUE BETWEEN JOURNALISM AND LITERATURE IN THE LIFE AND WORK OF JOÃO ANTÔNIO Abstract: The present article examines the relations between literature and journalism in work of contemporary brazilian writer João Antônio (1937-1996), since his début in 60´s years until the end of 90´s decade of 20 century. Keywords: João Antônio, Journalism, Literature. Firmes, os dedos impulsionam o mecanismo. A fita rubro-negra obedece e pela força da letra vai dançando, batucando, tingindo o papel. Estranha seqüência que vai povoando frases e parágrafos e laudas. Sentimento de pressa, urgência. Fumaça de cigarro, barulho, confusão, papéis amassados. O jovem escritor João Antônio sabia muito bem que o jornal, com suas rotativas, é uma máquina de empregar muitos talentos literários. No entanto, como ele mesmo dizia, num país ágrafo como o Brasil, o jornal cumpre dupla função: servir de trabalho para literatos e como veículo de divulgação de seus escritos. E é através das páginas do jornal que o iniciante João Antônio sai do anonimato e publica, no final da década de 50, “Frio”, um dos seus primeiros contos. 1 Carlos Alberto Farias de Azevêdo Filho é jornalista profissional e professor do Curso de Comunicação Social (Jornalismo) da UEPB. Doutor em Literatura pela UNESP/ Assis e mestre em Literatura e Vida Social pela UFPB. Líder do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Literatura (GPJL) do CNPq. Autor do livro “João Antônio, repórter de Realidade” (João Pessoa, Idéia, 2002). Endereço eletrônico: [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 19-42 2009 issn 0104-687x Desde muito cedo, como apontamos, a carreira literária de João Antônio está ligada ao jornalismo. Os veículos jornal e revista servem ao ficcionista como suporte para a publicação de seus contos e também como incentivadores de sua produção, já que tais periódicos (A Cigarra,Tribuna da Imprensa e Última Hora) promoviam seus concursos literários, os quais ele ganhou com contos como “Meninão do Caixote” e “Natal na cafua”. De ganhador de concursos a “Publicitário do Ano” Uma das metas de João Antônio era viver exclusivamente de sua literatura. Em diversos momentos de sua vida, ele expressou a preocupação com as condições materiais para o exercício da escrita no Brasil. Ele afirma em Ribeiro Neto(1981 p.7) que a profissão deveria ser mais respeitada no país. Como observa Lacerda (2006 p.138), com base no trabalho da tese defendido em Sociologia na USP por Antônio M. C. Braga, Profissão Escritor: escritores, trajetória social, indústria cultural, campo e ação literária no Brasil dos anos 70, “João Antônio está longe de ter sido o único escritor de sua geração a se colocar no mercado de trabalho como ‘profissional do texto’ já que quase nenhum deles [os escritores da geração de João Antônio] sobrevivesse exclusivamente da literatura, em sua quase totalidade eles encontravam sustento na produção de textos jornalísticos, publicitários, roteiros televisivos, radiofônicos etc.” Ainda conforme o biógrafo Rodrigo Lacerda, João Antônio vai ter uma passagem rápida pela publicidade da Agência Pettinati de publicidade, na década de 60. João Antônio vai expressar literariamente seu descontentamento com o mundo da publicidade anos depois, num texto intitulado “Publicitário do Ano”, publicado no livro Abraçado ao meu Rancor, em meados da década de 80, no qual o escritor mostra o descompasso existente entre o que o publicitário afirma nas suas peças redacionais e o que ele realmente pensa e faz. 20 Jornalismo como verdade e salvação Como não conseguiu sobreviver exclusivamente de sua literatura, a presença de João Antônio no jornalismo vai ser uma constante. A partir da transformação do escritor em jornalista, ele vai exercer funções de repórter, editor, cronista, articulista, resenhista etc. A militância do escritor no espaço público da imprensa brasileira pode ser sentida no simples contato com todo o seu acervo que se encontra cedido à Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Assis. A volumosa produção jornalística de e sobre João Antônio vem recentemente sendo catalogada e estudada. Grosso modo, podemos dividir a atuação de João Antônio no jornalismo impresso brasileiro em dois conjuntos: a grande imprensa (Jornal do Brasil, jornal Última Hora, O Estado de São Paulo, Tribuna da Imprensa , revistas Realidade, Cláudia, Manchete e TV Globo etc.) e a imprensa alternativa, contracultural ou nanica (expressão criada pelo próprio escritor para agrupar “uma imprensa viva que questiona, que duvida, que enfrenta, vasculha, alerta, remexe, depõe, derruba, cheira a alguma coisa e fede” (apud CHINEM, 2004 p.68), como Pasquim, Bondinho, Ex-, Opinião, Movimento e CooJornal entre outros. A primeira fase de João Antônio na imprensa brasileira corresponde a um segundo momento de profissionalização do escritor-jornalista, que saído da publicação de Malagueta, Perus e Bacanaço, em 1963, tem o primeiro livro como senha para adentrar no campo literário e jornalístico, sendo saudado como grande revelação no conto nacional, ganhando inclusive vários prêmios literários. Um homem entre duas cidades. Dividido entre São Paulo e Rio de Janeiro, João Antônio vai migrar para a segunda, indo trabalhar em 1964 no Jornal do Brasil como repórter especial. Esse vai ser um dos primeiros trabalhos jornalísticos do escritor que irá encontrar no jornalismo, e não na publicidade, um ganha-pão e uma profissão que o acompanhará até o final da vida. 21 Repórter, reportagem: Realidade O nascimento da grande reportagem como gênero jornalístico no Brasil é atribuído ao pioneirismo de João do Rio (pseudônimo do escritor Paulo Barreto) que na virada do século 19 ousou sair do confortável gabinete e ganhar o espaço das ruas. O apogeu da reportagem como gênero jornalístico no Brasil se dá sessenta anos depois de João do Rio com uma experiência editorial que terá o sintomático nome de Realidade, criada em 1966, pela editora Abril. No livro Jornalismo de Revista, Marília Scalzo (2003) vai mostrar como a Realidade marcou a imprensa brasileira. Em Revista Realidade-tempo da reportagem na imprensa brasileira, o professor José Salvador Faro (1999) faz um extenso levantamento sobre o impacto da revista no contexto sócio-político e cultural dos anos 60 no Brasil, destacando o papel de renovador do periódico. Criada em plena época de revolução da sexualidade, a revista foi um sucesso editorial por trazer em suas páginas a reportagem social, discutindo criticamente a moral e os costumes. Faro não estabelece uma correlação direta entre o gênero reportagem praticado na revista com os pressupostos do chamado New Journalism, corrente do chamado jornalismo literário, surgida no fim dos anos 50 e que se desenvolveu com bastante força nos Estados Unidos. No entanto, ele admite que os textos escritos pelos jornalistas de Realidade se distanciam fortemente do jornalismo tradicional praticado no país naquela época. Os pressupostos metodológicos do chamado Novo Jornalismo (New Journalism) foram sintetizados pelo escritor e jornalista Tom Wolfe (2005) numa antologia lançada originalmente em 1977, com reportagens de Rex Reed, Terry Southern, Norman Mailer, Nicholas Tomalin, Bárbara L. Goldsmith, Joe McGinnis, Robert Christgau, John Gregory Dunne e do próprio Tom Wolfe. Surgido na primeira metade da década de 60 o New Journalism, segundo Wolfe, convulsionou a literatura e o jornalismo dos EUA, por seus métodos pouco tradicionais e também pela nova maneira de se encarar as transformações que estavam em curso na sociedade americana. Na opinião dele, os romancistas norteamericanos se afastaram da realidade e não conseguiam 22 transpor para a ficção temas que pipocavam na sociedade. Assim, o Novo Jornalismo retoma a tradição literária realista, renovando não só o jornalismo como também a literatura. Alguns procedimentos são resumidos por Wolfe em quatro itens que o jornalista tem de observar na hora de captar e de escrever suas reportagens, são eles: 1) narração cena por cena 2) reprodução dos diálogos 3) relato em terceira pessoa 4) relato das ações do dia-a-dia. Como antecedente direto do Novo Jornalismo, Wolfe elenca a reportagem Hiroshima de John Hersey, que foi publicada em 1946, ocupando um número inteiro da The New Yorker. Partindo do cotidiano de pessoas afetadas pela radiação da bomba H, Hersey constrói perfis que se articulam formando um caleidoscópio humano dos desastres da destruição atômica. Mas ao romancista Truman Capote está reservado o lugar de pioneiro do Novo Jornalismo e criador de um novo gênero, o híbrido romance-reportagem, com A sangue frio, publicado em livro em 1966. Considerada um marco na história da imprensa brasileira, Realidade também foi referência para o Novo Jornalismo brasileiro e também na vida e carreira de João Antônio. Lá, ele pode fazer reportagens que marcaram época, muitas vezes fundindo jornalismo e literatura. A estréia dele se deu em outubro de 1967 com uma reportagem sobre sinuca, sob o título “Este homem não Brinca em Serviço”, com fotos de Geraldo Mori e revelando as figuras marginais que se referem diretamente ao universo do seu livro de estréia, Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado em 1963. A atuação de João Antônio em Realidade será destacada também com “Um dia no Cais”, um texto que vai marcar no Brasil o Novo Jornalismo (New Journalism), o primeiro conto-reportagem do autor fundindo literatura e jornalismo numa linguagem híbrida. O que o jornalista João Antônio fez ao publicar o primeiro conto-reportagem de Realidade estava sintonizado numa tradição de jornalismo literário que se expandia no mundo, principalmente nos Estados Unidos com autores como Norman Mailer, Truman Capote, Gay Telesse entre outros. Em 1968, João Antônio, também com a colaboração de outros jornalistas, publica a reportagem “A morte”, aprovei23 tada anos depois no livro Casa de loucos, de 1976. No ano de 1968, o jornalista cede a sua paixão pessoal pela Música Popular Brasileira (MPB) e entrevista a maior intérprete viva de Noel Rosa, a cantora Aracy de Almeida. A entrevista de Aracy é transformada num perfil jornalístico, ou seja, numa reportagem descritiva de pessoa. Curiosamente, o último livro publicado pelo escritor vai levar o título de Dama do Encantado (1996). Ainda em 1968, o jornalista publicará mais três textos, todos relacionados com o mesmo universo temático dos contos: jogos e marginalidade. Assim, João Antônio publica as reportagens “É uma revolução” (sobre a rivalidade entre Galo e Raposa no futebol de Minas Gerais), “O pequeno prêmio” (na qual ele decifra a corrida de trote com seus freqüentadores interessantíssimos) e “Quem é o dedo-duro” sobre os colaboradores da polícia, reportagem a qual ele vai reescrever em forma de conto e publicar no livro Dedo-Duro, de 1982. O interessante na experiência jornalística da revista Realidade é que o escritor João Antônio vai aproveitar em livros as reportagens publicadas na imprensa e a maioria delas, textualmente modificada ou não, vai figurar em Malhação de Judas Carioca (1975) e Casa de Loucos (1976). A chamada transmigração dos textos e motivos para o universo ficcional, e também seu efeito reverso, vai nos mostrar o sentido híbrido da prática jornalístico-literária de um dos principais nomes da literatura brasileira, nos chamando a atenção para o fato de que o trânsito entre indústria cultural e literatura não é tão simples como se pensa, revelando mecanismos textuais e dinâmicas entre os gêneros midiáticos e literários. No estudo de BELLUCCO (2006 p.53) as relações entre João Antônio e a revista Realidade durante o curto período de 1966 a 1968, já preparam o escritor para produzir “um conjunto de expressões inovadoras no âmbito do jornalismo que já foi reconhecida como uma experiência importante para a radicalização posterior dos nanicos”. Para ele, Casa de loucos, “esse texto de 1971, o último de Realidade, marca uma transição. João Antônio se engaja na luta política dos jornais nanicos a partir desse ano, decidindo-se por uma militância aberta que teria no Pasquim” 24 A crônica pingente no Pasquim O jornal Pasquim foi um dos mais importantes veículos da chamada imprensa alternativa brasileira das décadas de 60 e 70. Humor e crítica política se fundem a partir de uma linguagem nova que trouxe ao jornalismo brasileiro um tom informal, meio que carioca, próximo da oralidade e distante da norma culta. Na redação do jornal, conviviam Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Ivan Lessa, Paulo Francis, Sérgio Augusto entre outros intelectuais. Do primeiro número saído a 26 de junho de 1969 até o fim do jornal em 1975, segundo Millôr Fernandes(1977 p.9), a censura foi uma constante na atividade jornalística do periódico. No estudo mais completo até o momento sobre a imprensa alternativa no Brasil, o livro Jornalistas e Revolucionários, Bernardo KUCINSKI (1991) faz uma breve, mas completa história do Pasquim, desde a sua gênese até sua descaracterização e decadência. Ele situa Pasquim numa segunda fase de combate à ditadura, na qual os jornais de cunho partidário cedem espaço ao humor, humor este que satiriza o poder estabelecido através da força. Contracultural, o jornal Pasquim tem uma grande importância na renovação estilística do jornalismo brasileiro, bem como na própria história recente do país no que se refere à luta pela liberdade de expressão. Kucinski (1991 p.156) aponta que o “PASQUIM revolucionou a linguagem do jornalismo brasileiro, instituindo uma oralidade que ia além da mera transferência da linguagem coloquial para a escrita do jornal”. Além disso, ele aponta alguns traços que caracterizariam o jornal por toda a sua existência, dentre os quais a grande entrevista provocadora e dialogada. O progressivo aumento da tiragem e, por conseguinte, o crescimento da influência do jornal na classe média da sociedade brasileira, provocaram o enquadramento do Pasquim na chamada Lei de Segurança Nacional, já que setores conservadores do clero e das forças armadas afirmavam que o jornal fazia uma campanha contra a família brasileira. Na verdade, a censura se abatia sobre o Pasquim, como afirma Kucinski (1991 p. 163), pois “policiais do DOI-CODI 25 invadiram a redação do Pasquim durante o fechamento da edição, prendendo todos os jornalistas presentes, menos Tarso de Castro que conseguiu escapulir (...)”. A morte do jornal Pasquim vai ser lenta, resultado de vários fatores: a censura, a descaracterização do projeto editorial do periódico, a crise financeira entre outros. No entanto, a idéia de um jornalismo alternativo fincado na total liberdade iria voltar décadas depois num contexto totalmente diferente. A publicação se arrastou até os anos 80, atingindo apenas três mil exemplares de tiragem. Depois, em 1988, foi vendida por Jaguar a um empresário. A partir daí, Pasquim será apenas uma lembrança, só restará o nome do jornal e a lembrança de sua irreverência e coragem ao enfrentar a ditadura militar. A idéia de se ter novamente o jornal vai ser retomada, décadas depois, num momento histórico diferente e com objetivos diferentes. João Antônio cronista do PASQUIM dos anos 70 Segundo pesquisa de Bellucco (2006 p.9), que realizou um rastreamento das fontes primárias e crônicas dispersas em vários arquivos, a colaboração do escritor-jornalista João Antônio na imprensa alternativa, mais precisamente no Pasquim, se dá com trinta e nove crônicas publicadas no período de 1974 a 1979. Para ele, as crônicas joantonianas não constituem um lugar paralelo ou secundário no conjunto de sua obra, sendo relevantes para a compreensão de sua trajetória literária. Enfatiza Bellucco (2006 p.17-18) que uma das principais crônicas publicadas por João Antônio no Pasquim é “Aviso aos nanicos”, que saiu na primeira semana de agosto de 1975, na qual o escritor faz: Um dos primeiros balanços sobre o conjunto de jornais que integraram a frente jornalística de oposição que depois ficou conhecida pelo nome de imprensa alternativa. A partir deste texto, difundiu-se o termo´nanico` com que João Antônio quis ressaltar a dimensão minoritária e contra-hegemônica do conjunto de jornais onde praticou uma militância aguerrida, concentrando aí o sentido político das duas principais atividades com 26 as quais afligiu-se em vida, a literatura e o jornalismo (BELLUCCO,2006 p.17-18). Na crônica, João Antônio fazia uma leitura afirmando que no Brasil o termo urderground tomou formas bem brasileiras, sob a denominação geral de nanicos. O jornalistaescritor conhecia por dentro a grande imprensa e em seus textos as referências negativas aos veículos tradicionais vão ficando cada vez mais constantes e agressivas. A série completa de crônicas de João Antônio publicadas no Pasquim informa Bellucco (2006 p.39) que: Constitui-se de quarenta e um textos: inicia-se em agosto de 1974 com a publicação de Cartão Vermelho para os Valentões, é interrompida em junho de 1976 e retomada com três crônicas no início dos anos 1980 (...) Destacam-se os perfis e textos memorialísticos, ao lado de narrativas sobre lugares e situações urbanas, como o conjunto de textos que em 1978 seriam costurados à narrativa de Ô Copacabana! Para Bellucco (2006 p.57), durante o período de 1974 a 1978 é nítida a preocupação de João Antônio em constituir certo ponto de vista político e literário associado à vivência das classes subalternas. É desse período o texto “Corpoa-corpo com a vida” escrito no Rio de Janeiro em 1975. Para ele, o texto indica uma postura do escritor frente aos nacionalismos do momento e a mobilidade de gêneros em sua trajetória literária, marcada sempre pelo trânsito entre a urgência da crítica social veiculada na imprensa através das crônicas, a confissão biográfica e o esforço de “fino lavor” na criação ficcional. Para ele, “tomadas em seu conjunto, e não apenas como uma soma contingente, as crônicas de João Antônio para a imprensa nanica seguem (...) Demarcando simbolicamente a cidade como expressão superlativa do país, visto de uma condição de pingente” (p.115) Panorama: João Antônio de pés vermelhos A trajetória de João Antônio na imprensa brasileira traz um momento singular que é sua passagem pela cidade de Londrina. Literalmente fugindo do eixo Rio-São Paulo, o jornalista irá integrar, na metade dos anos 70, a equipe 27 do jornal diário Panorama. No Paraná, seus pés pisam na terra vermelha, símbolo de esplendor e decadência da cultura do café. A recuperação da importante passagem do escritor pelo Sul do país é feita por Renata Ribeiro de Moraes (2005), através da coleta, catalogação e análise das reportagens do escritor, situando-as no conjunto de sua obra jornalísticoliterária. A história do jornal Panorama também é recontada por Moraes (2005) através do levantamento de dados com entrevistas aos envolvidos na criação do veículo na década de 70. A experiência do jornal durou apenas dois anos (1975 e 1976). A pesquisadora Moraes (2005, p. 90) estabelece três fases para o processo: o planejamento (dois anos antes de 1975), a implantação (1975) e a expansão e declínio (1976). A idéia de criar mais um jornal diário para a cidade de Londrina foi do empresário das comunicações e político Paulo da Cruz Pimentel, que chamou os jornalistas Nassib Jabur e Délio César para planejar e implementar o novo meio de comunicação. Panorama começou a circular no mês de março de 1975 e chegou ao segundo ano com a edição de número 515, em outubro de 1976. A sua tiragem original foi de vinte mil exemplares, um bom número já que se tratava da segunda mais importante cidade do Estado do Paraná, ficando atrás somente da capital Curitiba. A montagem da equipe de Panorama, que contava com grandes nomes da reportagem brasileira, aconteceu graças ao fim anunciado da revista Realidade, do grupo Abril. Assim, sob a liderança de Narciso Kalili (ex-repórter especial da revista Realidade), além de João Antônio, também se aclimataram em Londrina nomes como Mylton Severiano da Silva, Hamilton Almeida Filho entre outros. Mesmo sendo uma experiência da grande imprensa, o jornal Panorama vai, em alguns momentos, desagradar à elite da região, justamente com matérias sobre ecologia: uma delas sobre a derrubada de uma árvore centenária e outra sobre a poluição do lago Igapó. A censura imposta pela ditadura militar também caiu sobre o jornal, mas mesmo assim João Antônio conseguiu publicar reportagens como “Olá, professor, há quanto tempo!”, sobre a volta do 28 antropólogo Darcy Ribeiro, um dos grandes perseguidos pelo regime militar. Os pés sentem as andanças Convidado pelo amigo Mylton Severiano (Myltainho) e com o aval de Narciso Kalili, o escritor-jornalista João Antônio irá permanecer em Londrina por três meses. Ele irá conhecer a cidade, segundo Moraes (2005 p.96) através do jornalista local Nelson Capucho. Londrina era para João Antônio um signo duplo, entre o passado e o presente, entre a abundância esbanjadora dos anos loucos do café e a decadência da região com a geada e a perda da safra. Um levantamento feito por Moraes (2005) das edições de Panorama concluiu que o escritor-jornalista produziu nove textos. São eles: Londrina de João Antônio , Os anos Loucos de Londrina , Desgracido! (9 de março de 1975), Olá, professor há quanto tempo! (27 de março de 1975), A sessão está aberta (14 de março de 1975), O Parto (10 de março de 1975), Jacarandá Ladrão (17 de março de 1975), Jacarandá Guardador de Carros (24 de março de 1975) e Jacarandá- a estrela desce (10 de março de 1975). E é no chão de Londrina que vai nascer uma ampla galeria de tipos, sempre chamados de Jacarandá, poeta do momento. Inclusive, anos depois, em 1993, João Antônio irá nos oferecer o livro de ficção Um herói sem Paradeiro- vidão e agitos de Jacarandá, poeta do momento. Em “Jacarandá e sua constelação de máscaras”, prefácio da publicação, assinado pelo crítico literário Fábio Lucas, podemos ler: Tudo funciona como se o contista, já consagrado, tivesse se rendido à tentação de escrever um romance, pois cada unidade temática é presidida pela personagem Jacarandá (...) Pelo visto temos um herói de papéis variados, uma constelação de máscaras. Todas apontam para o brasileiro da periferia, desclassificado, cuja cultura, em franca transformação, produz mobilidade horizontal e incertezas nas camadas humildes em contraposição à prepotência e arrogância da aristocracia rural e de seus aliados urbanos, as camadas afluentes (...) Nota-se a sutileza da arte de João Antônio. Contos-retratos de 29 preocupação social. Capacidade de dizer muito em frases simples e contidas. Habilidade de dar representação literária à escumalha social do Brasil, a marginalidade dos grandes centros urbanos do país. (LUCAS, 1993 p. 1) Note-se que “Jacarandá- guardador de carros” vai ser publicado em Panorama e depois reescrito e transformado em “Guardador”, publicado seguidamente em dois livros Abraçado ao meu rancor (1986) e Guardador (1992), com o qual o escritor conquistou o Prêmio Jabuti de 1993. O texto atravessará décadas (70,80 e 90). João Antônio, editor do Livro de cabeceira do homem A partir da experiência da Revista Civilização Brasileira (que circulou de 1965 a 1968), a editora Civilização Brasileira lançou em meados da década de 70 a revista Livro de cabeceira do homem. Para editar, Ênio Silveira, diretor da Civilização Brasileira, convidou João Antônio. Interessa-nos entender Livro de cabeceira do homem como representação de um movimento de luta pela democracia num país em que o Estado de Direito foi suspenso e a imprensa estava censurada por conta do golpe militar e do Ato Institucional número 5. Especificamente, estudamos a participação de João Antônio como repórter, contista e editor da revista, tendo publicado no periódico três textos: “Os testamentos de Cidade de Deus’’, “Saudades do Brega’’ e “A agonia das gafieiras’’. Um capítulo pouco estudado da imprensa de resistência da década de 70 no Brasil, a revista Livro de cabeceira do homem teve publicação bimestral, em formato de livro (14X21), 200 páginas no máximo, com “reportagens, crônicas, confissões, entrevista, contos, humorismo: os bons e os maus flagrantes da realidade’’. As capas eram de autoria de Douné e seguiam uma identidade gráfica de um número para o outro. Livro de cabeceira do homem segue o formato e linha editorial traçado por Ênio Silveira para ser um espaço de debate sobre a atualidade brasileira. De certa forma, o Livro de cabeceira do homem (1975) segue a trilha aberta pela revista Civilização Brasileira (1965-1968) 30 e tem continuidade com Encontros com a Civilização Brasileira (1978-1980). Quais eram os colaboradores da revista LCH? Com que freqüência escreviam? Quais os temas abordados? Quais os gêneros literários ou jornalísticos dos textos publicados? Para responder tais perguntas fizemos um levantamento volume por volume da revista Livro de cabeceira do homem. Os colaboradores mais assíduos eram o próprio editor do Livro de cabeceira do homem, João Antônio com textos publicados nos três números. Em seguida aparecem os repórteres Juarez Barroso, José Louzeiro e Aguinaldo Silva, com dois textos cada. Em uma breve análise dos gêneros literários e jornalísticos dos textos publicados na revista, notamos a predominância da reportagem, mas também a presença da literatura através do conto. Não hesitamos em classificar a revista como um terreno fértil, que opera como veículo que possibilita o diálogo entre a literatura e jornalismo. Em alguns casos, temos escritores consagrados praticando a reportagem, como é o caso de Aguinaldo Silva, João Antônio e Hermilo Borba Filho. Em outros, vemos um repórter como Juarez Barroso publicar uma reportagem num número e em outro um conto. João Antônio, jornalismo e literatura no Livro de cabeceira do homem O jornalismo na vida de João Antônio não atravancava sua produção literária. Pelo contrário, as duas áreas de certa maneira se complementavam. Como um dos pioneiros a trabalhar no Brasil dentro da filosofia do chamado Novo Jornalismo (New Journalism), João Antônio publicou vários livros quase essencialmente jornalísticos como, por exemplo, Malhação de Judas Carioca (1975) e Casa de Loucos (1976), reunindo o melhor da sua produção veiculada anteriormente em jornais e revistas. Publicou outros de difícil classificação como Lambões de Caçarola (1978) e Ô Copacabana! (1978), que mesclavam jornalismo e literatura bem na tendência do experimentalismo com a mistura de gêneros da década de 70. 31 João Antônio irá publicar três textos no Livro de Cabeceira do Homem. O primeiro deles é uma reportagem: “Os testemunhos de Cidade de Deus”, que trata do processo governamental de desfavelamento do Rio de Janeiro visto pelos moradores do subúrbio carioca, traz fotografias de Jorge Aguiar. O segundo texto, também uma reportagem, denominado “Saudades do Brega’’, desloca-se da grande metrópole carioca para a cidade de Londrina, época em que participou da equipe do jornal Panorama. Ele traz dessa vez ao invés de fotografias, ilustrações de Benjamin, artista gráfico do Rio de Janeiro. A última reportagem de João Antônio no LCH retorna ao Rio de Janeiro, com o auxílio do fotojornalista Marco Vinício, para escrever sobre a “Agonia das Gafieiras”. Na Última Hora, João Antônio inventa o “corpoa-corpo com a vida” “Nova estréia em UH” anunciava a capa do caderno “Revista”, do jornal “Última Hora” do dia 08 de março de 1976. “A partir de amanhã, em UH Revista, João Antônio estará contando com um vigor particular e violento, as coisas que impressionam a sensibilidade do homem e escritor. Explicitando sua verdade, a literatura, para ele um ato orgânico. Um negócio de amor-paixão”. Era assim que o jornal apresentava seu mais novo jornalista contratado. Um mês antes, em carta enviada a Peri Cotta, datada de 21 de fevereiro de 1976, o escritor-jornalista explicitava alguns pontos que seriam base de sua atividade como cronista em Última Hora, principalmente realçando que a periodicidade dos textos não deveria ser diária e sim que a coluna “Corpoa-corpo” aparecesse três vezes por semana. Além disso, ainda na carta, João Antônio vai explicar sua metodologia para a feitura dos textos: Embora escrevendo em ritmo fluente, a verdade é que meus textos são elaborados, sofridos e saem para o papel mais como um trabalho de garimpo do que de paixão. Exatamente essa característica é que lhes dá personalidade, os diferenciando de outros. Não é apenas um problema de realização de linguagem, estilo; é a própria 32 escolha de tema e disposição de uma ótica pessoal (e talvez intransferível) de ver, captar e retransmitir as coisas, pessoas, fatos, lugares, casos, situações. (ANTÔNIO, 1976) O aparecimento da coluna “Corpo-a-corpo” de João Antônio, em meados da década de 70, no jornal Última Hora, mesmo sem a direção de um nacional-populismo varguista de Samuel Weiner, parece-nos um fato interessante. Visto como escritor best sellers a partir da publicação de Malhação de Judas Carioca e Leão-de-chácara em 1975, recebendo inclusive um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), escrevendo sobre assuntos do cotidiano, o escritor faz uma série de 108 crônicas, que passeiam por seus temas prediletos, tais como marginalizados em geral, malandragem, condição periférica do escritor e jogos em geral (futebol, sinuca, corrida de cavalos, cartas etc.). Mais uma vez vai acontecer o fenômeno da produção jornalística migrar para das páginas dos jornais para os livros do autor de Malagueta, Perus e Bacanaço. Boa parte dos escritos da coluna “Corpo-a-corpo” vai para Casa de loucos, lançado também pela Civilização Brasileira no mesmo ano. Assim, “Nosso compadre o profeta Nelson Cavaquinho”, uma série de cinco crônicas publicadas entre 29 de abril a 06 de maio de 1976, vai para Casa de loucos como um único texto sob o título “Nelson Cavaquinho”. Já “Túmulo do amor”, publicada em três partes de 28 a 31 de maio de 1976, transforma-se em “55 anos de casados” no livro. E “Crônica do valente torcedor”, que saiu num conjunto de dez textos, no intervalo de 03 de junho a 14 de julho de 1976, é rebatizada de “Raul, meu amor” no livro. ”Matar a morte” (27 de abril de 1976), “A evitada das gentes” (27 de maio de 1976), “A magra é certa” (05 de agosto de 1976, ano XXVI número 7743) são na verdade extratos da reportagem A Morte, publicada nos anos 60, na revista Realidade. Além disso, a reportagem que dá o título ao livro também foi trazida das páginas coloridas de Realidade. Já “Ficar no caritó” (27 de agosto de 1976, ano XXVI, número 7764) e “Virgens” (10 de setembro de 1976, ano XXVI número 7778) irão compor “As virgens blindadas do footing” no livro. Mas também vão compor Casa de Loucos textos transmigrados das páginas 33 do Jornal do Brasil (“As mortes e a vida de Sérgio Milliet”), Panorama (“Olá professor, há quanto tempo”) e Livro de cabeceira do homem (“Testemunho da Cidade de Deus”) Meados dos anos 80: a crônica no “Jornal do País” como gênese de “Zicartola...” No intervalo entre os anos 1985 e 1986, João Antônio publicou uma serie de crônicas no suplemento semanal “Nas Bancas” que vinha encartado no “Jornal do País”. Tomados em conjunto, as crônicas de João Antônio se dividem em dois grupos, denominados por ele mesmo de “águas-fortes cariocas” e “águas-fortes paulistas”. Tais escritos seguem a mesma linha temática do escritor-jornalista ao se reportarem a situações vividas pelas camadas excluídas da sociedade, ao futebol, ao cotidiano da metrópole (seja Rio de Janeiro ou São Paulo) ou figuras da cultura brasileira como compositores e escritores como Jacó do Bandolim, Cartola, Marcos Rey, Aguinaldo Silva, João Ubaldo Ribeiro ou Mário Quintana. O escritor João Antônio aproveitou grande parte desses escritos publicados no suplemento semanal “Nas bancas” para compor o livro Zicartola e que tudo mais vá pro inferno!, publicado em 1991, na série Diálogo, da editora Scipione, dirigida ao público juvenil. Quase toda a gênese de Zicartola e que tudo mais vá pro inferno! se dá através da transposição das crônicas publicadas no jornal juntamente com processos de edição como a fusão de escritos ou mesmo colagem de parágrafos inteiros. Em muitos momentos vê-se o trabalho de fusão de escritos publicados em jornal, como por exemplo, as crônicas “Glauber” (publicada na semana de 10 a 16 de junho de 1986), “Suor e cebola da Barra Funda” (semana 17 a 23 de junho de 1986), “Um estouro” (semana de 24 a 30 de julho de 1986) e datiloscritos (em lauda padrão do jornal) como “Matinês do Cine Glamour” e “Ladrão de bicicleta”, reunidas num único escrito, com o novo título de “Vibrações, poeiras e pulgueiros”, que tem como fio condutor a relação do cronista com o cinema. Em outro caso, há uma transposição de toda a crônica, mantendo-se inclusive o título dado no jornal, como é o caso de “Querida Praça XV” (semana de 34 06 a 12 de fevereiro de 1986) e “Santas Teresas” (09 a15 de janeiro de 1986). Já a crônica “No primeiro domingo do ano” (semana de 16 a 22 de janeiro de 1986) irá ser aproveitada integralmente com o título modificado para “Feira”. “Noturno Tio Biu (semana 23 a 29 de janeiro de 1986) será incorporada a “E que tudo o mais vá pro inferno”. O que o escritor João Antônio irá aproveitar para compor o livro Zicartola e que tudo vá para o inferno! são apenas crônicas que remetem às memórias infantis do Morro da geada, em São Paulo ou ao convívio com artistas que representam a vida do povo brasileiro seja no cinema (Glauber Rocha) ou na música (Cartola). As crônicas com mais aderência a questões contextuais ou mesmo factuais de meados da década de 80 não serão escolhidas por estarem em demasia enraizadas na realidade. A crônica funciona como expressão de um projeto nacional-popular. As águas-fortes reaparecem no “Estadão” Capelato & Prado (1980 p. XX) assinala que o jornal O Estado de S. Paulo foi fundado em 1875 como A província de S. Paulo, defendendo idéias republicanas sem “no entanto, admitir sua transformação em porta-voz oficial do partido nascente”. O surgimento do “Suplemento Literário” do jornal O Estado de S. Paulo, segundo Lorenzotti (2002 p.11), deve-se à iniciativa do crítico literário Antonio Candido que idealizou a publicação e de Décio de Almeida Prado que a dirigiu por dez anos, de 1956-1966. O “Suplemento Literário” do OESP viria a ser um modelo para os demais do país já que tinha autonomia como publicação artística, não-jornalística. De 1966 a 1974, ele foi editado por Nilo Scalzo. Depois do fim do “Suplemento Literário” vieram o “Suplemento Cultural”, o “Cultura” e o “Caderno 2”. É no jornal Estado de S. Paulo que João Antônio vai publicar seus primeiros contos e depois retomar a colaboração no final dos anos 80. De fato, João Antônio, um pouco antes de publicar o seu primeiro livro, já ocupava as páginas do “Suplemento Literário” do “Estadão”, como se pode atestar com os contos “Frio” (número 142, de 01/08/1959),”Índios” ( número 35 168, em 06/02/1960) e “Um velho e um cachorro” ( número 305,de 17/11/1962). Sendo que ele vai aproveitar “Frio” para integrar o terceiro conjunto de contos (Sinuca) de Malagueta, Perus e Bacanaço, de 1963. Assim, João Antônio dará continuidade, já como escritor consagrado no início da década de 90, a essa colaboração através do envio de textos para os editores Nilo Scalzo e Ana Maria Lopes e Silva. As chamadas águas-fortes (cariocas, paulistas e até mesmo paranaenses ou baianas) vão ser republicadas seguidamente no intervalo de 1989 a 1991, no suplemento “Cultura”. O próprio escritor elabora uma lista datiloscrita com vinte textos, para controle do fluxo das crônicas, não esquecendo o valor recebido por cada colaboração enviada ao periódico. A grande maioria de tais escritos dará a gênese de seu último livro Dama do Encantado, lançado em 1996. Interessa-nos saber o significado de “águas-fortes” para a escrita de João Antônio, já que constituem conjuntos de escritos que têm entre si identidade própria, sendo publicados no Jornal do País (suplemento “Nas Bancas”) e no Estado de S. Paulo (Suplemento “Cultura”), atravessando décadas. Tecnicamente, como explica Oliveira (2002), o termo “água-forte”: Foi o segundo processo de impressão a seguir no Ocidente, já no século 15, pouco após os tipos móveis de Gutenberg. Hoje é utilizado mais para fins artísticos. Trata-se em realidade de um processo de impressão encavográfica. Característica de todos eles é o uso do ácido nítrico (chamado, justamente, de água forte) para ensulcar o verniz aplicado à uma chapa de metal que servirá como matriz. A tinta se aloja nos sulcos feitos pelo ácido e é transferida para o papel por pressão. (OLIVEIRA, 2002 p. 67) Parece curioso o uso de “águas-fortes” para marcar cada texto ou conjunto deles, pois logo após o uso do termo vem uma espécie de localização (carioca, paulista, paulistano, baiana e paranaense), como se ao dar título ao escrito ocorresse um processo de territorialização. Ao se remeter a processos de impressão anteriores ao moderno sistema de rotativas de off-set, largamente adotado pela imprensa da 36 época e que Oliveira (2002 p.41) vê como “principal modelo de impressão desde a segunda metade do século 20”, João Antônio distancia-se do jornalismo e ao mesmo tempo assume que seus escritos têm fins artísticos, como se fossem desenhos e esboços fortemente marcados pela vivência e lirismo sem deixar o tom “ácido”, forte, ou seja, crítico. Ao imprimir com ácido tal escritura sobre o verniz da chapa de metal, João Antônio sonda as cidades em suas contradições, crueldades e lirismos, demonstrando que as transformações constantes de tais espaços geram processos contínuos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Perfis do “Estadão” migram para Dama do Encantado Além das chamadas “Águas-fortes”, existem ainda vários escritos publicados no suplemento “Cultura” que merecem a atenção: são os perfis jornalístico-literários de figuras de destaque da cultura brasileira, em especial a música e literatura. Alguns textos que vão compor Dama do Encantado, último livro do escritor, uma espécie de reunião de “perfis”, subvertem um pouco o gênero jornalístico. Segundo Pena (2005, p.33), perfil é uma reportagem que “procura apresentar a imagem psicológica de alguém, a partir de depoimentos do próprio, assim como de familiares, amigos, subordinados e superiores dele”. No entanto, alguns desses escritos de João Antônio vão se colocar na fronteira entre o jornalismo e a crítica literária, criando um ambiente híbrido em que a vida do autor estudado é contada de forma jornalística com o suporte da crítica literária. Vilas Boas (2003 p.22) observa que a época áurea do perfil na imprensa brasileira se deu com a revista Realidade (de 66 a 68), mas a tendência do jornalismo em apostar mais na idéia de retratar figuras humanas jornalisticamente e literariamente se deu nos anos 30 nos periódicos norte-americanos. Kotscho (1986, p.42) afirma que o perfil é o mais rico filão das matérias chamadas humanas, já que permite que o leitor “entre” no cotidiano de uma pessoa, seja ela famosa ou anônima. “Entre as mil maneiras de se fazer um perfil, uma delas é acompanhar um dia na vida do personagem ou lugar” (p.46). Coimbra (1993, 37 p.103) chama perfil de reportagem descritiva de pessoa, já que congrega elementos verbais e não-verbais, exigindo do repórter um grande esforço de observação, a fim de captar não só falas como também tudo o que está ao redor do entrevistado (espaço) e como ele se comporta (riso, tom da voz, expressões faciais, hesitações, olhar, entre outros). Já Medina (2003) acredita que o gênero perfil está se abrindo para outras contribuições, em especial as metodologias das Ciências Sociais e Antropologia. Assim, a autora considera que o gênero jornalístico perfil pode ser reformulado através do diálogo com o ensaio. Talvez o último livro de João Antônio, Dama do Encantado, publicado por uma editora de pequeno porte como a Nova Alexandria, seja mesmo um pouco do que Medina afirma ser de reportagem-ensaio. João Antônio escolhia a dedo seus perfilados, a partir de uma certa empatia entre entrevistador-entrevistado ou mesmo admiração que os escritor sentia por figuras como Noel Rosa e Lima Barreto. O perfil que dá título à obra é sobre Araci de Almeida (Dama do Encantado), curiosamente retratada desde a década de 60 e 70 pelo escritor que já publicou reportagem em Realidade em outubro de 1968 (“Ela é o samba”), além de crônicas para A Última Hora: “Aracy” (23 de julho de 1976), “Araçá” (07 de agosto de 1976), “A dama do encantado” (28 de agosto de 1976) e “Quem canta de graça é galo” (25 de setembro de 1976). O jornalista publica no “Estadão” os seguintes perfisensaios: “Duas bagatelas ao redor do mulato de todos os santos” (sobre Lima Barreto, em 4/04/1982), “Pequena especulação em torno de três momentos do poeta da Vila” (sobre Noel Rosa, 11-05-1983), “O singular e enigmático em Mário Peixoto” (em 02/12/1984), “Noel Rosa em tempo galopante” (27/06/1987), “Ciro Monteiro ia vivendo de amor” (30/12/1989), “Morre o valete de copos” (24/11/1990), “Realismo crítico em Marcos Rey” (16/02/1991), “Morte e vida de Sérgio Milliet” (27/4/1991) “Conversa com o poeta” ( sobre os 80 anos de Mário Quintana, em 06-04-1991), e “Dalton exporta a lua parda dos vampiros” (20/07/1996). Em Dama do Encantado vai assim confirmar o talento do escritor-jornalista na observação e arte dos portraits a 38 partir de sua galeria de escritores (Dalton Trevisan, Nelson Rodrigues, Lima Barreto, João do Rio e Mário Quintana), jogadores (Garrincha) e músicos (Aracy de Almeida). A crítica literária na Tribuna da Imprensa Segundo Jesus (2001 p.16), o imbricamento do João Antônio-ficcionista com o João Antônio-repórter se dá também nos artigos publicados semanalmente na Tribuna da Imprensa de 1993 a 1996, veiculados no caderno Tribuna Bis, formando um conjunto de 133 textos que foram catalogados na pesquisa da autora. Além de organizar e sistematizar tais escritos, Jesus (2001) ainda faz um pequeno ensaio introdutório a fim de caracterizar a crítica produzida pelo escritor no jornal carioca. Na visão da pesquisadora, João Antônio se aproxima de uma crítica impressionista sem que isso signifique que seu texto seja um texto menor. Escritas no auge da maturidade literária do escritor, ou seja, nos últimos quatro anos de sua vida, as críticas de João Antônio “não seguiam métodos ou teorias preestabelecidas” (p.25). Claro que a produção crítica híbrida de João Antônio não pode ser caracterizada como o que Perrone-Moisés (2005 p. XII) chama de “crítica-escritura” como as de Roland Barthes, Butor ou Blanchot, que foram exemplos de “escritorescríticos”. É que o autor de Malagueta, Perus e Bacanaço ainda está centrado nas funções explicativa, informadora e didática. Apesar de certa diluição de fronteiras no ato crítico de João Antônio para jornais, seu trabalho na Tribuna da Imprensa está mais para o crítico-escrevente preocupado com as funções tradicionais da atividade colocando-se como juiz (Jesus, 2001, p.20). Força híbrida que tudo movimenta Atravessando mais de 30 anos da história do Brasil contemporâneo, a trajetória de João Antônio na imprensa brasileira confunde-se com as buscas da sociedade como um todo frente aos múltiplos contextos (Estado autoritário, censura, modernização, redemocratização, retomada da democracia etc.). O jornalismo em João Antônio aparece inicialmente apenas como espaço para veiculação de seus 39 contos. Em seguida, já profissionalizado como jornalista, vemos o aparecimento do repórter e da reportagem. Já consagrado como best seller em meados da década de 70, o cronista entra em cena como profundo, lírico e ácido observador da Bruzundanga. Na década de 90, o crítico literário e o talentoso criador de perfis e pequenas narrativas biográficas. No entanto, em vários momentos os gêneros literários e jornalísticos se enfrentam, confundem e se fundem graças à habilidade do escritor-jornalista em fazer circular sua escritura de um veículo a outro, do jornal para o livro, do livro para o jornal, de uma década a outra. Assim como os personagens de Malagueta, Perus e Bacanaço, os escritos de João Antônio estão sempre em movimento, numa “caminhada” que às vezes é individual ou em outras é coletiva. Essa força híbrida, invisível, que rompe barreiras, fronteiras e gêneros, nos interessa enquanto estratégia moderna e “impura” da escrita contemporânea, convidando-nos a pensar a questão do hibridismo na literatura do autor. Referências ANTÔNIO, J. Casa de loucos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. ANTÔNIO, J. Cartas aos amigos Caio Porfírio Carneiro e Fábio Lucas. Cotia, SP: Ateliê Editorial; São Paulo: Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes, 2004. AZEVEDO FILHO, C. A. F. de. João Antônio, repórter de Realidade. João Pessoa: Idéia, 2002 BELLUCCO, H. A. de L. Radiografias Brasileiras: Experiência e Identidade Nacional nas Crônicas de João Antônio. Mestrado em Teoria e História Literária. Instituto de Estudos da Linguagem Universidade Estadual de Campinas, 2006. (dissertação de mestrado) CAPELATO, M. H.; PRADO, M. L. O Bravo Matutino- imprensa e ideologia: o jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo: Alfaômega,1980. CHINEM, R. Jornalismo de guerrilha. São Paulo: Disal,2004. COIMBRA, O. O texto da reportagem impressa. São Paulo: Ática, 1993 DINES, A. O papel do jornal. São Paulo: Summus,1986. 40 FARO, J. S. Revista Realidade-1966-1968- tempo da reportagem na imprensa brasileira. Canoas: Ulbra: Age,1999. FERNANDES, M. Millôr no Pasquim. Rio de Janeiro: Nórdica, 1977. JESUS, C. D. A. de. A Crítica de João Antônio na Tribuna da Imprensa. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Assis, 2001. (Dissertação de mestrado) KOTSCHO, R. A prática da reportagem. São Paulo: Ática, 1986. KUCINSKI, B. Jornalistas e revolucionários- nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 1991. LACERDA, R. João Antônio: uma biografia literária. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Teoria Literária e Comparada. Universidade de São Paulo (USP), 2006. (Tese de doutorado, mimeo) LORENZOTTI, E. Suplemento literário que falta ele faz! São Paulo: Imprensa Oficial, 2007. LUCAS, F. Jacarandá e sua constelação de máscaras. In: ANTÔNIO, J. Um herói sem paradeiro. São Paulo: Atual, 1993. MEDINA, C. A arte de tecer o presente- narrativa e cotidiano. São Paulo: Summus, 2003. MORAES, R. R. de. João Antônio de pés vermelhos: a atuação do escritor-jornalista em Panorama.Universidade Estadual de Londrina, 2005. (Dissertação de mestrado) OLIVEIRA, M. Produção gráfica para designers. Rio de Janeiro, 2AB, 2002. PENA, F. Jornalismo. Rio de Janeiro: Estácio de Sá, 2005 (Coleção 1000 perguntas). PERRONE-MOISÉS, L. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. RIBEIRO NETO, J. da S. João Antônio Literatura Comentada. São Paulo: Abril Cultural, 1981. SCALZO, M. Jornalismo de Revista. São Paulo: Contexto, 2003. 41 VILAS BOAS, S. Perfis e como escrevê-los. São Paulo: Summus, 2003. WOLFE, T. Radical chique e o Novo Jornalismo. Tradução de José Rubens Siqueira; posfácio de Joaquim Ferreira dos Santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Recebido em 20/10/2009 Aceito em 20/11/2009 42 DAS LETRAS ÀS CIFRAS: LITERATURA E VALORES NO SÉCULO XIX Simone Cristina Mendonça1 Resumo: O estudo da literatura brasileira oitocentista nos fornece um vasto elenco de autores consagrados e de obras diversas, com destaque para os romances. A publicação dessas obras, porém, nem sempre foi tarefa fácil. Há que se lembrar, assim, do esforço do autor e das redes de relações pessoais e profissionais estabelecidas para o (e no) exercício da literatura. Para tanto, trataremos dos processos pelos quais essa literatura passava, indo do manuscrito aos leitores, comentando a situação ainda não profissional dos autores, os necessários contatos e contratos, os meios de se fazer conhecidos e as possibilidades de impressão e de venda. Palavras-chave: século XIX, literatura brasileira, mercado editorial. FROM LETTERS TO NUMBERS: LITERATURE AND VALUES IN THE NINETEENTH CENTURY Abstract: The study of Brazilian literature in the nineteenth century provides a broad list of famous authors and several works, especially novels. The publication of these works, however, wasn’t always easy. It must be remembered, so, the author’s efforts and networks of personal and professional relationships established for the (and in the) exercise of the literature. To this end, we will discuss the processes by which this literature passed, from the manuscript to the readers, commenting on the situation of the authors, the necessary contacts and contracts, the means of making themselves known and the possibilities of printing and selling. Keywords: eighteenth century, Brazilian Literature, editorial market. 1 Doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas/ Unicamp e graduada em Letras pela mesma instituição. Atualmente, bolsista do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, DCR, com pesquisa em andamento na Universidade Federal do Pará/UFPA, financiada pelo CNPq e pela FAPESPA. simonecristinamendonç[email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 43-51 2009 issn 0104-687x Iniciar uma discussão acerca de literatura envolvendo valores monetários pode se tornar uma atitude perigosa, que corre o risco de ser considerada quase herética, uma vez que outros valores, como os estéticos, por exemplo, é que majoritariamente são privilegiados nas reflexões literárias, com seus méritos. No entanto, o tema financeiro sempre volta à baila, em investigações de caráter histórico, em textos interdisciplinares, em especulações biográficas ou mesmo discretamente diluído em outros questionamentos. Arriscamo-nos a escrever sobre a temática2, retomando pesquisas anteriores e aproveitando a oportunidade para relembrarmos os percalços pelos quais passaram grandes autores para conseguirem publicar seus trabalhos, incluindo os investimentos financeiros. Entre os escritos de autores brasileiros, pelo menos desde o século XIX, há registros de lamentações sobre a necessidade de terem de se dedicar a outras atividades remuneradas, além de reivindicações por um melhor reconhecimento de suas produções artísticas. Não raro, sabemos, era preciso lecionar, exercer profissões burocráticas, trabalhar para o governo, ou, ainda, atuar como profissionais liberais, como médicos ou advogados, serviços dos quais dependiam os orçamentos dos escritores (Cf. BESSONE, 1999). Embora atarefados com o exercício de suas profissões, essas, felizmente, não sufocavam os autores, que encontravam tempo para formular suas histórias, inicialmente de maneira manuscrita, e esquematizar estratégias de publicação e de venda. No período oitocentista, tempo em que a Literatura e o jornal estabeleciam estreitas ligações, era nesse veículo que muitos autores encontravam espaço para tornar conhecidos seus textos. No caso dos romances, estes, muitas vezes, vinham ao público, seccionados em capítulos periodicamente impressos. Dos chamados folhetins à edição dos romances em livros havia um caminho a percorrer, no qual a companhia de um editor seria muito bem vinda. 2 Uma primeira versão desse texto foi apresentada oralmente em uma mesa-redonda, ocorrida no dia 26 de setembro de 2008, em “Machado de Assis nos trilhos de Viçosa”, evento comemorativo do centenário de morte do autor, na cidade de Viçosa/ MG, promovido pela Universidade Federal de Viçosa/UFV. 44 No Brasil, podemos citar o exemplo de Machado de Assis, que, ainda em seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, teve a sorte de merecer o agrado do já renomado editor francês Baptiste Louis Garnier, estabelecido no Rio de Janeiro. No entanto, nem todos podiam contar com tal ventura e, por isso mesmo, sobre B. L. Garnier foram tecidas duras críticas acerca da seleção de autores contemplados com seu selo, uma vez que, dizia-se, ele não editava escritores desconhecidos. Um bom exemplo dessas críticas foi a que escreveu Arthur Azevedo, no jornal O Álbum, em 07 de Outubro de 1893: Mas a verdade é que elle só acolhia de braços abertos os escriptores que lhe entravam na casa com reputação feita, e ainda a estes pagava sabe Deus como. Não tirou nenhum nome da sombra, não estendeu a mão a nenhum talento desconhecido. Quando algum moço obscuro o procurava, ouvia: ‘cresça e apareça’. Se o pobre diabo realmente crescesse e apparecesse, poderia contar com o editor. (apud PINHEIRO, 2007, p.39) Como se vê, publicar tendo Garnier como editor parece não ter sido algo fácil para os escritores oitocentistas, o que talvez justifique que os contemplados folgassem ao consegui-lo. José de Alencar, por exemplo, em Como e por que sou romancista, comentou a respeito, com certo alívio: “Ao cabo de vinte e dois anos de gleba na imprensa, achei afinal um editor, o Senhor B. Garnier, que espontaneamente ofereceu-me um contrato vantajoso em meados de 1870.” (ALENCAR, 1990, p. 70). O autor se refere ao contrato firmado em que se obrigava a negociar com o editor “a propriedade dos romances inéditos”, dos quais o primeiro foi Diva, livro que lhe rendeu oitocentos mil réis (800$000) pela edição (PINHEIRO, 2007, p. 41). Primeiro editor no Brasil a negociar uma remuneração pecuniária com os escritores com os quais trabalhava, Baptiste Louis Garnier dispunha ainda de um ponto de venda, em localização privilegiada na capital do Império, na Rua do Ouvidor, onde se escoava grande parte da literatura hoje canônica. 45 Livraria Garnier3 A livraria tinha vários concorrentes, desde outras grandes lojas como a Livraria dos irmãos Laemmert, como outros comerciantes menores. A historiadora Tânia Bessone informa alguns nomes de livrarias que mais apareciam em anúncios de propaganda no Jornal do Commercio, no ano de 1870: Garnier (Rua do Ouvidor, 69); Enciclopédica (Rua Gonçalves Dias, 72); E. e H. Laemmert (Rua do Ouvidor, 68); Cruz Coutinho (Rua São José, 75); Casa de uma Porta Só (Rua São José, 69); Luso Brasileira (Rua da Quitanda, 30); Dupont e Mendonça (Rua Gonçalves Dias, 75); Clássica (Rua Gonçalves Dias, 54); Econômica (Largo do Paço, C); Correia de Melo (Rua do Ouvidor, 183). (Cf. BESSONE, 1999, p. 83). No caso das negociações dos escritores com Garnier, sabe-se que a remuneração aos primeiros era legalmente estabelecida, por meio de contratos em que se concediam os direitos de publicação de uma ou de todas as edições de certa obra, recebendo ora um valor estipulado por exemplar, ora uma quantia única pela concessão. 3 Imagem disponível no seguinte site, consultado em 26/10/2009: <http://www.flickr. com/photos/andre_so_rio/page8/> 46 Machado de Assis fechou contratos com o editor que lhe renderam, por exemplo, duzentos réis ($200) por cada exemplar, de uma tiragem de mil, da primeira edição de Contos Fluminenses, em 1865; e duzentos e cinqüenta mil réis (250$000) pela segunda edição (1.100 exemplares) de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1896 (PINHEIRO, 2007, p. 42-3). Consultando outras leituras, podemos verificar que os valores recebidos nessas negociações podem parecer baixos se comparados com a remuneração de outras atividades artísticas. Machado de Assis, em crônica publicada na revista Illustração Brasileira, em 1876, comentou, em tom de pilhéria, o cachê de oito contos e oitocentos mil réis (8.800$000) mensais, recebido mensalmente por um tenor em passagem pelo Rio de Janeiro na época: Ao preço elevado dos bilhetes corresponde o dos vencimentos dos cantores. Só o tenor recebe por mês oito contos e oitocentos mil réis! Não sei que haja na crítica moderna melhor definição de um tenor do que esta dos oito contos, a não ser outra de dez ou quinze. Que me importa ouvir as explicações técnicas dos críticos para saber se o tenor tem grande voz e profundo estudo? Já sei, já sabemos todos, ele tem uma voz de oito contos e oitocentos, devo aplaudi-lo com ambas as luvas, até arrebentá-las. (ASSIS, 1953, p. 96-97)4. O valor do cachê a ser pago para o tenor supera os oito contos de réis (8.000$000) que Machado de Assis só receberia em 1889, como salário anual, no cargo de diretor geral da Diretoria do Comércio5. Ainda que os pagamentos designados não fossem os almejados, há que se admitir que conseguir publicar um livro na Garnier atribuiria certo valor ao autor que o colocaria em posição vantajosa no cenário da época, pelo próprio nome do editor, já revestido do que poderíamos chamar de capital simbólico, na linha dos estudos de Pierre Bourdieu (Cf. 4 A crônica citada data de 01 de Agosto de 1876. Agradeço a Cristiano Sávio Mariano pela indicação do trecho, retirado das crônicas machadianas da revista Illustração Brasileira, seu objeto de estudo. 5 Cf. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 3, n. 36, setembro, 2008. 47 BOURDIEU, 1996). Por outro lado, as relações profissionais entre editor e autor também rendiam lucros não financeiros para Garnier que, por sua vez, tornava-se mais conhecido na medida em que publicava nomes de prestígio. As contribuições de Garnier para as letras brasileiras, editando autores nacionais, por exemplo, lhe renderam a comenda da “Ordem Imperial da Rosa”, em 16 de março de 1867 (Cf. PINHEIRO, 2007). Um círculo de valorização, então, se formava, ampliando o reconhecimento tanto do autor como do editor, que garantia, ainda, aumento das receitas financeiras. Além disso, boa parte das publicações de sua casa editorial contava com um cuidado na confecção dos volumes, atentando para a qualidade material dos livros, o que contribuía para sua valorização. Outros nomes foram editados por esse francês, que, por questões econômicas e alfandegárias, mandava os livros para serem impressos em sua pátria, conquistando a inimizade dos tipógrafos nacionais. As impressões eram feitas na França, sobretudo porque o imposto alfandegário que incidia sobre o livro impresso era menor que o referente ao papel em branco. Ademais, as melhorias no transporte ultramarino, como o uso dos navios a vapor, diminuíam o tempo de viagem entre Europa e Rio de Janeiro, que, em 1851, por exemplo, era de 22 dias (HALLEWELL, 1985, p. 129)6. Quando do livro pronto, o próprio editor se encarregava da divulgação, enviando exemplares para diversos jornais, tanto na Corte, como nas províncias, a fim não só de receber os agradecimentos e os comentários, mas também de aumentar o campo de atuação de seu comércio. Ozângela de Arruda Silva, que se debruçou sobre jornais da província do Ceará, analisando a circulação de livros na cidade de Fortaleza, nos noticia sobre o envio de livros ao jornal Cearense: Em 1875, o livreiro-editor [Garnier] doou: O Dr. Ox, Júlio Verne; Mademoiselle de Maupim, Th. Gauthier; Mlle. Clopatra, Arséne Houssaye; Ubirajara, José de Alencar; 6 Acerca das condições de trabalho dos tipógrafos e de suas reivindicações quanto ao incentivo às impressões feitas no país, ver VITORINO, Artur José Renda. Máquinas e operários: mudança técnica e sindicalismo gráfico (São Paulo e Rio de Janeiro, 1858-1912). São Paulo: Ed. Annablume/FAPESP, 2000. 48 Senhora – perfil de mulher, José de Alencar; Seis novellas de Th. Gauthier; O Abandonado, 2ª parte da Ilha Mysteriosa, Júlio Verne; Romance da Duqueza e Sertanejo, José de Alencar. (SILVA, 2008, p. 230) Seguindo uma tendência empreendida pelas livrarias desde o início do século, B. L. Garnier também anunciava aos leitores da Corte do Rio de Janeiro os seus livros, em catálogos especialmente preparados pela casa (Cf. QUEIROZ, 2008) ou em importantes jornais da época, como o Jornal do Commercio. A imprensa periódica, assim, assumiu, além da função de divulgadora de notícias, o papel de veículo de propaganda de produtos diversos, entre os quais os livros, bem como de entretenimento. A estreita relação entre literatura e imprensa que se deu no século XIX tem seu maior exemplo nos chamados folhetins, rodapés das páginas dos jornais, que, a princípio, traziam variedades e que se estabeleceram como espaço de publicação de narrativas em forma seriada. A aliança comercial entre os redatores dos jornais e os autores garantia a venda dos exemplares periódicos, satisfazendo também o interesse do escritor em divulgar suas obras ficcionais, bem como seu nome. A partir de 1838, o Jornal do Comércio, publicou fragmentos de romances, cuja leitura virou moda entre os consumidores do jornal7. Para se fazer conhecido, então, uma das alternativas era a de que um autor precisava estabelecer relações com pessoas ligadas aos jornais, veículos alternativos de divulgação de seus escritos. De acordo com a pesquisadora Valéria Augusti, autora de interessante artigo sobre os percursos de profissionalização dos autores oitocentistas e suas intrínsecas relações com os jornais da Corte, era mesmo o jornal o lugar de divulgação das obras e dos autores, no qual os homens de Letras tentavam primeiramente se fazer conhecidos (Cf. AUGUSTI, 2007, p. 93-121). Concluindo, a literatura brasileira oitocentista, além da inspiração, da técnica e das qualidades estéticas, era também composta de negociações e valores financeiros. 7 Sobre folhetins, relembro o já bastante conhecido livro: MEYER, Marlyse. Folhetim: Uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 49 Os autores, profissionais de outras áreas, que dividiam seu tempo dedicando-se também a escrever poesia, prosa, crônica e crítica, buscavam uma colocação no prestigiado círculo literário da capital do Império. Nessa perspectiva, alcançar uma posição de destaque muitas vezes dependia de que eles estivessem incluídos numa rede de amizades e de relações profissionais. Contexto, ousamos dizer, não muito distante do que percebemos na contemporaneidade. Referências ALENCAR, J. de. Como e porque sou romancista. Campinas, SP: Pontes, 1990. ASSIS, M. de. História de Quinze Dias. In Obras completas de Machado de Assis: Crônicas. 3° Volume (1871-1878). São Paulo: W. N. Jackson Inc. Editores, 1953. AUGUSTI, V. Mercado de letras, mercado dos homens. Revista de História Regional. 12 (2). 93-121. Paraná: UEPG, 2007. AZEVEDO, Arthur. O Álbum, 07 de outubro de 1893. apud PINHEIRO, A. S. Para além da amenidade : o Jornal das Familias (18631878) e sua rede de produção. Tese de Doutorado. Unicamp/IEL/ Depto. de Teoria e História Literária. [s/n], 2007. BESSONE, T. Palácios de destinos cruzados: Bibliotecas, homens e livros no Rio de Janeiro, 1870-1920. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999. BOURDIEU, P. O mercado de bens simbólicos. In: As Regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. GUIMARÃES, H. de S. Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura no século 19. São Paulo: Nankin Editorial: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. HALLEWELL, L. O Livro no Brasil. Trad. do Inglês Maria da Penha Villalobos e Lolio Lourenço de Oliveira. São Paulo, SP: T. A. Queiroz, EDUSP, 1985. MEYER, M. Folhetim: Uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. PINHEIRO, A. S. Para além da amenidade : o Jornal das Familias (1863-1878) e sua rede de produção. Tese de 50 Doutorado. Unicamp/IEL/Depto. de Teoria e História Literária. [s/n], 2007. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 3, n. 36, setembro 2008. QUEIROZ, J. M. de. Em busca de romances: um passeio pelo catálogo da livraria Garnier. In: ABREU, M. A. (org). Trajetórias do Romance. Circulação, leitura e escrita nos séculos XVIII e XIX. Campinas: Mercado de Letras, 2008. SILVA, O. de A. Lugares de compra, itinerários de leitura: circulação de romances em Fortaleza oitocentista. In: ABREU, M. A. (org). Trajetórias do Romance. Circulação, leitura e escrita nos séculos XVIII e XIX. Campinas: Mercado de Letras, 2008. VITORINO, A. J. R. Máquinas e operários: mudança técnica e sindicalismo gráfico (São Paulo e Rio de Janeiro, 1858-1912). São Paulo: Ed. Annablume/FAPESP, 2000. Recebido em 30/10/2009 Aceito em 30/11/2009 51 ÊXTASE ENFERMIÇO: TRANSCENDÊNCIA POÉTICA E VOLÚPIA DA PRECIPITAÇÃO NO DECADENTISMO BRASILEIRO – UM EXEMPLO EM CRUZ E SOUSA Fabiano Rodrigo da Silva Santos1 Resumo: Este artigo consiste em uma discussão da visão de transcendência particular à poética do Decadentismo, tomando como referência a lírica de Cruz e Sousa. Por transcendência poética entende-se a busca pelo ideal e por romper as barreiras da percepção comum por meio da prática poética. Entre os românticos, a transcendência era buscada de diversas formas; uma das mais comuns era o arrebatamento sublime. Com o simbolismo/decadentismo, o grotesco participa desse processo e o arrebatamento transcendente encontra uma analogia em seu oposto – a queda. A lírica de Cruz e Sousa ilustra esse novo leitmotiv, surgido no seio da Modernidade. Palavras-Chave: Transcendência Poética, Decadentismo, Cruz e Sousa. SICKY ECSTASY: POETIC TRANSCENDENCE AND RAPTURE OF PRECIPITATION IN BRAZILIAN DECADENTISM - AN EXAMPLE IN CRUZ E SOUSA Abstract: This article is a discussion on the vision of transcendence peculiar to the poetic of Decadentism and considers the reference offered for the Cruz e Sousa´s poetry. We call poetic transcendence the search for Ideal and for broke the barrier of usual perception by the poetic work. Among the romantics, the transcendence was search for many ways; one of them was the sublime ravishing. In the Symbolism/Decadentism, the transcendent ravishing finds its opposite – the fall. The Cruz e Sousa´s poetry illustrates this new leitmotiv which have rise in the center of Modernity. Keywords: Poetic Trancendence, Decadentism, Cruz e Sousa. 1 Doutor em Estudos Literários pela UNESP – FCL, Campus de Araraquara. [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 53-68 2009 issn 0104-687x A obra de Cruz e Sousa (1861-1898) é marcada por uma tensão que apresenta seu universo poético como cindido entre duas instâncias que se embatem no plano da elaboração estética. Poeta idealista por um lado, mas sensualista por outro, Cruz e Sousa retrata em sua obra, de maneira agônica, o conflito entre o físico e o etéreo, que muitas vezes expressa a convivência problemática entre grotesco2 e sublime3. Para se entender essa tensão fundamental para muitos aspectos da obra de Cruz e Sousa é conveniente tomar como ponto de partida o plano no qual essas duas frentes se esbarram – é na instância das impressões sensoriais, mutáveis e incertas, que o inefável e o concreto confluem. A perscrutação de nexos com outras realidades na instância das impressões está no centro de muitas das práticas simbolistas; assim é, por exemplo, com os tóxicos, venenos e perfumes de Baudelaire, com a música de Verlaine ou com a busca por sensações excêntricas empreendida pelos decadentes – como atesta o À rebours, de Huysmans, romance cujo herói, Des Esseintes, como anacoreta da decadência, isola-se da convivência com o mundo comum, refugiando-se junto a seus gostos exóticos, cultivando-os religiosamente 2 O grotesco é um conceito passível de muitas definições, visto tratar-se de uma categoria que comporta manifestações estéticas multiformes; no entanto, em todas as definições do que se poderia chamar de grotesco romântico, observa-se recorrência da expressão de contrastes agudas, os quais se manifestam comumente no hibridismo entre gêneros, no inesperado oriundo da intervenção do insólito e da subversão das convenções de verossimilhança (KAYSER, 2003). O grotesco, portanto, seria configurador de fenômenos contraditórios e ambíguos. Uma categoria que se expressa por meio de híbridos que vão desde os monstros compostos por fragmentos de corpos estranhos entre si que figuram nos ornamentos que dão origem ao termo grotesco (ornamentos fantasiosos conhecidos desde a Antiguidade) até a fusão de conceitos normalmente inconciliáveis, flagrante no amálgama entre dor e riso, atração e repulsa, horror e beleza. Assim, poder-se-ia concluir, que o belo horrendo que dá forma ao erotismo de Cruz e Sousa é passível de entendido nos termos dessa categoria estética. 3 O sublime, na definição de Kant, nasceria da constatação de que a razão humana, em face a fenômenos sensoriais de grandiosidade imensurável, possui limites, não podendo compreender todos os aspectos da realidade. O sublime constituiria um desafio também à imaginação, a qual, ante a perspectiva da infinitude do sublime, falharia em representá-lo concretamente; tal impossibilidade transportaria o homem diretamente à instância das “Ideias”, na qual o sublime então poderia ser representado. Desse modo, suscitaria o sublime a contemplação dos aspectos mais violentos e magníficos da natureza, tais como o mar agitado pela tempestade, as gargantas dos abismos e os céus infinitos; nas palavras de Kant: la naturaleza suscita las más veces las ideas de lo sublime cuando es contemplada en su caos y en el desorden e ímpitu destructor más salvages e irregulares com tal de que se puede ver grandiosidad e potencia (KANT, 1961, p. 87). Grosso modo, poder-se-ia colocar sob a égide do sublime todos os fenômenos nos quais se vislumbre a infinitude. O sublime seria, portanto: “lo absolutamente grande [...] lo grande por encima de toda comparacíon [...] aquello comparado com lo cual resulta pequeño todo lo demás” (KANT, 1961, p. 89-91). 54 (HUYSMANS, 1977). O hedonismo extravagante de Des Esseintes transforma seu exílio em eremitério, onde prazeres excêntricos, como a contemplação de obras de arte raras, cultivo de plantas tóxicas estranhas e a entrega quase mórbida às cismas interiores, convertem-se em ofícios de uma religião das impressões. Talvez por sua sensibilidade atenta às nuances sutis da sensorialidade, os simbolistas sempre estiveram ocupados com epifanias e transcendências buscadas no reverso do ordinário. Por isso, procuraram no misticismo cristão, ou de outras culturas, vocábulos e conceitos que definissem a sua religião estética. Também viram em estados anormais de consciência vias para operar mudanças nas impressões e assim transubstanciar a própria realidade. A perda da razão e o êxtase estão entre esses estados. Aqui no Brasil, por exemplo, desde os primeiros autoalcunhados decadistas – anteriores a Cruz e Sousa – estabeleceu-se um termo que pode bem definir a sensibilidade simbolista. Trata-se do termo nevrose, bastante recorrente na dicção dos simbolistas brasileiros. A nevrose parece ter ocupado dentro do imaginário simbolista o lugar antes reservado à atuação do êxtase religioso e das epifanias e inspirações poéticas. Reconhecendo-se como uma parcela à margem do mundo, os decadentes/simbolistas buscam no mesmo lado gauche a substância motriz de sua criação estética; a doença dos nervos, fonte das alucinações, é também senhora das fantasias, que impossibilita os artistas de verem com olhos normais, levando-os a uma contemplação oblíqua da realidade, que vislumbra também outros mundos. Essa espécie de êxtase enfermiço pode ser visto como uma encruzilhada sombria onde o eu lírico, musas e quimeras se encontram, na união quase incestuosa entre as impressões do mundo e as fantasias oriundas do mistério. Em tempos de decadência, perda da orientação metafísica, agonia do sublime e morte de Deus4, estados como a nevrose, análogos ao tédio e à melancolia, já celebrizados pelos românticos anteriores, assumem o lugar das facul4 Tais motivos, sobretudo o tópos da morte de Deus, são discutidos em obras canônicas dedicadas à poética romântica e moderna; como exemplo citamos Os filhos do barro de Octavio Paz (1994). 55 dades transcendentes da poesia. Esses estados anímicos, muitas vezes, ganham forma no grotesco. A poética de Cruz e Sousa, sempre regida pelas tensões, também vê semelhanças entre o arrebatamento da sensibilidade e os ardores da febre. Sua obra talvez seja a manifestação mais bem acabada da explosão da sensibilidade em zonas nas quais as formas da imaginação se unem convulsivamente às impressões. Seus poemas são manifestações do êxtase, sobretudo quando se considera a primeira obra em versos de Cruz e Sousa – Broquéis. Broquéis, segundo consta nas informações biográficas fornecidas por Nestor Vítor, foi escrito em pouco tempo. Trata-se de uma compilação de poemas que datam da segunda e definitiva ida de Cruz e Sousa ao Rio de Janeiro, em 1890. Considerando-se a data da publicação do livro – 1893, constata-se que os poemas que o compõem foram escritos em apenas três anos (VÍTOR apud COUTINHO, 1979, p. 127-28). O pouco espaço cronológico que há entre os poemas pode explicar a recorrência de muitos temas e leitmotive que chamam a atenção em Broquéis, como o Esteticismo decadente, o erotismo, a convenção de imagens cromáticas brancas e a tonalidade febril e violenta de seu discurso. Na época da publicação do livro, essas características foram interpretadas como cacoetes do poeta. Ao contrário disso, elas parecem compor antes um plano de integração estética arbitrário. A unidade existente em Broquéis não dá indícios de ser simplesmente involuntária; ao levarmos em conta a proposta de lançamento de um livro comprometido com uma nova estética (o Simbolismo), tendemos a considerar como proposital a homogeneidade das características desta obra. O livro apresenta inclusive um poema programático – “Antífona”, no qual se observa a existência de muitas das idiossincrasias da obra, como a temática, o elogio ao esteticismo e a materialização de imagens diáfanas, elementos que podem ser considerados parte uma proposta estética. Normalmente atribui-se ao Simbolismo a construção de poemas por meio do discurso sugestivo, a qual dota os silêncios e as entrelinhas de significação tão expressiva quanto a das palavras. Exemplos típicos, e talvez, até mais radicais 56 desta proposta, podem ser observadas em poemas de Mallarmé ou em Maeterlinck, cuja obra Serres Chaudes pode dar mostras claras desta prática estética. Em Cruz e Sousa, no entanto, e principalmente em Broquéis, constatamos uma forma de expressão, muito diferente da encontrada nos poetas do Simbolismo europeu, afeitos às “ausências”. No poeta brasileiro, os substantivos normalmente acumulamse em associações metafóricas e os adjetivos revestem os de matizes variados. Uma estrofe do soneto “Dilacerações” permite a visualização desta maneira de construção: Carnes virgens e tépidas do Oriente do Sonho e das Estrelas fabulosas carnes acerbas e maravilhosas tentadoras do sol intensamente... (CRUZ E SOUSA, 1961, p. 24) Cada substantivo está acompanhado por pelo menos um adjetivo, e não há nenhum verbo (o que é bem típico de Cruz e Sousa), o que aumenta a plasticidade de seus textos, visto que a ação suscitada pelos verbos se mostra atenuada. A sugestão, cara aos simbolistas, na estrofe apresentada, dá-se na apresentação de imagens de forma não descritiva, composta apenas por elementos nominais; no entanto, esta forma de construção discursiva implica uma explicitação clara dos conceitos, o que pode ser visto como um fator pouco sugestivo. O crítico Carlos Dante Moraes vê Cruz e Sousa como poeta mais afeito à exposição de impressões do que à sugestão do impreciso; para ele, destaca-se a dramaticidade das imagens (MORAES apud COUTINHO, 1979, p. 285-86). Justamente um espetáculo de figurações impressionantes se observa em Cruz e Sousa; o que em Broquéis traduz-se em imagens eufóricas e violentas. Em poemas como “Cristo de bronze”, “Lésbia”, “Múmia” e “Dança do ventre” as imagens referentes à carne e ao sangue são frequentes, assim como a violência expressa na tensão entre opostos, como atração e repulsa, medo e desejo, bestialidade e galanteria erótica. Tais conceitos, postos em relações antagônicas, convergem no tema erótico em Broquéis com uma frequência que chama a atenção. 57 O erotismo em Cruz e Sousa não se expressa de forma equilibrada, ou resolvida, mas consiste numa forma de sensualismo tenso. Os aspectos do demoníaco também estão associados à matéria erótica desenvolvida pelo poeta, numa clara remissão a Baudelaire que também revela a identidade do desejo com o tormento, o que mais uma vez implica o tópos da angústia. A matéria erótica é complexa em Cruz e Sousa, baseando-se em tensões, expressas por contradições e junções insólitas que por vezes se manifestam no grotesco. O destaque dado ao erótico nos poemas de Broquéis parece ligar-se em seus fundamentos ao encantamento das impressões sensoriais e à busca do êxtase por meios anômalos – anômalos, pois o erotismo em Cruz e Sousa é revestido pela ameaça, contando em sua fruição com um híbrido de fascínio e terror. Eco de uma tradição romântica que conferiu ao belo formas aflitivas oriundas de seus opostos. O erotismo maldito demonstra ser uma faceta mais intimista da contemplação da beleza turva utilizada pelo projeto estético romântico para alargar as fronteiras do belo, como reconhece o estudo A carne, a morte e o diabo na literatura romântica de Mario Praz (1994). Além do mais, o erotismo é bastante adequado a uma estética questionadora dos postulados da razão, já que suas pulsões tangem – como considerou Georges Bataille nos ensaios que compõem sua obra O erotismo – a aspectos primitivos da sensibilidade, despertando sensações que colocam em xeque o isolamento da categoria do sujeito, por meio da diluição do indivíduo em uma miríade de sensações inexplicáveis racionalmente (BATAILLE, 1987). Enquanto a arte encaminha o sujeito para nirvanas cataclísmicos, buscados em êxtases estéticos, o motivo erótico implica a precipitação do sujeito nos abismos da perdição. Por isso, o objeto de contemplação, mormente, assume a forma de monstros grotescos, vampiros devoradores, cuja atração magnética se estabelece em uma espiral de impressões contraditórias que vão do asco ao desejo, do fascínio ao horror e são unidas pelos elementos do grotesco e pela homologia entre o êxtase e a morte. O demoníaco, o macabro e o mórbido denunciam a filiação do eu lírico de Cruz e Sousa a uma tradição sinistra do imaginário romântico, 58 ao invés da pudicícia religiosa, como se poderia supor. Não demonstra fidelidade ao moralismo cristão uma lírica que gerou poemas profanadores e sacrílegos como “Cristo de Bronze” (Broquéis), no qual Cristo surge como entidade diabólica, ídolo do pecado e do desejo – “Na rija cruz aspérrimo pregado/canta o Cristo de bronze do Pecado/ ri o Cristo de bronze das luxúrias...” (CRUZ E SOUSA, 1961, p. 73) – ou “Sexta-feira Santa” (Últimos Sonetos), onde a descrição do cadáver de Cristo é acometido por uma putrefação demoníaca – “Mas da sagrada Redenção de Cristo/ Em vez do grande Amor, puro, imprevisto/ Brotam fosforescências de gangrena!” (CRUZ E SOUSA, 1961, p. 213). Tais poemas revelam uma crise metafísica que não se submete aos postulados da fé cristã. Quando Cruz e Sousa recorre ao Cristianismo, assim como outros simbolistas, o faz na medida em que suas conotações místicas correspondem à transcendência que recobre a experiência poética5. O diabo, a morte e a doença são três entidades que ocupam o imaginário erótico romântico desde muito tempo e constituem uma longa tradição. Mario Praz reconhece que a figura feminina maldita – misto de sedução e monstruosidade – manifesta-se de várias formas nas artes do fim do século XIX (PRAZ, 1994, p. 194), e suas representações parecem compartilhar uma série de características com os poemas de Cruz e Sousa de mesma temática. Essas sedutoras apresentam-se como seres que exercem poder de vida e morte sobre a criatura seduzida, sendo repelidas e, ao mesmo tempo, desejadas. Suas representações evocam imagens como as de predadores ou animais repulsivos, que fazem lembrar os velhos mitos e lendas das harpias, lâmias, vampiros, melusinas e esfinges. De alguma forma, estes monstros se nutrem da desgraça do ser seduzido tanto por lhe trazerem maus agouros, como por fartarem-se em sua carne e sangue. 5 Apesar de o Cristianismo estar presente na poesia simbolista, do mesmo modo que outras manifestações místicas, como as religiões orientais ou o paganismo ocidental (esse último mais influente no Pré-rafaelismo inglês e na poesia de inspiração celta de Yeats), em alguns simbolistas, o Cristianismo foi elemento bastante importante na elaboração de projetos estéticos. É o caso de Antonio Nobre, que imprimiu em sua poesia elementos nacionalistas, dentre os quais estava o catolicismo popular lusitano; ou ainda de Alphonsus de Guimaraens, cuja poesia mística atesta uma devoção religiosa acentuada. 59 O erotismo de Broquéis tem forte relação com o mal e com a morte. O desejo, na voz poética, manifesta-se como carnes laceradas (como em “Dilacerações”), animais repulsivos (“Dança do Ventre”) e figuras demoníacas (“Lésbia” e “Afra”). E o eu lírico, quando não é uma espécie de Tântalo imerso no tártaro do desejo inatingível, é vítima de uma relação erótica predatória muitas vezes alicerçada no grotesco. Contudo, em muitos momentos, o grotesco parece ineficiente para manifestar por si próprio a profundidade dos abismos da perdição erótica. É nesse momento que o sublime a ele se mescla expressando nessa conjunção um terror nascido do contato da sensibilidade do eu lírico com as forças diluidoras do mistério com nuances de morte. É isso que se observa no poema “Múmia”: 1. Múmia de sangue e lama e terra e treva, Podridão feita deusa de granito, Que surges dos mistérios do infinito Amamentada na lascívia de Eva. 2. Tua boca voraz se farta e ceva Na carne e espalhas o terror maldito, O grito humano, o doloroso grito Que um vento estranho para os limbos leva. 3. Báratros, criptas, dédalos atrozes Escancaram-se aos tétricos, ferozes Uivos tremendos com luxúria e cio... 4. Ris a punhais de frígidos sarcasmos E deve dar com gélidos espasmos O teu beijo de pedra horrendo e frio!... (CRUZ E SOUSA, 1961, p. 71) Escusado apontar a filiação da imagem central desse soneto – a múmia canibal e ctônica – às mulheres fatais dos poemas de Baudelaire, cujo fatídico poder de atração converte-as, com freqüência, em monstros que, embora descritos com a galanteria irônica e o requinte que caracterizam o discurso baudelairiano, apresentam laivos horrendos. Assim como Baudelaire (em poemas como “Le Léthé”, “Une Charogne” e “La Danse Macabre”) explora novas potencialidades da beleza ao conferir graça ao horror 60 e ao grotesco, Cruz e Sousa produz uma forma de beleza aflitiva na qual grotesco e sublime encontram-se no retrato da contemplação do horror. Comum entre os dois poetas é o apelo erótico ligado à diluição de si próprio. Em “Múmia”, temos uma força devoradora, intimamente vinculada aos aspectos do feminino, materializada em uma entidade hedionda, cujos traços tanto têm de grotesco quanto de sublime. A própria matéria prima que compõe esse monstro devorador agrega aspectos sublimes e grotescos: a Múmia é composta por “sangue”, “lama”, “terra” e “treva”. Tratam-se de vocábulos ligados ao grotesco por remeterem ao tópos do baixo – literalmente ao chão, no caso de “lama” e “terra” – e por emanarem o horror e o fantástico, como “sangue” e “treva”. Esses mesmos termos ligam-se a conceitos míticos vinculados, principalmente, ao ctônico e ao telúrico (nos casos de “lama” e “terra”) e ao caótico, expresso na alusão às zonas limítrofes entre vida e morte (“o sangue”), assim como aos elementos misteriosos que envolvem o cosmo, representando tanto as ausências quanto a escuridão primordial (“treva”). Assim, a múmia é descrita como monstro gerado da conjugação da terra com a escuridão, banhada com sangue, de uma maneira que remete à cosmogonia mítica. Os pontos de contato com o elemento caótico das cosmogonias inevitavelmente filia a imagem ao sublime, remetendo ao infinito e à contemplação dos aspectos terríveis do próprio universo. Mais adiante é reforçado o caráter ctônico e cósmico da múmia: Podridão feita deusa de granito, Que surges dos mistérios do infinito Amamentada na lascívia de Eva. Se, por um lado, a putrefação aponta os estágios avançados e repulsivos da morte, por outro, participa de uma composição imagética que depura a natureza grotesca: a ligação da podridão da carne com a terra gera a analogia com a pedra, a partir da qual nasce a deusa devoradora do poema. Não se trata de mero cadáver putrefato, mas de uma “deusa de granito”, cuja condição hedionda encontra o sublime quando ela é convertida em entidade telúrica. O 61 caráter sublime desse cadáver grotesco é realçado quando a múmia surge “dos mistérios do infinito” e é “amamentada na lascívia de Eva”, ou seja, é fruto da conjugação das forças cósmicas desconhecidas e do erotismo maldito representado pela figura de Eva, emblema do vínculo entre a mulher e o pecado, segundo a concepção judaico-cristã. Assim, o próprio elemento feminino (por extensão, o erótico) – já que remete tanto ao mistério, quanto ao ctônico – aproxima grotesco e sublime: ora a mulher integra a galeria dos monstros ctônicos, ora o fascínio ambíguo que exerce obriga o eu lírico a referir-se à múmia como deusa, justamente por seus atributos femininos. A múmia de Cruz e Sousa aproxima-se, desse modo, das deusas-monstro dos mitos primordiais, fazendo parte do panteão grotesco criado pelo poeta, no qual já figura o velho satã decadente de “Majestade caída”. Enquanto esse satã, como um Prometeu gauche, preside sobre os homens (mais precisamente sobre a “raça” dos poetas), a múmia encarna o escuro, o lado desconhecido da natureza e o feminino. Assim como nos mitos, em que o caos gera formas monstruosas que se insurgem contra a nova ordem do cosmo, ameaçando-o de destruição; a múmia de Cruz e Sousa é força ameaçadora e voraz: Tua boca voraz se farta e ceva Na carne e espalhas o terror maldito, O grito humano, o doloroso grito Que um vento estranho para os limbos leva. A ligação da múmia com os outros mundos recebe relevo ainda maior no primeiro terceto do poema, quando a boca devoradora grotesca evoca outras grotas, portais que ligam o mundo conhecido a mistérios terrificantes – imagens localizadas entre o sublime e grotesco: Báratros, criptas, dédalos atrozes Escancaram-se aos tétricos, ferozes Uivos tremendos com luxúria e cio... Esse decassílabo heroico e formado por aliteração de fonemas fricativos que dão à sequência cumulativa dos termos uma impressão acústica de crepitação, como se ao ler 62 o poema caminhássemos em terreno escarpado. Além disso, nota-se um paralelismo perfeito na distribuição tônica das sílabas: proparoxítona (“báratro”) / paroxítona (“criptas”) / proparoxítona (“dédalos”) / paroxítona (“atrozes”). Esse esquema também contribui para a impressão acústica de atrito, impressão essa que percorre praticamente todo o terceto: “escacaram-se”, “tétricos”, “ferozes”, “tremendos” e “luxúria”. Nesse terceto as grotas estão ligadas ao elemento erótico: é precisamente o terror matizado por magnetismo sexual (“uivos tremendos com luxúria e cio”) que parece tragar o eu lírico para o além. Nos “uivos de luxúria” encontramos um paralelo grotesco do “grito humano, o doloroso grito” despertado pela múmia, presente no segundo quarteto do poema. Se num primeiro momento a múmia é fonte de terror, posteriormente, escancaradas as portas do mistério e aberta a via para a transcendência rumo ao desconhecido, ela torna-se entidade promotora de atração erótica, expressa no terror e nas imagens acústicas, agora bestializadas pelo desejo. Se o grito de terror era humano, os sons da luxúria são animalescos (“uivos” movidos pelo “cio”). No terceto final, o cadáver devorador, deusa grotesca e sublime dos mundos desconhecidos, é personificado como uma femme fatale: Ris a punhais de frígidos sarcasmos E deve dar com gélidos espasmos O teu beijo de pedra horrendo e frio!... Aqui a atmosfera erótica que se insinuava na contemplação dessa entidade se torna mais explícita, na identificação da múmia com a femme fatale indiferente, de riso cortante como punhais, cujo beijo gélido é ofertado como um espasmo de morte. Imagens associadas ao campo semântico das ausências parecem evocar a morte. Seus beijos são como os dos vermes, monstros e vampiros de Baudelaire – mordidas que, entre carícias nefastas, arrancam pedaços do indivíduo, aniquilando-o na experiência erótica. “Múmia”, desse modo, comprova a maneira como as experiências sensoriais servem como forma de diluição do material e encaminham a sensibilidade para as instâncias 63 inefáveis, mesmo por caminhos perigosos. O mundo material, apartado dos ideais e dos sonhos, em Cruz e Sousa, é palco da angústia, já que sua lírica atesta uma busca passional pela dissolução da matéria e a liberdade das outras faculdades do sujeito – sejam essas o espírito, a consciência ou a imaginação. Por isso, o erotismo está entre os temas mais tensos de sua lírica, já que nele os impulsos da matéria, expressos no desejo sexual, se tornam intensos, ao mesmo tempo em que propiciam sensações de evasão do próprio corpo, suscitadas por estados extáticos. Junta-se a esses elementos toda a tradição do erotismo maldito legada pelo Romantismo, que em Cruz e Sousa transforma a pulsão erótica em um arrebatamento a planos muitas vezes sinistros, como se observou no poema “Múmia”. O que se observa na obra de Cruz e Sousa, porém, não é o processo de sublimação do sujeito lírico – como supuseram algumas leituras canônicas da obra Últimos Sonetos – mas o retrato da aspiração dolorosa pela transcendência. Nesse sentido, convém lembrar aqui de uma tendência da crítica em observar na lírica do autor um percurso que vai da revolta inicial nas primeiras obras até uma suposta resignação estoica presente em Últimos Sonetos. Tal tendência contou com forte prestígio, sendo representada por nomes bastante expressivos de nossa cultura artística, como Fernando Góes, Henriqueta Lisboa, Tasso da Silveira e Walter M. Barbosa. Esses estudiosos tinham como ponto em comum a percepção de elementos cristãos na metafísica de Cruz e Sousa, concebendo a preponderância do satanismo estético como características superadas em Últimos Sonetos. No entanto, como aponta Ivone Daré Rabello, no ensaio “A Jornada Vã – polêmica sobre o misticismo cristão de Cruz e Sousa: Comédia divina e ironia moderna”, a busca por transcendência nos poemas de Cruz e Sousa manifesta-se com muito mais frequência na dúvida. Além disso, a resignação atribuída por essa tendência da crítica aos poemas de Cruz e Sousa está distante das interjeições sofridas do discurso passional que domina os meios de expressão do poeta. Tentar resolver os conflitos instaurados pela lírica de Cruz e Sousa mediante a perspectiva do misticismo cristão, além de ser um equívoco, segundo 64 Ivone Daré Rabello, seria uma forma cômoda de simplificar as tensões que são a pedra de toque de sua obra. Afinal, a aparente paz de alguns poemas de Últimos Sonetos, como afirma Ivone Daré Rabello (apud IOPANAN, 1999, p. 29), traz no fundo uma trama de “conflitos insolúveis”: Se o caminho ascensional, místico, ordena grande parte desses Últimos Sonetos, a temática, única na lírica brasileira, ao menos no século XX, suscita especulações sobre a via crucis do homem negro e pobre. Na arte, teria vertido dor em certezas espirituais e a experiência se sublimara nas lides da elaboração poética, dissolvendo-se angústia em canto. A interpretação, muito recorrente, é também cômoda e acomodadora: todos conflitos que se põem à mostra na obra de Cruz e Sousa, em chave de poesia enigmática, ficam então resolvidos pela força com que o injustiçado se voltou para a visão beatífica. (RABELO apud SOARES, 1999, p. 28) Além da aspiração pela transcendência, é preciso considerar ainda a inclinação que a poesia de Cruz e Sousa tem pelas analogias vertiginosas e intrincadas. Assim, sublime e grotesco não se configuram isoladamente em sua lírica, mas, com frequência considerável, misturam-se, gerando uma forma de beleza nova, em medidas ainda não exploradas pelo Romantismo anterior. Em Cruz e Sousa, a conjugação do grotesco e do sublime parece nascer da tentativa de expressar as dimensões dos conflitos de sua sensibilidade, tão aberta ao apelo das altas esferas como imersa nos disformes pesadelos interiores. É como configuração da dinâmica que orquestra as variações da angústia que essas duas categorias se unem. Dor e arte são elementos superlativos em Cruz e Sousa, tomando não apenas conta das instâncias internas do eu lírico, como dos espaços metafísicos que a Modernidade tornou vazios, com seu elogio da razão em detrimento da visão encantada de mundo.6 Por isso, pode-se falar em uma 6 Michael Löwy e Robert Sayer em seu estudo intitulado Revolta e Melancolia, tratam o Romantismo em termos de um fenômeno engendrado no centro da Modernidade como resistência aos ditames racionais e utilitaristas da própria Modernidade. Assim, segundo os autores, para exercer sua crítica, o Romantismo, entre outros fatores buscaria uma forma de reencantamento do mundo através da arte e do pensamento (LÖWY. SAYER, 1995, p.34-35) 65 metafísica da angústia em Cruz e Sousa que tem entre suas pulsões a visão ascensional da arte, a busca do absoluto no inefável e a negação da matéria. O universo de Cruz e Sousa é, desse modo, dotado de uma cosmologia dual, semelhante à platônica, mas de cores mais carregadas. A parcela do mundo física, material e sensorial é revestida por formas grotescas que dão face a todas as limitações, carências e anseios frustrados – o grotesco, nesse sentido, tende a ser o rosto hediondo das misérias humanas; como é indiciado em poemas como o soneto “Condenação fatal”: Ó mundo, que és o exílio dos exílios, Um monturo de fezes putrefato, Onde o ser mais gentil, mais timorato, Dos seres vis circula nos concílios [...] Oh! Como são sinistramente feios Teus aspectos de fera, os teus meneios Pantéricos, ó mundo que não sonhas! (CRUZ E SOUSA, 1961, p. 203) Já o sublime, com seu caráter diáfano, indica o mundo onde as fantasias poéticas encontram o absoluto – é o sublime, portanto, que sugere o ideal. Todavia, como se pode observar, as duas categorias se encontram com frequência em sua obra, precisamente naquelas zonas em que o transporte de um mundo a outro, em geral, é operado na tentativa de fixação do processo de transcendência. Desse modo, pode-se concluir que a visão metafísica de Cruz e Sousa é registrada esteticamente no processo de tentativa de romper as amarras materiais e subjetivas com fins de diluir o sujeito no absoluto. Tomando-se o exemplo de Cruz e Sousa como sintomático da sensibilidade particular que regeu a poética decadentista, tributária da tradição romântica e solo fértil da poesia da Modernidade, torna-se flagrante que a transcendência estética – tema que em contextos anteriores costumava tornar-se manifesta na esteira do sublime – encaminhou os líricos do fin-de-siècle aos mistérios da noite, dos abismos e do Nada. Para eles, a transcendência não parece assumir os contornos do arrebatamento, mas traduz-se 66 melhor como experiência de precipitação. Baudelaire, farol dessa geração, já havia ensinado aos seus discípulos o caminho para a plaga sombria onde um novo ideal, ainda desconhecido, aguardaria para ser descortinado, ao cantar no poema “La Mort”, “Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu´importe?/Au fond de L´inconnu pour trouver du nouveau!7” (BAUDELAIRE, 1961, p. 30). Foi precisamente nos abismos (mesmo que confundido algumas vezes com o firmamento escuro) que Cruz e Sousa se precipitou ao seguir a vereda entrelaçada entre o grotesco e o sublime, cujo término parece desembocar em uma forma de beleza ambígua, vertiginosa, e aparentemente até então desconhecida pelas letras nacionais. Referências BATTAILLE, G. O Erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. BAUDELAIRE, C. Oeuvre complète. Paris: Gallimard, 1961. BURWICK, F. The Haunted Eye: Perception and Grotesque in English and German Romanticism. Heidelberg: Winter Verlag, 1987. (Reihe Siegen, 70) CALINESCU, M. Cinco caras de la modernidad. Madrid: Editorial Tecnos, 1991. COUTINHO, A. (Org.) Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/ Brasília: INL, 1979. CRUZ E SOUSA, J. da. Obra completa. Organização, introdução e notas de Andrade Muricy. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1961. HUGO, V. Do grotesco e do sublime. Tradução de Célia Berrentini. São Paulo: Perspectiva, 1988. HUYSMANS, J-K. À Rebours. Paris: Gallimard, 1977. KANT, E. Crítica del judicio. Tradução de José Rovira Armengoi. Buenos Aires: Losada, 1961 KAYSER, W. O Grotesco: Configuração na pintura e na literatura. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2003. 7 “Mergulhar no fundo do abismo, Inferno ou Céu, que importa?/Ao fundo do desconhecido para encontrar o novo!” (tradução livre de nossa autoria). 67 LÖWY, M. SAYRE, R. Revolta e melancolia: o Romantismo contramão da modernidade. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1995. MICHAUD, G. de. Méssage poétique du symbolisme. Paris: Nizet, 1966. MURICY, J. C. de A. Panorama do movimento simbolista brasileiro. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1987. PAZ, O. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. Tradução de Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. PRAZ, M. A carne, a morte e o diabo na literatura romântica. Tradução de Philadelpho Meneses. Campinas: Editora da Unicamp, 1994. RABELO, I. Polêmica sobre o misticismo cristão em Cruz e Sousa: Comédia divina e Ironia Romântica. In: SOARES, I. Morcego Cego. Revista de Estudos sobre Poesia. Florianópolis, v. 2, p. 27-42, 1999. WEISKEL, T. O sublime romântico. Tradução de Patrícia Flores da Cunha. Rio de Janeiro: Imago, 1994. Recebido em 31/10/2009 Aceito em 30/11/2009 68 ESAÚ E JACÓ E MEMORIAL DE AIRES: A ABOLIÇÃO E A REPÚBLICA SOB O OLHAR MACHADIANO Adriana da Costa Teles1 Resumo: Os romances finais de Machado de Assis, Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908), são ambientados em um período que cobre a emancipação dos escravos e a transição do Império para a República no Brasil. Ambos os romances, apesar de apresentarem uma abordagem discreta sobre tais questões, deixam margem para que o leitor discuta índices interessantes a respeito desse período pela qual o país passava. O objetivo do presente artigo é discutir alguns aspectos da maneira pela qual Machado retrata esse momento delicado da história brasileira por meio de sua ficção. Palavras-chave: Esaú e Jacó, Memorial de Aires, literatura e história. ESAÚ E JACÓ AND MEMORIAL DE AIRES: ABOLITION AND THE REPUBLIC UNDER MACHADO’S EYES Abstract: Machado de Assis’ last novels, Esaú e Jacó (1904) and Memorial de Aires (1908), take place years before its publication, in a period that covers the emancipation of the slaves and the transition from Empire to Republic in Brazil. Although they present a discreet discussion about these facts, both of them propitiate to the reader to notice interesting aspects of this Brazil in change. The aim of this article is to discuss some aspects of the way Machado portraits this delicate moment of Brazilian history by his fiction. Keywords: Esaú e Jacó, Memorial de Aires, literature and history. 1 Adriana da Costa Teles é doutora em Teoria da Literatura pela UNESP/Ibilce de São José do Rio Preto, professora de Teoria da Literatura e Literatura Brasileira da FAIMI (Mirassol) e da UNILAGO (São José do Rio Preto), e-mail: [email protected]. POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 69-82 2009 issn 0104-687x As obras finais de Machado de Assis, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, apesar de publicadas no início do século XX, 1904 e 1908, respectivamente, são ambientadas anos antes, ainda no século XIX. Os dois romances, que tem em comum a presença de Aires, compõem um conjunto interessante que, pelo período abordado, engloba um momento importante da história do Brasil: Memorial de Aires tem como cenário histórico predominantemente a emancipação dos escravos, o romance dos gêmeos, por sua vez, levemente toca na questão da abolição, para se focar no evento da República. Como é próprio do estilo machadiano, tal representação não se faz de maneira óbvia, mas por meio de um discurso resvaladiço e retórico que oculta em suas veredas elementos a serem perscrutados pelo leitor interessado em tais questões. Em Esaú e Jacó, a temática se mostra de maneira mais explícita, haja vista Pedro e Paulo, inimigos na vida pessoal e política, um com tendências para a República, outro para o Império. Além do conflito ideológico entre os irmãos, há a presença de alguns capítulos do romance que dão conta da questão. É o caso dos capítulos referentes às tabuletas, “Tabuleta velha” e “Pare no D” e “O golpe” e “Manhã de 15”, para citar alguns exemplos. Em Memorial de Aires, a questão aparece de maneira mais discreta por meio das anotações que o Conselheiro Aires faz em seu diário. Astuto observador, Aires registra discretamente a movimentação que circundou o evento. Tal descrição terá como elementos decisivos os relatos do Comendador Campos, as personagens Santa-Pia e Fidélia. 1. Literatura e história A presença do viés histórico nos dois últimos romances machadianos chama a atenção do leitor que freqüenta os textos do autor. Afinal, sabendo que nada se faz de maneira gratuita em sua ficção, tais índices nos convidam a olhar mais de perto para a maneira com que são tramados. O olhar que dispensamos à questão se faz inspirado pelo pensamento de Antônio Candido. O crítico brasileiro chama a atenção em Literatura e Sociedade (1985) para a importância de se fundir 70 (...) texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo (CANDIDO, 1985, p. 4). Como se pode perceber, não se trata de adotar, aqui, um ponto de vista segundo a qual o externo explica e atribui valor à obra nem de tomar o texto como objeto cuja estrutura é completamente independente do universo exterior, mas sim de conceber texto e contexto como elementos necessários ao trabalho interpretativo. Para Candido, “o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (1985, p. 4). O que nos interessa é discutir de que forma a questão histórica é trabalhada esteticamente de maneira tal a ser um elemento produtor de significados no texto. A questão não é, portanto, a do contexto social enquanto veículo a conduzir a corrente criadora, fornecendo ambiente e costumes. É o que afirma Candido que, ao comentar o romance Senhora, aponta para a necessidade de fazer uma análise em que levamos em conta o elemento social, não exteriormente, como referência que permite identificar, na matéria do livro, a expressão de uma certa época ou de uma sociedade determinada; nem como enquadramento, que permite situá-lo historicamente; mas como fator da própria construção artística estudado no nível explicativo e não ilustrativo (CANDIDO, 1985, p. 7). Semelhante discussão requer que o leitor esteja atento não apenas às obliqüidades do discurso machadiano, mas também às artimanhas de transposição de um universo ao outro, ou seja, do universo da realidade para o da representação. Na tentativa de entender um pouco mais as peculiaridades destes dois mundos, nos valemos de algumas considerações de Maria Teresa Freitas. Em Literatura e História (1986), a autora nos mostra que, por meio da construção do texto literário, os elementos do contexto social 71 são redistribuídos no fictício, dando origem a um universo que é, até certo ponto, independente do universo social original de onde foram extraídos. Segundo ela, ao criar uma história, com personagens e situações dramáticas, o autor tentará passar uma visão pessoal do universo – que não é de forma alguma cópia da realidade, mas sim interpretação dos acontecimentos relacionados à história –, através da qual chegará a uma realidade distinta daquela que a originou (FREITAS, 1986, p. 7). O escritor, ao tecer sua ficção, reconstrói o mundo que o rodeia, dando origem a uma realidade outra, que é, ao mesmo tempo, independente da realidade do qual ele é parte, mas que com ela se relaciona de maneira intrínseca. O resultado é a configuração de uma nova versão do mundo objetivo, que não pode ser confundida com a realidade concreta. O valor artístico da obra estaria, segundo Freitas, justamente nesse processo de transfiguração artística que deforma o mundo exterior e produz uma realidade filtrada pelos anseios do escritor. Assim, estamos, no caso de Esaú e Jacó e Memorial de Aires, frente a um universo recémconcebido, que apresenta, embutido nas situações que traz, o simulacro de uma determinada época e uma maneira particular de representá-la e encará-la. Para Hayden White, o escritor exerce o papel de uma espécie de cronista de seu tempo. Sobre tal questão, White afirma que tanto o escritor quanto o historiador têm como objetivo oferecer uma “imagem verbal da realidade” (1994, p. 138), mas ao romancista caberia o papel de oferecer uma perspectiva indireta, ou seja, por meio de técnicas figurativas. Mesmo que Machado não tenha o compromisso de uma representação factual, o período escolhido para ambientar seus dois últimos romances sugere seu vínculo com algum domínio da experiência humana, principalmente no que concerne aos fatos que caracterizam o período escolhido. A produção machadiana, oferecendo um retrato da vida burguesa do Rio de Janeiro do século XIX, oferece, ao mesmo tempo, um retrato indireto do contexto social que a circunda. Retratar a burguesia carioca, como se costuma dizer das obras de Machado, requer situá-la em um con72 texto social abrangente que, mesmo não sendo o foco do enredo, é parte inextirpável da vida social enfocada e cujo papel dentro do contexto burguês encontra-se latente nas situações e acontecimentos abordados. Assim, personagens aparentemente isoladas de um contexto social totalizante mostram-se profundamente reveladoras do modo como funciona todo um sistema. Esaú e Jacó e Memorial de Aires, narrativas que aparentemente se limitam a retratar uma classe social mais privilegiada dentro do contexto carioca de fins de século XIX, trazem à tona elementos de suma importância para a discussão de aspectos fundamentais de um Brasil de fins de século. 2. Um pouco de Brasil sob a ótica machadiana Os eventos históricos presentes em Esaú e Jacó e Memorial de Aires, sérios, devidos à sua própria natureza, surgem imiscuídos a eventos de menor importância e valor, inseridos na vida cotidiana das personagens. Tal recurso composicional provoca um efeito interessante. Ao mesmo tempo em que insere o tema de maneira despretensiosa e casual, livrando o autor de um compromisso de representação factual e, portanto, deixando a obra mais livre de expectativas e aberta a significações várias, proporciona ao leitor observar os eventos a partir de uma ótica no mínimo curiosa, de um ponto de vista, diríamos, interno à narração. Por meio de tal recurso, o leitor passa a compartilhar do aspecto cotidiano do evento, observando os fatos próximo às personagens e a partir do dia-a-dia vivenciado por elas em meio a tais acontecimentos. A título de exemplificação, citamos Esaú e Jacó e uma curiosa passagem que retomaremos ao longo de nossa discussão. A aproximação da República é trazida para o leitor, no referido romance, dentre outros fatos, pelo episódio das tabuletas. Custódio, dono de uma confeitaria conhecida e tradicional, a “Confeitaria do Império”, decide pintar a tabuleta do estabelecimento, substituindo a placa velha e desbotada por uma nova e recém pintada. No entanto, os boatos da “revolução” e da mudança do regime o colocam em polvorosa, afinal, o investimento era grande e o risco de 73 uma represália dos republicanos poderia lhe render prejuízos como a quebra das vidraças e a própria destruição da tabuleta. Isso faz com que mande um recado urgente ao pintor: “pare no d”. Dessa maneira, Custódio poderia aproveitar o início da pintura, pois, caso o advento da República se concretizasse, o fim estaria inevitavelmente perdido. No entanto, o pintor já havia finalizado o trabalho e não queria “despintar tudo” como lhe pede Custódio, a menos que este lhe pagasse a despesa, o que causa profundo aborrecimento ao confeiteiro e o leva a pedir auxílio a Aires. Este, na tentativa de ajudá-lo, sugere que mude o nome da confeitaria para “Confeitaria da República”. A passagem, que resumidamente apresentamos, aparece ao longo de alguns capítulos da obra e ilustra algumas questões importantes sobre o envolvimento das personagens com o evento iminente. De forma caricata, nos é mostrado que as pessoas não estavam propriamente preocupadas com a mudança que se aproximava, pelo menos, não preocupadas com os possíveis rumos que tomaria o país, mas voltadas para suas preocupações particulares e interesses próprios. O acontecimento sério, que, a princípio, iria abalar a estrutura de governo do país, aparece banalizado em meio às preocupações do confeiteiro, que, indignado e desolado, reflete: “E afinal que tinha ele com a política? Era um simples fabricante de doces, estimado, afreguesado, respeitado, e principalmente respeitador da ordem pública” (EJ, 2003, p.137). A mistura do sério com o banal é curiosa. Aliás, diríamos que é aí que o discurso machadiano se faz certeiro e significativo. Mais do que assumir uma causa, a da representação histórica, ou criar um efeito de verossimilhança para seu romance, com um cenário que se apóia em fatos conhecidos da então recente história brasileira, a opção pelo sério em meio ao comezinho parece, em última instância, sugerir a existência de certa distância entre o cidadão comum e os fatos decisivos pela qual passava o país. O advento da República parece afetar a personagem não porque alterará a forma de governo do país do qual é parte, mas por mexer com seu negócio e, principalmente, pela possibilidade de lhe causar prejuízos financeiros. A opção ideológica, se a favor 74 do Império ou da República, ou mesmo a troca de regime, parece pouco importar: “que tinha ele com a política”? Ismael Ângelo Cintra afirma em “Discursos entrecruzados: história e representação em Esaú e Jacó”, artigo publicado pela revista Linha d’água em 1990, que a visita de Custódio, (...), tematiza o envolvimento periférico das pessoas com o fato maior da política nacional. Tematização alegórica, evidentemente. Através da figura quase caricata do comerciante às voltas com a tabuleta velha e podre de sua confeitaria, imprópria para a tinta nova e para novos letreiros (...), o texto permite perceber ironicamente, o tipo de interesse que a mudança de regime desperta (CINTRA, p. 27, 1990). O pouco envolvimento do cidadão comum com questões maiores do país parece ser reiterado em Esaú e Jacó. Assim como Custódio, outras personagens parecem mais preocupadas com questões particulares do que com aspectos que concernem o todo da nação. É o caso de Santos, por exemplo. Pertencente a uma classe social mais privilegiada, Santos, ao tomar conhecimento de que a república se aproxima, preocupa-se com o funcionamento do sistema financeiro que rege a nação. Fica claro, no entanto, que sua preocupação não é com uma possível crise social, mas com os prejuízos que poderia ter caso algo assim ocorresse. Ao narrar as preocupações de Santos, o narrador afirma que “todo ele parecia entregue ao presente, ao momento, ao comércio fechado, aos bancos sem operações, ao receio de uma suspensão total de negócios, durante prazo indeterminado” (EJ, 2003, p. 142). Os Batistas, por sua vez, mal controlam a ansiedade: “nenhum deles podia crer que as instituições tivessem caído, outras nascido, tudo mudado” (EJ, 2003, p. 150). Estes, que haviam comemorado a presidência de uma província na noite de 14, percebiam, estupefatos, que o sonho de ascensão política e social estava extinto ou, pelo menos, bastante comprometido. É pertinente chamar a atenção, também, para a maneira como as pessoas tomam conhecimento do advento da República em Esaú e Jacó. As primeiras informações chegam para as pessoas de maneira incerta e parcial. Aires, por exemplo, 75 toma conhecimento do fato por meio de um discurso elíptico e fragmentário. O Conselheiro, de manhã no Passeio Público, percebe certa agitação e ouve conversas que mencionam “Deodoro, batalhões, campo, ministério, etc” (EJ, 2003, p.132, grifos do autor). No entanto, tais informações não fornecem dados precisos ou confiáveis ao Conselheiro, que não consegue saber com exatidão o que estava ocorrendo. Na volta para casa, o cocheiro que leva Aires confirma a chegada da República e afirma ter levado um passageiro estranho que “tinha sangue nos dedos” (EJ, 2003, p.133). No entanto, inseguro com o que teria visto, o cocheiro recua: “Mas reparei e vi que era barro” (EJ, 2003, p.133) e logo depois conclui: “pensando bem, creio que era sangue” (EJ, 2003, p.133). Além de traçar diálogo com um discurso absolutizador, enfatizando por meio do ponto de vista adotado o quão incerto e ambíguo podem ser os fatos (e tocando em questões relativas à representação, caras às correntes estéticas predominantes no período), tais passagens mostram o tipo de envolvimento e engajamento que se tinha com tais questões. A República parece muito distante não apenas do povo, representado aí pelo cocheiro, mas também de certa elite, Aires, por exemplo, o que torna o fato envolto em mistérios e boatos. O que, em princípio, deveria fortalecer e envolver os membros da nação, provoca especulações e os colocam como espectadores da situação. O envolvimento periférico das pessoas com os fatos de seu tempo pode ser visto também em Memorial de Aires. A última obra machadiana, que tem como discreto cenário a emancipação dos escravos, apresenta uma sociedade que mostra um individualismo latente. Memorial, como sabemos, é um romance escrito em forma de diário pelo Conselheiro Aires, que registra em seus apontamentos fatos e impressões que presencia em seu dia-a-dia. Apesar de os acontecimentos trazidos pelo suposto diário se ambientarem entre janeiro de 1888 e agosto de 1889, cobrindo, portanto, o evento da abolição, há, curiosamente, uma ausência quase que total de alusão ao evento da emancipação por parte dos personagens. Os fatos referentes à abolição presentes no diário de Aires provêm de informações que lhe são fornecidas pelo Comendador Campos, irmão de Santa-Pia, um fazen76 deiro escravista. O núcleo central de personagens, pequenos burgueses cariocas, amigos de Aires e muito presentes em seu memorial, sequer comenta a questão. Eis aí um índice curioso. O fato de o acontecimento passar despercebido pelo grupo, ao contrário do que ocorre com o advento da república em Esaú e Jacó, se dá talvez devido a pouca interferência que produz na vida dessas pessoas. Ao contrário do que ocorre em Esaú e Jacó, em Memorial as personagens não se vêem ameaçadas pela mudança iminente. Há, a esse respeito, uma passagem curiosa de Memorial de Aires, que merece ser mencionada. Trata-se da entrada de 14 de maio, meia-noite. Nela, o Conselheiro narra uma visita feita à casa dos Aguiar na noite de 13 de maio, dia da emancipação dos escravos. Aires narra que ao chegar à casa dos Aguiar encontrou algumas pessoas e bastante animação. A alegria de todos o leva a felicitá-los pelo acontecimento do dia, a abolição. A resposta que obtém, no entanto, o espanta: “Já sabia?”. Não entendendo a situação, Aires aguarda algum comentário que o esclareça, o que logo acontece. A felicidade geral era devida a uma carta recém chegada da Europa em que o afilhado do casal, Tristão, mandava notícias depois de muitos anos. A ironia presente no texto é clara. A felicidade que o Conselheiro vê nos presentes e atribui ao “grande acontecimento do dia”, a emancipação dos escravos, estava equivocada. A alegria e a comemoração na casa dos amigos não se deviam à abolição e sim a uma carta recém-recebida da Europa. Assim, ganha sentido a irônica e sugestiva reflexão com que Aires abre suas anotações de 14 de maio de 1888 para descrever sua visita à casa de Aguiar na mesma noite: “não há alegria pública que valha uma boa alegria particular” (MA, 2003, p. 281). O evento da abolição parece não figurar entre as preocupações dos amigos de Aires, sendo facilmente substituído por eventos particulares que se instalam e roubam a cena sem constrangimento. Novamente temos a ironia do narrador que sutilmente nos aponta uma sociedade segmentada que se aliena dos acontecimentos decisivos de sua história em virtude de um universo particular predominante. Cabe aqui citar algumas interessantes observações que Dirce Riedel faz em seu artigo “Omissão ou participação? 77 O negro na obra de Machado de Assis: Aires e o seu Memorial”, publicado em 1983, pela revista Caleidoscópio. Segundo a autora, Machado cria um narrador que observava a sociedade pela ótica da alta e média burguesia carioca. No entanto, o narrador machadiano conhece os problemas sociais que essa classe social muitas vezes procurava ignorar. Segundo a estudiosa, o texto de Machado é tecido a partir de paradoxos que se estabelecem nas relações entre personagens omissos, que se calam frente ao que vêem. O arranjo dos fatos, as opiniões que as personagens exprimem ou as conclusões que tiram expressam somente um retrato do comportamento da sociedade, mais especificamente a classe média e alta burguesia, frente a esse e outros problemas sociais. Um dado que não pode escapar da percepção do leitor é que o país retratado em Esaú e Jacó e Memorial de Aires mostra-se em um período de mudanças: a nova condição dos negros, o novo regime. No entanto, essa mudança parece ser problematizada. A grande questão que parece ser colocada é: as mudanças representariam, de fato, transformações políticas e sociais? Em Esaú e Jacó, Santos, além de se preocupar com a harmonia do funcionamento do sistema financeiro do país, mostra-se preocupado, também, com uma possível “revolução”. Segundo o narrador, “Santos receava os fuzilamentos, por exemplo, se fuzilassem o imperador, e com ele as pessoas de sociedade? Recordou que o Terror...” (EJ, 2003, p. 142). Parece óbvio que a preocupação da personagem é com uma possível investida contra as elites, da qual é membro. Parte do grupo das “pessoas da sociedade”, Santos imagina as conseqüências de uma revolução nos moldes de outras já ocorridas em lugares diversos... . No entanto, é curioso o comentário que Aires faz em seguida. Procurando acalmar Santos, Aires tira-lhe o “terror da cabeça. (...). Depois lembrou a índole branda do povo. O povo mudaria de governo, sem tocar nas pessoas” (EJ, 2003, p. 142). A índole branda do povo parece apontar para uma mudança de regime diferente do que geralmente ocorre em outros lugares. A alusão ao “Terror” remete o leitor à idéia de uma revolução nos moldes de outras que, de maneira 78 violenta e determinada, depuseram regimes e deram início a um novo contorno político e social de seus países. Diferença crucial para com o país delineado em Esaú e Jacó, onde a índole pacífica do povo mudaria de governo sem tocar nas elites e em quem se encontra de fato no poder. Para além de uma mera observação, Aires parece assinalar um país que passa por um período de mudanças, mas com poucas alterações. É o que percebemos por meio de outros comentários desferidos pela personagem ao longo desses capítulos que lidam de maneira mais direta com o evento da República. Sobre a mudança de regime, o narrador assinala: Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria; o regímen sim, era possível, mas também se muda de roupa sem mudar de pele. Comércio é preciso. Os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição (EJ, 2003, p. 141). A passagem citada deixa entrever que a mudança que Aires vê próxima é mais aparente do que propriamente real. A afirmação de que se muda de roupa sem trocar de pele, revela uma alteração exterior e não propriamente na estrutura do que está para ser mudado. É bastante irônica a afirmação de que dali a poucos dias tudo voltaria ao que era de véspera, menos a Constituição. Ora, mas não é a Constituição que regula a vida do indivíduo em sociedade? Se ela se transforma, tudo o mais não deveria mudar também? É neste contexto que retomamos a questão das tabuletas, já discutidas anteriormente. Estas parecem ilustrar de maneira alegórica a mudança que tomava lugar no país, naquele momento. A troca de tabuletas, uma velha e podre, por uma nova e recém pintada poderia ilustrar uma mudança semelhante a que ocorre no regime: uma troca de tabuletas. Em uma, velha, desbotada e comida pelos bichos, escreve-se “Império” e, em outra, nova e recém pintada, escreve-se “República”. Mas, enfim, tudo não passaria de inscrições em tabuletas? 79 Outro fato pode ser posto em paralelo a este ocorre em Memorial de Aires. Santa-Pia, fazendeiro de escravos, decide antecipar o ato da regente e emancipar os seus cativos antes que ela o faça. Segundo ele, para deixar “provado que julgo o ato do governo uma expoliação, por intervir no exercício de um direito que só pertence ao proprietário, e do qual uso com perda minha, porque assim o quero e posso” (MA, 2003, p. 277). A queda de braço entre o fazendeiro e a regente o leva a tomar a decisão. Após a assinatura da alforria, Santa Pia afirma: “Estou certo que poucos deles deixarão a fazenda; a maior parte ficará comigo, ganhando o salário que lhes vou marcar, e alguns até sem nada – pelo gosto de morrer onde nasceram” (MA, 2003, p. 278). A certeza de Santa-Pia de que, mesmo alforriados, os escravos não abandonariam as terras em que viviam, aceitando trabalhar por qualquer salário ou mesmo de graça, evidencia o quão precária era a situação dos negros naquele momento no Brasil e o quão ilusória era a abolição. É bastante duvidosa a razão que o fazendeiro dá para a suposta permanência dos negros em sua fazenda – “pelo gosto de morrer onde nasceram”. Não seria pela falta de alternativas e oportunidades que estes homens e mulheres careciam na época? Não é possível lermos a justificativa do Barão senão como reflexo de uma ironia do narrador, com seu intuito desmascarador? Afinal, o apego telúrico ou nacionalista (o gosto de morrer em sua pátria) só pode soar como absurdo. O fazendeiro sabe que dificilmente algo vai mudar na estrutura social ou nas relações que tem para com os (ex) escravos. Estes, mesmo livres, continuarão presos à sua condição de trabalhadores rurais e à falta de oportunidades, não tendo alternativa outra a não ser continuar exatamente como antes, somente ostentando, agora, uma liberdade que é muito mais fictícia do que real. 3. O esboço de uma transição? Apesar de nem sempre se fazer óbvia ao leitor apressado, a referência à história nos romances finais de Machado de Assis se faz marcante, revelando um viés de leitura denso e 80 complexo. A linguagem machadiana, resvaladiça e retórica, aparece em suas duas últimas obras pronta para desestabilizar, des-costurar o discurso histórico. É claro que se trata de uma ficção, no entanto, a maneira com que Machado pinta o Brasil de fins de século XIX serve, no mínimo, para que o leitor reavalie e releia o discurso histórico. Concordamos com Cintra quando afirma que, ao estabelecer uma interlocução crítica, em alusões nem sempre disfarçadas, (...), Machado certamente tem em mira liquidar vãs e ingênuas pretensões veristas de trazer para o âmbito da literatura a própria realidade, una, inteira, pura, exposta à contemplação tranqüila e passiva do leitor (CINTRA, 1990, p.30). Como vimos, o leitor é convidado a refletir criticamente a respeito do período enfocado nos romances e a perceber certa dinâmica social que pode ser posta em paralelo ao momento histórico vivido pelo país cerca de duas décadas antes da escritura dos romances. É como se tal dinâmica colocasse movimento na História, mostrando os “bastidores” da “revolução” e da abolição, rompendo, assim, com um discurso que se quer pronto e a espera de um leitor passivo e estático. Esaú e Jacó e Memorial de Aires deixam ver uma sociedade em um período de mudanças, a emancipação dos escravos, a mudança de regime. No entanto, em meio a essas mudanças, pouco parece se alterar de fato: os escravos libertos continuariam a viver dependentes de uma estrutura que os exclui; o regime muda, mas pouco altera o país. Delineia-se, ainda, uma sociedade que se aliena de momentos decisivos de sua história. Carente de unidade e segmentada, cada grupo, cada indivíduo parece pouco se importar com o destino do todo ou com a configuração de uma nação de fato. O Brasil pintado por Machado em seus dois últimos romances perece ser um aglomerado de grupos distintos, sem comunicação entre si, isolados em seus interesses próprios, alienados em sua própria realidade e desinteressados em construir uma nação. 81 Referências CINTRA, I. Â. Discursos entrecruzados: história e representação em Esaú e Jacó. Revista Linha D’água. São Paulo, pp. 24-31, 1990. MACHADO DE ASSIS, J. M. Memorial de Aires. São Paulo: Nova Cultura, 2003. _________. Esaú e Jacó. São Paulo: Nova Cultura, 2003. FREITAS, M. T. Literatura e História: o romance revolucionário de André Malraux. São Paulo: Atual, 1986. RIEDEL, D. C. Omissão ou participação? O negro na obra de Machado de Assis: Aires e o seu Memorial. Revista Caleidoscópio, São Gonçalo, n. 3, p. 7-17, 1983. WHITE, H. Trópicos do discurso. São Paulo: Edusp, 1994. Recebido em 20/10/2009 Aceito em 20/11/2009 82 MATO GROSSO NA LITERATURA BRASILEIRA: IMAGEM MEMÓRIA E VIAGEM Olga Maria Castrillon-Mendes1 Resumo: A obra de Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, é emblemática para se pensar a construção imagética de Mato Grosso e como essa composição entra na discussão do Romantismo e do gênero paisagístico brasileiro. Pretende-se, desta forma, no percurso dos quadros da natureza nela configurados, compreender o processo de elaboração dessas imagens e as vinculações ideológicas dela decorrentes, configurando a forma como se pensou o Brasil na segunda metade do século XIX. Palavras-chave: Memória, Viagem, Literatura. MATO GROSSO IN THE BRAZILIAN LITERATURE: IMAGE, MEMORY AND TRAVEL Abstract: The work of Alfredo d’Escragnolle Taunay, Viscount Taunay, is emblematic when we think about the imagetic construction of Mato Grosso and how this composition comes into the subject of romanticism and gender landscape of Brazil. Taking into consideration the route of the paintings of nature set up in Taunays’ work, this study aims at understanding the process of making such images and the ideological relations resulted from it, setting the way it was thought Brazil in the second half of nineteenth century. Keywords: Memory, Travel, Literature. Propomos, com este artigo, analisar parte da obra de Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, buscando caracterizar a imagem que faz de Mato Grosso, ao mesmo tempo em que estaremos averiguando suas vinculações ideológicas e formação artístico-cultural, para compreender até que ponto representa um arquétipo na literatura brasileira romântica, levando-se em consideração o documentário constituído pelos relatos e pela iconografia dos viajantes que palmilharam o interior do Brasil no século XIX. 1 Professora do departamento de Letras/UNEMAT/Cáceres/MT. [email protected]. POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 83-92 2009 issn 0104-687x Como resultado de um trabalho que venho desenvolvendo há alguns anos, na Universidade do Estado de Mato Grosso, as reflexões aqui iniciadas fazem parte de um projeto maior que envolve alunos bolsistas e alguns profissionais da Literatura e da História, proponentes da idéia de compor arquivos e consecutar pesquisas sobre a formação e a cultura do Estado. Tratar da construção da imagem de Mato Grosso no século XIX, traz discussões mais abrangentes que envolvem Ciência Arte e Literatura, postulando idéias seminais para a formação da identidade nacional. O século XIX significou novas transformações sociais, novas práticas de literatura e avanços na ciência, alterando, substancialmente, a forma de ver e sentir o mundo. No Brasil, as tendências artísticas européias se mesclam às características autóctones, fornecendo elementos singulares para a formação cultural e o processo de constituição da nacionalidade. Do grupo de artistas formados pelo neoclacissismo, pela Enciclopédie e pelo Iluminismo, aliados a uma elite brasileira culta e nacionalista, começa-se a gestar o ideário romântico. Assim, o Brasil torna-se acessível aos viajantes estrangeiros que inserem saberes e imprimem imagens memoráveis através da prática em campo, elaborando desenhos e escritos moldados pelo espírito da experiência vivencial capazes de desenvolver uma escola do olhar. A natureza passa a ser personagem e meio para interpretar e criar uma imagem de Brasil. Nessa esteira, Alfredo d’Escragnolle Taunay, herdeiro de uma família de artistas e eminente homem do império, constrói uma obra articulada entre o sentimento e a razão, irremediavelmente marcada pela estética da natureza. Parece aspirar a uma arte mediada pelo espelho do olhar. Ao particularizar a paisagem mato-grossense, define o seu sentido pela compreensão do conjunto artístico em que ela se insere. Vincula-se ao naturalista alemão Humboldt e às influências legadas por Davi nos integrantes da Missão Artística de 1816, que fundaram a escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. 84 No percurso das imagens O espaço geográfico onde se configura Mato Grosso, até a sua divisão em 1978 (CAMPESTRINI & GUIMARÃES, 1991 e VALLE, 1996), foi delimitado pela formação de povoamentos, vilas e fortificações. Em 1748, quando da criação da Capitania, desmembrada de São Paulo, seus contornos iam de Camapuã (no sul) ao Guaporé (no extremo oeste) e se imprimia como “chave e propugnáculo dos sertões do Brasil”, conforme se propaga nos documentos administrativos. Podemos dizer que Mato Grosso é parte do projeto iluminista na concepção e no espírito renovador do Marquês de Pombal, sobre o qual Candido (1997, p. 63) diz que qualquer que seja o juízo que se tenha dele, sua ação foi decisiva e benéfica para o Brasil, favorecendo atitudes mentais evoluídas, que incrementariam o desejo de saber e a adoção de novos pontos de vista na literatura e na ciência. No início do século XIX, o domínio francês alastra-se pela Europa, e no mundo hispano-americano o desejo de independência, o antagonismo de interesses e a indefinição do ideário de nação colocam os países frente a problemas que envolvem política externa, de navegação e de fronteiras. Reaquecem-se antigas desavenças entre “vizinhos indigestos” (a expressão é tomada de MENEZES, 1998). Os tratados de limites com princípios coloniais são colocados em pauta, a diplomacia entre os países não funciona a contento e o impasse pela livre utilização dos rios para não isolar Mato Grosso chega ao limite do inegociável. Explode o confronto na região do Prata entre 1864 e 1870. Nesse período, Alfredo d’Escragnolle Taunay chega a Mato Grosso pela sua parte sul, compondo a malograda expedição militar contra os paraguaios. Sua função é a de relatar os acontecimentos da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, como secretário da Comissão de Engenheiros. Encargo que lhe proporcionou as observações mais pungentes da batalha e do sertão, onde os pantanais ameaçavam tragar os homens. A serviço do Estado ou da Arte, transforma o sertão em objeto da sua experiência. Tinha, então, 21 anos. Soldado, político, artista, literato desde os dez anos, neto de pintor, sobrinho de desenhista das expedições Freicenet e Langsdorff, foi um apaixonado pela natureza do Estado. 85 A sua formação e ascendência artística vincula-se à família componente da Missão Artística de 1816, no Rio de Janeiro, que funda a Academia de Belas Artes, ligada à pintura neoclássica de J. L. David (1748-1825), o artista da Revolução Francesa. Alia-se, ainda, à “estética-científica” do naturalista alemão Alexander von Humboldt, cujos escritos foram a fonte de novas e seminais visões da América nos dois lados do Atlântico (PRATT, 1999, p. 196). Seus relatos parecem compor o que Manthorne (1996) chama de “cultura de viagem” que, aliados a outros escritos elaborados por diferentes observadores sociais, formam uma literatura fundamental para a nossa constituição de povo, de raça e de processos ideológicos. Registros que prenunciam como o século XIX recorta o mundo e como as imagens escritas e desenhadas por outros olhares se mesclam com a paisagem do interior brasileiro para construir outro mundo sobre um já existente e prenhe de significação. Taunay será tocado pelo conjunto equilibrado da “dilatadíssima superfície” da natureza mato-grossense: o sertão e os sertanejos; o sol e as chuvas, o exotismo da paisagem, as tormentas dos insetos e a insalubridade do clima, que funcionarão no seu espírito como laboratório. Uma natureza não só observada, mas vivida. E esse aspecto se colocará como fundamental em toda a sua obra. Nela parece se presentificar aspectos que podem confirmar a minha hipótese de que Taunay constrói uma imagem de Mato Grosso para além da mera reprodução do natural. Imprime-lhe uma abrangência “cósmica” (o termo e a idéia são trazidos de PRATT, op. cit.). E estas perspectivas nos reportam à visão humboldtiana de natureza que parece se unir à pena de Taunay nos quadros em que pinta a paisagem mato-grossense. Localidades, usos e costumes, além da natureza do Estado constituem figuras centrais dos escritos de Taunay. Como esse “quadro” passa pelo olhar do escritor? Inicialmente, compara, fica impotente, esquadrinha os lugares e os tipos. Descreve a desolação, a distância, os horrores do calor e dos insetos, das doenças para logo em seguida explodir em sensações de alívio e de prazer. Tanto na narrativa da guerra como nas lembranças que compõem a 86 memória da natureza “jamais vista”, o espírito é perpassado por esse duplo sentimento. As imagens, entretanto, não se acumulam. Unem-se para compor o universo harmônico. Harmonia que é fruto da própria formação artística do escritor. Acostumado aos modos civilizados da corte carioca, a viagem para Mato Grosso serviu-lhe, apesar de tudo, de deleite ante os esplendores da natureza: “era eu o único dentre os companheiros, e portanto de toda a força expedicionária, que ia olhando para os encantos dos grandes quadros naturais e lhes dando o devido apreço” (TAUNAY, 1948, p. 131). Uma concepção acompanha os seus escritos: o sertão é um “lugar sem moradias”. Quanto mais se adentra, mais o cenário e os costumes vão se modificando, se fechando em tradição e em respeito aos valores morais. A tragédia do par romântico em Inocência é um exemplo disso. Esses “filhos da natureza” (SCHLICHTAORST, 1978, p. 1) dizem pouco e observam muito; característica que se imprime no modo de ser da “gente pantaneira”, na perspectiva adotada por Barros (1998). Antecipando alguns pontos de análise, presenciamos nessas obras “emblemas” (STAROBINSKY, 1988) utilizados por Taunay para retratar a paisagem mato-grossense. O rio é um deles e o mais forte, dada à incorporação do ciclo das águas a que todos os viajantes estão suscetíveis nas regiões do pantanal. Outro símbolo é a flora exuberante, com destaque especial para os variados tipos de palmeiras, especificamente, os buritis, que têm formato de um leque, cuja presença denota a existência de água: “Constitue o burity uma das minhas maiores saudades do sertão” (TAUNAY, 1923, p. 87). A paixão de Taunay por esse elemento natural é tamanha que faz do seu leitor também um observador desse vegetal. Por fim, o sol e a lua, astros-reis do sertão que imprimem luminosidade no espírito do viajante. Temos, assim, os componentes do ciclo vital do homem sintetizados no universo sertanejo: a água, a terra e a luz (claro/ escuro), compondo a química dos artifícios da pintura e o movimento da vida. Estamos, assim, dando forma à indagação: em que matrizes de pensamento se filia o autor? Ao que tudo indica e 87 ancorada na bibliografia a que já tive acesso até o momento, os procedimentos de Taunay são marcas de procedimento romântico e guarda vinculações que podem ser consideradas fundantes na sua formação de escritor de um período preocupado com um projeto de nação. Então, pensar o Brasil significava professar a idéia de que a unidade nacional é perpassada por sentimentos: de natureza e de polis. Ambivalências constantes nas representações literárias. Além de prover a arte brasileira da sua sensibilidade de escritor, Taunay atende aos ideários românticos de elevação do espírito e de relação homem/natureza. Não a elaboração mental/racional, mas segundo Candido (1997, p. 61), as ressonâncias, as harmonias entre natureza e espírito, numa experiência estritamente pessoal e intransferível. Podemos dizer que Taunay é “prisioneiro do pitoresco” para trazer as idéias de Ferdinand Denis (1978, p. 37) que em seu tratado sobre a literatura brasileira, apregoa a observação como o único guia para o pensamento que “deve alargar-se com o espetáculo que se lhe oferece”. E ensina os brasileiros a penetrarem na grandeza da natureza “muito favorável ao desenvolvimento do gênio”. Em Humboldt , como fala Pratt (op. cit.) o valor estético intrínseco e a ênfase sobre ‘harmonias e forças ocultas’ que atribui aos lugares, o alinha à estética espiritualista do Romantismo. A obra Quadros da Natureza (HUMBOLDT, 1964) traz descrições de várias partes do mundo visitadas e vividas onde passar as “noites em claro, observando as estrelas para determinar as posições geográficas”, faz parte do processo de estudo e de êxtase. Como em Taunay, parece não haver supremacia de uma paisagem sobre a outra, de uma região sobre outra, pois “em todas as zonas a natureza apresenta o “fenómeno destas planicies sem fim; mas, em cada região, tem elas caracter particular e fisionomia própria, derivados da constituição do solo, diferenças de clima e elevação sobre o nivel do mar” (op. cit., p. 6). Estaria Humboldt, como Taunay, afastado do que estabelecia a arte neoclássica? Em Chiarelli, prefaciando a obra de Gonzaga-Duque (1995, p. 13), encontramos as figuras que acompanharam a Missão Artística de 1816, e que gravitavam ao redor de duas questões estéticas que se 88 digladiavam na França naquele momento. “De um lado os partidários do neoclassicismo (...); de outro, os entusiastas de uma atitude afastada dos rigores neoclássicos (Nicolas Antoine Taunay) com fortes inclinações para a sensibilidade romântica”. Ainda trazendo o suporte do crítico de arte, a pintura de paisagem surge no Brasil como forma de oposição “para fazer surgir entre nós uma arte nacional, com características próprias, distintas daquelas dos outros países” (op. cit., p. p. 20). Este gosto mesclado dos valores estéticos se faz presente na obra do escritor. Vê-se, assim, a dualidade de que se revestiu o seu espírito, possivelmente modificado pela vivência em terras mato-grossenses. Assim como para Pratt, Humboldt reinventa a América, podemos dizer que Taunay reinterpreta Mato Grosso. Se conciliarmos as duas visões de mundo, vemos ambos evocarem uma natureza que está acima de um real verossímil, transcendendo o olhar para além do visível. Não há acúmulo de imagens, mas a harmonia de elementos pictóricos que geram os efeitos de um ‘quadro’. Neste particular, trazemos as idéias desenvolvidas por Diener (1999, p. 41-9), que, ao discutir a obra Ensaio sobre a geografia das plantas, diz que Humboldt inaugura o “gênero” de artistas viajantes e o “caráter programático” a que devem estar aliados, como a “vivência” e as “impressões”, fontes de estudo do estético. Taunay estaria antenado nesse processo criativo de observação e registros cuidadosos que permitem compor uma visão acabada da paisagem. Não há propósito de reproduzir, mas de fazer conforme um “modelo”. Desta forma, seus postulados estéticos ancoram-se na tradição clássica, sem estar preso a ela. Seu objetivo não é trazer o novo, mas re-criar a tradição a partir dos estudos e das viagens. Dois componentes que plasmam a relação homem/natureza, compondo a visão que define o “caráter” da paisagem, modelo que pode ter sido utilizado por Taunay. Ainda conforme Diener (op. cit.), no século XIX o paisagismo é um gênero e a arte auxiliar das ciências naturais. Reconhece-se, na narrativa pictórica, sinais dos elementos que se presentificam na obra do pintor David, cujas marcas irão reaparecer nos franceses da Missão Artística de 1816. Seu quadro é ‘pensado’ e a massa humana não é o retrato 89 coletivo, mas um conjunto de retratos particulares (Starobinsky, 1988, p. 73-4). Desta forma, a Missão Artística vai exercer importante papel na representação da paisagem brasileira, formando imagens que circularam na Europa e fizeram uma tradição de arte no Brasil. O Rio de Janeiro se transforma, “civilizase” aos moldes europeus; e o nome de Humboldt subjaz ao programa de composição do grupo de artistas franceses que atravessaram o Atlântico. É o contexto do indivíduo inaugurado por Humboldt e reinterpretado por Taunay após sua estada em Mato Grosso. O homem se coloca no centro do universo, testando-o, sentindo os seus influxos e experienciando os seus objetos sem, no entanto, ser maior que ele. Ao contrário, a grandiosidade da natureza traz a consciência da sua pequenez. Humboldt faz escola e nela Taunay parece se vincular. O exótico se dá pela busca de lugares ermos e indevassáveis que desafiam os limites humanos. A capacidade de captar tipos e pintar cenas faz de Taunay um dos mais fecundos escritores brasileiros do século XIX, quando utiliza da experiência imediata para conferir transcendência à arte. Consideramos, finalmente, as questões imediatas que desencadeiam o processo de análise. O que são imagens? Como podem ser construídas? Como se manifestam? Sendo Alfredo d’Escragnolle Taunay um homem de um período de adventos, interessa-nos como o Romantismo e as novas idéias republicanas se articularam em seu espírito. O Brasil começa a existir como país. As sensibilidades relativamente novas se unem à pena do escritor para compor o sentimento dominante do século XIX, assim como a literatura, a história e a arte são chamadas para nos fazer compreender parte dessas manifestações que constroem a idéia do que chamamos Brasil. O homem viaja e se descobre. Nós nos descobrimos nele. É o círculo da história desde Homero. Esse é o topos, o lugar a ser vislumbrado. 90 Referências BARROS, A. L. de. Gente pantaneira: crônicas de sua história. Rio de Janeiro: Lacerda Editora, 1998. CAPESTRINI & GUIMARÃES. História de Mato Grosso do Sul. Campo Grande: Academia Sul-matogrossense de Letras, 1991. CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Vol 1 e 2. 8 ed. Belo Horizonte/RJ: Itatiaia, 1997. DENIS, F. Resumo da história literária do Brasil. In: Historiadores e críticos do Romantismo: a contribuição européia, crítica e história literária. Sel. e apresentação de Guilhermino Cesar. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; São Paulo: Ed. USP, 1978. DIENER, P. La estética clasicista de Humboldt aplicada al arte de viajeros. In: Amerística. México, DF, Año 2, Número 3, Segundo Semestre de 1999 (41-49). GONZAGA-DUQUE. A Arte brasileira. Campinas-SP: Mercado de Letras, 1995. HUMBOLDT, A. de. Quadros da natureza. Vol. 1 e 2. Trad. Assis Carvalho. Rio de Janeiro: W. M. Jackson, 1964. MENEZES, A. da M. Guerra do Paraguai: como construímos o conflito. São Paulo: Contexto; Cuiabá-MT: Ed. da UFMT, 1998. PRATT, M. L. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Trad. Jézio Hernani B. Gutierre. Bauru, SP: EDUSC, 1999. SCHLICHTHORST, C. A Literatura do Brasil. In: Historiadores e críticos do Romantismo: a contribuição européia, crítica e história literária. Sel. e apresentação de Guilhermino Cesar. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; São Paulo: Ed. USP, 1978. STAROBINSKY, J. 1789: os Emblemas da Razão. Trad. Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. TAUNAY, A. d’E. Visões do sertão. São Paulo: Off. Graph. Monteiro Lobato, 1 ed., 1923. TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. Memórias. São Paulo: Comp. Melhoramentos, vol. VI, 1948. TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. Inocência. São Paulo: FTD, 1982. 91 TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. A Retirada da Laguna: episódio da guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. VALLE, Pedro. A divisão de Mato Grosso. Brasília: Royal Court, 1996. Recebido em 30/10/2009 Aceito em 30/11/2009 92 FERNANDO PESSOA, O POETA DESCONFIADO: UMA BREVE LEITURA DE CANCIONEIRO Lucelena Ferreira1 À professora Cleonice Berardinelli, por suas lições encantadas. Resumo: Este artigo propõe uma leitura do livro Cancioneiro, assinado por Fernando Pessoa, com objetivo de investigar a categoria intelectual do pensamento na escrita do ortônimo, identificada como uma poesia analítica e intelectualizada, tingida pela busca de significados para o Desconhecido. Palavras-chave: Fernando Pessoa, poesia, pensamento. FERNANDO PESSOA, THE SKEPTICAL POET: A SHORT READING OF CANCIONEIRO Abstract: This article considers a reading of the book Cancioneiro, signed by Fernando Pessoa, in order to investigate the category of thinking in his writing, identified as an analytical and intellectual poetry, dyed by the search of meanings for the Unknown. Keywords: Fernando Pessoa, poetry, thinking. 1. Introdução Na leitura de Cancioneiro, o poeta me pede os ares (me perde os ares?). Persigo o cheiro do mar. De outras veredas, avulta o Rosa: “Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa” (1986, p.14). Fernando Pessoa foi poeta desconfiado. Apesar de inventar em verso o conselho “Não procures nem creias: tudo é oculto” (1990a, p.138), insiste, no Cancioneiro, em perscrutar o enigma da existência. A desconfiança primordial (ligada à intuição do Mistério) pontua o pensamento de Pessoa or1 Doutora em Letras (PUC-Rio/ École de Hautes Études em Sciences Sociales) e Doutora em Educação Brasileira (PUC-Rio). Professora Adjunta do Mestrado em Educação da UNESA/RJ e professora da Pós-Graduação l.s. do Departamento de Letras da PUC-Rio. É pesquisadora do GEALE – PPGE/PUC-Rio (Grupo de Estudos em Antropologia da Leitura e da Escrita). [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 93-102 2009 issn 0104-687x tônimo, aguçando-lhe o “vício de pensar” (BERARDINELLI, 1994, p.47): impulso gerador de inquietude e poesia. Para Berardinelli, o que constitui o cerne do poeta Fernando Pessoa é sua “angústia metafísica” (2008, p.30). Tal condição se desdobra em uma poesia analítica e intelectualizada, que enreda o leitor neste movimento reflexivo, instigando-o a pensar, a raciocinar, e não apenas a experimentar sentimentos e sensações – pensar e raciocinar sempre na direção de dúvidas e perplexidades que, sutilmente analisadas por ele, conduzem a mais dúvidas, que só fazem conduzir a mais dúvidas (MOISÉS, 2005, p.20). Este estudo propõe aproximação com Cancioneiro, livro assinado por Fernando Pessoa. Mais especificamente, destina-se à investigação da categoria intelectual do pensamento na poesia do ortônimo. Como o ato de pensar contribui e interfere no trato das questões existenciais que afligem o poeta? Seria vício saudável, o de pensar? Sem exatidão, o poeta derrama lento. Pessoa suspende tempos previstos. 2. O poeta de Cancioneiro O livro estudado apresenta a maioria dos poemas em primeira pessoa, evidenciando um sujeito lírico que se narra, em busca de sentido. Considero a existência de apenas um sujeito lírico, personalidade única, a povoar os textos de Cancioneiro. Ao que parece, a complexidade da questão dos heterônimos assola seu próprio criador. Pessoa nomeia seus três heterônimos mais conhecidos: Construí dentro de mim várias personagens distintas entre si e de mim, personagens essas a que atribuí poemas vários que não são como eu, nos meus sentimentos e idéias, os escreveria. Assim têm estes poemas de Caeiro, os de Ricardo Reis e os de Álvaro de Campos que ser considerados. Não há que buscar em quaisquer deles idéias ou sentimentos meus, pois muitos deles exprimem idéias que não aceito, sentimentos que nunca tive (1966, p.108). 94 Em outro momento, admite novos adeptos à lista das suas “personagens” ou, como ele mesmo especifica, das personalidades que viveu dentro de si (1990c, p.82): Nunca me sinto tão portuguêsmente eu como quando me sinto diferente de mim - Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, e quantos mais haja havidos ou por haver (1966, p.108). Seria o Fernando Pessoa de Cancioneiro heterônimo disfarçado de ortônimo? É possível. A semelhança de nome entre o autor dos heterônimos assumidos e o poeta do Cancioneiro abriga trapaça com a língua (BARTHES, 1996) e provoca o leitor. Nesta leitura, imagino o ortônimo como um dos matizes do universo poético de Pessoa, que interessa em sua dimensão simbólica de figura fingida. Em outras palavras, importa a expressão poética da personalidade que se assenta sob a assinatura de Fernando Pessoa no Cancioneiro, independente de sua participação ou coincidência com a do autor humano. Um conceito útil a esta pesquisa é o de fingimento, tal como definido pelo ortônimo. Jacinto Coelho decifra: “exprimir poeticamente implica fingir - idéia que não constitui novidade para os leitores atentos de Pessoa” (apud PESSOA, 1966, p.xxix). Aborta-se, portanto, a noção de falsidade: fingir um sentimento seria dar-lhe contorno de arte. O poema “Autopsicografia”2, que inclui reflexão sobre o ato criador, reafirma esta idéia. Maria de Lourdes Alves amplia: “Para Pessoa, fingir é conhecer-se” (1988, p.42). No ortônimo, a escrita poética opera como forma de auto-conhecimento. O sujeito lírico do Cancioneiro concebe estranhamento: “Sou o ser que vê, e vê tudo estranho” (1990a, p.142). Percebe-se “doido que estranha sua própria alma” (1990a, p.111), estrangeiro de si mesmo. Assim lança - sobre si e sobre o mundo - um olhar inaugural: olhar de estrangeiro, empenhado em traduzir, em compreender. O ortônimo rastreia significados para o Desconhecido3 (1990a, p.113), assumindo poesia como amparo possível. 2 Este poema é definido por José Quesado como a “verdadeira arte-poética de Fernando Pessoa” (1978, p. 415). 3 O uso da maiúscula inicial é recurso recorrente no Cancioneiro. 95 “Emissário de um rei desconhecido/ eu cumpro informes instruções de além” (1990a, p.128), afirma o Pessoa ortônimo, aceitando a missão que reconhece como sua. Um conjunto de quatorze poemas chamado “Passos da Cruz”, presente no Cancioneiro, trata do caminho do poeta, predestinado a uma vida de glória e dor, tal como Jesus Cristo. As referências bíblicas (título, número de poemas e analogias contidas nos versos) agregam valor e conferem uma certa gravidade à sorte do artista. Para o ortônimo, escrever é destino: “Há um poeta em mim que Deus me disse...” (1990a, p.124). Esta certeza não o abandona. 3. O vício de pensar Álvaro de Campos definiu: Fernando Pessoa é puramente intelectual; a sua força reside mais na análise intelectual do sentimento e da emoção, por ele levada a uma perfeição que quase nos deixa com a respiração suspensa (PESSOA, 1966, p.148). O ortônimo vincula-se ao vício de pensar: “Estou preso ao meu pensamento/ Como o vento preso ao ar” (1990a, p.160). Assim também sua escrita: [...] Tenho saudades de mim. De quando, de alma alheada, eu era não ser assim, E os versos vinham de nada. Hoje penso quando faço, ’Screvo sabendo o que digo...[...] (1990a, p.160) No ortônimo de Cancioneiro, o pensamento reúne duas facetas: é corrosivo, já que o impede de ser feliz, de desfrutar a leveza advinda da falta de consciência das coisas; é produtivo, pois se desdobra em poesia. A lucidez inexorável o leva a pensar sobre o pensamento: “Fúria nas trevas o vento/ Num grande som de alongar./ Não há no meu pensamento/ Senão não poder parar” (1990a, p.160). Vento e pensamento têm como razão comum a impossibilidade de cessar. 96 Desse modo, o pensamento proíbe o ortônimo de apenas sentir, sem reflexão. Diz ele: “O que em mim sente ’stá pensando” (1990a, p.144), e completa: “Meus sentimentos são rastros./ Só meu pensamento sente...” (1990a, p.150). Procura ainda delimitar fronteiras entre sentimento e pensamento, para concluir: Tenho tanto sentimento Que é freqüente persuadir-me De que sou sentimental, Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, Que não senti afinal.[...] (1990a, p.172) Pensar e sentir se tangenciam, aprisionando o ortônimo e suscitando angústia: “No mal-estar em que vivo,/ No mal pensar em que sinto,/ Sou de mim mesmo cativo” (1990a, p.174). Torna-se impossível seguir o ensinamento do mestre Caeiro, de compreender “com os olhos, nunca com o pensamento” (1990b, p.237), pois mesmo os sentidos, no ortônimo de Cancioneiro, associam-se ao pensamento. A partir deles, busca conhecer e construir significados: “Ah, nada, nada!/ Só os pesares/ De ter ouvido,/ De ter querido/ Ouvir para além/ do que é o sentido/ Que uma voz tem” (1990a, p.180). Persiste em vão a crença de Caeiro: “O único sentido íntimo das cousas/ É elas não terem sentido íntimo nenhum” (1990b, p.207). A investigação contínua da essência das coisas, norteada pelo pensamento, acaba por gerar o cansaço, de que se queixa o eu lírico: “Cansa sentir quando se pensa” (1990a, p.163). O ortônimo de Cancioneiro convive com a impossibilidade de desvendar o Desconhecido: “Cega, a Ciência a inútil gleba lavra./ Louca, a Fé vive o sonho do seu culto” (1990a, p.139). Foge-lhe a auto-definição: “Quem me dirá quem sou?” (1990a, p.145). O sentimento de irrealização e a consciência da insolubilidade do Mistério estimulam dúvidas sobre a validade do pensar incessante: “Eis o momento.../ Sejamo-lo... Pra quê o pensamento?...” (1990a, p.118). O sujeito lírico professa a inutilidade do pensamento: “Tudo de repente é oco -/ Mesmo o meu estar a pensar” (1990a, p.112). E a noção de vazio se repete: “Que inquieta ilusão!/ 97 E esta sensação/ Oca, de ser cego/ No meu pensamento,/ Na minha vontade...” (1990a, p.120). Mas, para apoiar sua tentativa de conhecimento, resta-lhe o pensar, já que “sentir/ É não se conhecer” (1990a, p.166). Apesar do esforço de entendimento empreendido pelo ortônimo, arma-se um círculo vicioso que o enreda: “O meu mistério eu avivo/ Se me perco a meditar” (1990a, p.121). Para Moisés, a poesia pessoana é “medularmente intelectualizada”, pois além de brotar das emoções, brota também, e indissociavelmente, da inteligência raciocinante. O que resulta desse inusitado consórcio é um desfiar cerradamente reflexivo, indagador e questionador de imagens, metáforas, cláusulas e associações que ostentam ou simulam notável rigor lógico. (2005, p.19) O eu lírico de Cancioneiro reconhece que sua condição de pensador constante o condena à infelicidade: “Só quem puder obter a estupidez/ Ou a loucura pode ser feliz” (1990a, p.104). Por vezes, escapa-lhe o sentido da vida: “Trila na noite uma flauta. [...] Perdida série de notas vaga e sem sentido nenhum,/ Como a vida” (1990a, p.141). Nesse contexto, o eu lírico entrevê descanso no sono: “Dorme, que a vida é nada!/ Dorme, que tudo é vão” (1990a, p.176). Iluminam-se sono e morte, por vezes metaforicamente associados, como refúgios, como fontes de alívio: “Que é feito de tudo?/ Que fiz eu de mim?/ Deixa-me dormir,/ Dormir a sorrir/ e seja isto o fim” (1990a, p.119). Sob este prisma, o título do poema “Abdicação” antecipa desistência, desdobrando a metáfora do reinado: “Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços/ E chama-me teu filho./ Eu sou um rei/ Que voluntariamente abandonei/ O meu trono de sonhos e cansaços” (1990a, p.138). Ao mesmo tempo, a implacabilidade da morte tinge de angústia a poesia de Cancioneiro, que se amplia em imagens e associações: Sermos, e não sermos mais!... Ó leões nascidos na jaula!... Repique de sinos para além, no Outro Vale... Perto? [...] 98 Tecedeiras viúvas gozam as mortalhas de virgens que tecem (1990a, p.110). Atrelado a uma “inteligência demasiadamente enamorada pela análise e pelo raciocínio”, somada à “emotividade excessiva” (BERARDINELLI, 1985, p.253), o ortônimo de Cancioneiro alterna momentos de aceitação desta sua condição a outros de insatisfação e desejo de mudança. Freqüentemente aspira à inconsciência: Para que sou consciente se a consciência é uma ilusão? Que sou eu entre quê e os fatos? Fechai-me os olhos, toldai-me a vista da alma! Ó ilusões! se eu nada sei de mim e da vida, Ao menos goze esse nada, sem fé, mas com calma, ao menos durma viver, como uma praia esquecida... (1990a, p.130) O ortônimo imagina felizes os que não pensam o que sentem, e confessa sua inveja: Gato que brincas na rua Como se fosse na cama, Invejo a sorte que é tua Porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais Que regem pedras e gentes, Que tens instintos gerais E sentes só o que sentes. És feliz porque és assim, Todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, Conheço-me e não sou eu. (1990a, p.156) Os últimos versos remetem à inutilidade do conhecimento. Por saber-se atado à sua condição, o eu lírico expressa desejo de mudança por meio de paradoxos, reforçando a impossibilidade de realização: “Ah, poder ser tu, sendo eu!/ Ter a tua alegre inconsciência,/ E a consciência disto” (1990a, p.144); “Ah, ser os outros! Se eu o pudesse/ Sem outros ser!” (1990a, p.176). 99 Em Cancioneiro, o ortônimo se descobre condenado à lucidez, emitindo lampejos de aceitação: “Se eu fosse outro, fora outro. Assim/ Aceito o que me dão” (1990a, p.177). Vislumbra a razão como único guia possível: Guia-me a só razão. Não me deram mais guia. Alumia-me em vão? Só ela me alumia. Tivesse Quem criou O mundo desejado Que eu fosse outro que sou, Ter-me-ia outro criado. Deu-me olhos para ver. Olho, vejo, acredito. Como ousarei dizer: “Cego, fora eu bendito”? Como o olhar, a razão Deus me deu, para ver Para além da visão Olhar de conhecer. Se ver é enganar-me, Pensar um descaminho, Não sei. Deus os quis dar-me Por verdade e caminho. (1990a, p.160) Neste poema, o eu lírico se curva aos desígnios de Deus. E deixa pender questões sem resposta, encaixes do Desconhecido. No espírito religioso e convicto dos mistérios impenetráveis da vida, sobejam preocupações metafísicas: Cancioneiro retém desejo de transcendência do mundo material. De acordo com Fernando Pessoa prosador, uma obra, para que seja sincera, deve incluir idéia metafísica: Chamo insinceras às coisas feitas para fazer pasmar [como talvez alguns poemas iniciais do ortônimo], e às coisas, também - repare nisto, que é importante - que não contêm uma fundamental idéia metafísica, isto é, por onde não passa, ainda que como um vento, uma noção da gravidade e do mistério da Vida. (1990c, p.55) 100 O que não falta ao ortônimo de Cancioneiro é percepção do Mistério. Mas, apesar de todo seu esforço de compreensão, sopra o lamento: “Tudo é tão difícil de compreender!...” (1990a, p.120). 4. Considerações finais A voz do ortônimo se levanta, em movimento inquieto: “Que desassossego!” (1990a, p.120). Ao que parece, Bernardo Soares recolheu título de tamanho justo ao Cancioneiro. O poeta rima consigo. O timbre plural de Pessoa privilegia subjetividade: desejo de desvendar-se. Cancioneiro afia desconfiança e cultiva contradições em ritmo de lucidez. O vício persiste. Multiplica dúvidas, desencanta respostas. O ortônimo atrai consciência - de sua missão, do Desconhecido, da impossibilidade de penetrá-lo. Soa, em badaladas: “Tudo é mistério” (PESSOA, 1990c, p.38). Pessoa se proclama paradoxo. Guimarães Rosa finge aprovar: Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão (1986, p.21). Cancioneiro é orquestra, o nome diz. Afina e desafina. Terminado, acende amor pela vida. E obedece ao que o poeta, em prosa, impõe: “A finalidade da arte é elevar” (1990a, p.226). Tudo se dissolve, em Pessoa. Matéria bruta é poesia. E só. O resto carece de certeza. 101 Referências ALVES, M. de L. G.. Os modos do tempo em Pessoa. In: Boletim do SEPESP - UFRJ. 1988, v.2. BARTHES, R. Aula. São Paulo: Cultrix, 1996. BERARDINELLI, C. À guisa de aparato genérico. In: BERARDINELLI, C., MATOS, M. (orgs.). Fernando Pessoa – Mensagem. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2008. ______. A poesia de Fernando Pessoa. In: O poetar pensante. Rio de Janeiro: Uapê, 1994. ______. Estudos de Literatura Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1985. COELHO, J. do P. Fernando Pessoa, pensador múltiplo. In: Páginas Íntimas e de Auto-interpretação. Lisboa: Edições Ática, 1966. MOISÉS, C. F. Almoxarifado de mitos. São Paulo: Escrituras, 2005. PESSOA, F. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990. ______. Cancioneiro. In: Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990a. ______. O guardador de rebanhos. In: Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990b. ______. Obra em prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990c. ______. Páginas Íntimas e de auto-interpretação. Lisboa: Edições Ática, 1966. QUESADO, J. C. B. Uma autopsicografia do processo de construção poética. In: Actas do I congresso internacional de estudos pessoanos. Porto: Brasília Editora, 1978. ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. Recebido em 30/09/2009 Aceito em 30/11/2009 102 NOS ARREDORES DO FANTÁSTICO MATOGROSSENSE: O BERRO DE TEREZA Mário Cezar Silva Leite (UFMT)1 José Alexandre Vieira da Silva (IFMT)2 Resumo: Este artigo investiga a presença dos elementos fantásticos no romance O Berro do Cordeiro em Nova York, da escritora Tereza Albues. A autora constrói o seu fantástico particular em que o homem é um ser estranho para si mesmo e que o outro é um abismo e com isso o fantástico invade a alma humana e inunda o mundo cotidiano. Nesta obra percebemos uma recorrência marcante de aspectos sobrenaturalizados, supra-humanos e epifânicos que convivem no mesmo ambiente narrativo através da intromissão brutal do mistério (sempre com elementos místicos e esotéricos). Palavras-chave: Tereza Albues, Fantástico, Místicos. CLOSE TO THE FANTASTIC IN THE MATO GROSSO LITERATURE: THE CRY OF TEREZA Abstract: This article investigates the presence of fantastic elements in the novel The Berro of the Lamb in New York, the writer Teresa Albues. The author builds his fantastic especially when the man is a stranger to himself and the other is a deep and it’s amazing invades the human soul and fills the everyday world. In this work we noticed a striking recurrence of aspects supernaturalizes, superhuman and epiphany, that share the same environment through the narrative of the brutal interference mystery (always with esoteric and mystical elements). Keywords: Tereza Albues, Fantastic, Mystical. 1 Professor, na UFMT, de literatura brasileira, do Departamento de Letras/IL; professor do Mestrado em Estudos de Linguagem (MeEL/IL); e do Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/IL); Coordenador do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL (2008-2010). [email protected] 2 Mestre em Estudos de Linguagem (MeEL/UFMT) e Doutorando em Estudos Literários na UFG além de Pesquisador do Grupo RG Dicke de Estudos em Cultura e Literatura de Mato-Grosso. Professor efetivo do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 103-118 2009 issn 0104-687x Eu vejo nisso uma contradição, principalmente na expressão “realismo fantástico”, porque se é real, como é que pode ser fantástico? Por outro lado, também há uma grande dificuldade em se caracterizar o que é real, não é? – um assunto até filosófico. Os filósofos ainda não conseguiram definir o que é realidade. (J. J Veiga) No desabrochar da modernidade verificamos que a história da cultura ocidental passou por um período de racionalismo e abandono do intuitivo, processo este que remonta à Renascença, isso nos idos do século XV. Talvez essa busca pelo racional e científico, diante das crises existenciais humanas, seja uma estratégia equivocada de tentar resolver todos os nossos problemas. Para uma tentativa de solução dessa situação conflituosa, o filósofo Capra (2005) diz que teríamos que buscar o equilíbrio da mente humana, usando, para tal, tanto o racional quanto o intuitivo. Enquanto o pensamento racional é linear, concentrado e analítico, o intuitivo, por basear-se em uma experiência direta, não-intelectual da realidade, é mais subjetivo e concentrado em ampliar a percepção do consciente. Com a ampliação da percepção da realidade, ao se lançar mão tanto do consciente como do inconsciente, o homem adquiriria, segundo Capra, uma visão holística das verdadeiras causas dos problemas mais complexos da humanidade e com isso poderia combatê-los. Tomemos como exemplo, que consubstancie esse fato, os Contos Fantásticos de Guy de Maupassant3. Penetremos na Europa da segunda metade do século XIX e iremos perceber que o ambiente intelectual é dominado por um profundo sentimento de relatividade que justifica o subjetivismo e suscita a inquietude. Segundo Capra (2005) a influência do pessimismo alemão de Schopenhauer une-se a um darwinismo compreendido de forma igualmente trágica: o homem é um animal efêmero sobre um globo perdido na imensidão do Universo. 3 MAUPASSANT, Guy de; BRUM, José Thomaz (Trad.) Contos fantásticos – O Horla & outras histórias. 1. ed. Porto Alegre: L&PM POCKET, 2000. 104 Não é preciso ser um estudioso ou um naturalista para perceber isso. Respira-se este ar de incerteza derivado de uma desilusão radical: a ciência é apenas uma definição humana, estamos fechados em nosso espírito - sem remédio. Anderson, comentando Spencer, ilustra essa atmosfera com uma frase exemplar: “O desenvolvimento da ciência só fez aumentar seus pontos de contato com o desconhecido que a rodeia.” (ANDERSON, 1989, p. 29). A extenuação da fé vêm se juntar aos temas da falência da ciência e da psicologia da época. É nesse quadro cultural, que muito se assemelha ao vivido hoje que devemos, por exemplo, compreender os romances de uma mato-grossense, chamada Tereza Albues4, reunidos em um gênero literário específico: o fantástico. Esses romances não se distinguem pelos temas de que tratam, mas pela atmosfera criada em torno do acontecimento; eles pintam uma existência habitada pela inquietude e “[...] onde existe a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2003, p. 31). Romances avessos à fé absoluta e à incredulidade total, romances da hesitação: “Cheguei quase a acreditar: eis a fórmula que resume o espírito do fantástico” (TODOROV, p. 36). Nesse quase, de lacuna e imprecisão, Tereza constrói o seu fantástico particular: não de criaturas impossíveis (duendes, gênios) em cenários exóticos, mas acontecimentos estranhos que se equilibram nessa tensão que se origina de um espírito incerto. Lugares e objetos testemunham esta cisão de um corpo em que ‘a identidade explode em pedaços’. O mundo humano é parcial, cruel e dominado pela ilusão universal. O não-humano é o que nos permanece oculto, o fantástico. O inexplicável está instalado aqui na Terra e tem suas raízes na inquietação humana, em seu caráter fluido (DISCINI, 2001, p. 30). 4 O presente artigo é parte da Dissertação de Mestrado em Estudos Literários e Culturais (MeEL/UFMT) sobre a obra O Berro do Cordeiro em NY orientada pelo Prof. Mário Cezar Silva Leite. 105 Formada em Direito, Letras e Jornalismo, Tereza começou a escrever no exterior, mas a vivência na sua terra, plena de lendas e dramático realismo, foi fundamental para a construção do seu universo literário. De acordo com a romancista, seus escritos representam uma mistura entre a rica experiência vivida no Brasil e a progressiva incorporação de outras culturas. E é isso que vemos em seu primeiro romance, Pedra Canga, cujo subtema do fantástico nele inserido é, sem dúvida, o das histórias em que o mal se cristaliza num ser, num objeto ou num processo e interfere em nosso mundo, revelando, de passagem, o quanto é precário o equilíbrio de que depende o conceito daquilo que chamamos de real, beirando, na narrativa dessa obra, o sobrenatural e as histórias de horror. No romance, percebemos uma mistura de todos esses elementos. Chapada da Palma Roxa, seu segundo romance, tem o espaço romanesco situado em um vilarejo chamado Porto Graça, que é abalado pela morte misteriosa de um recémnascido, cujo corpo fora encontrado às margens da “Pedra das Lavadeiras”. A trama dessa narrativa desenvolve-se no sentido do desvendamento da identidade do assassino da criança. A personagem-narradora tentará estabelecer, ao mesmo tempo, o desnudamento da alma humana, apresentando-nos, mais uma vez, duas realidades: a vivida e a sentida. O terceiro livro, publicado pela autora em 1993, tem como tema a vida do bisavô da personagem-narradora, chamado João Padre. Esse homem rompe com os dogmas da Igreja ao largar a batina para se casar com uma negra, tornando-se, em Livramento-Mato Grosso, uma figura contraditória: para uns, trata-se de um santo; para outros, é apenas um “doido-varrido”. Para a narradora seu bisavô é considerado entidade “iluminada”, cuja biografia é resgatada por ela, protagonista da obra, que passa, ao longo da trama romanesca, à procura de João Padre. A grande mensagem do livro não deixa de seguir o receituário místico da auto-ajuda, que é o de se contrapor à sociedade materialista na qual vivemos, que acredita no dinheiro como solução para todos os problemas, pois as 106 conquistas materiais nos trazem satisfação. Porém, na obra, a real felicidade e realização estão na esfera espiritual. O quarto livro de Tereza é O Berro do Cordeiro em Nova York. De todos, seguramente, é o mais engajado politicamente. O veio temático principal é a descrição da manipulação do poder no Estado do Mato Grosso exercido, na maioria das vezes, com fortes tons de injustiça, discriminação, preconceito e exploração que tanto a personagem-narradora quanto os seus familiares sofrem no decorrer da narrativa. O último romance da autora, ainda inédito no Brasil, foi publicado no Salão do Livro de Paris, pela Editora 00h00, em 16 de março de 2001. O livro intitulado A Dança do Jaguar é um romance sensual e palpitante, que leva o leitor a seguir os passos, ora ligeiros ora pesados, de um ser diabólico que, à semelhança do jaguar, ronda a heroína, oculto nas sombras. A narrativa se desenvolve, ao mesmo tempo, nos planos do real e do fantástico, em que o ritmo é conduzido, com segurança, entre momentos de relaxamento e tensão, criando um fascinante suspense. Como cenário, temos a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e o Solar Maltesa, uma misteriosa casa vitoriana onde Nayla, jovem pintora, vive momentos de terror. Em busca de uma morada, ela encontra o casarão que vai dividir com uma figura bastante excêntrica, o botânico Tristan O’Hara. Estranhos acontecimentos começam a intrigar a jovem, que se sente vigiada. Nayla se vê, de repente, presa às malhas de um terrível segredo, que envolve o passado do Solar Maltesa. Além das obras supracitadas, Tereza também é contista, tendo publicado O furo do mamão e Gregória na janela, no livro de contos Na margem esquerda do rio: contos de fim de século, organizado por Mário Cezar Silva Leite e Juliano Moreno. Na Revista O Caixote publicou o Ilha das cigarras e A ressurreição de Leocádia na revista VÔTE! Esses e outros contos foram reunidos postumamente no livro Buquê de Línguas (2008). Nas obras de Tereza, percebemos uma recorrência marcante de aspectos sobrenaturalizados, supra-humanos e epifânicos, que convivem no mesmo ambiente narrativo 107 de outras personagens através da intromissão do mistério (sempre com elementos místicos e esotéricos) e que irá reproduzir-se, principalmente, n’O Berro do Cordeiro em NY. Neste artigo, demonstramos como a presença recorrente desses elementos é utilizada pela autora na obra citada. Mesmo que se tenha sempre presente a dificuldade em definir a narrativa fantástica, lembremos que ela existe e se constrói com base em algumas características que lhe são particulares. E são justamente essas características, ou particularidades, que devemos buscar para que a sua compreensão se faça mais precisa. Podemos dizer que o elemento básico caracterizador do fantástico é o insólito, o sobrenatural, ou como diz Filipe Furtado, o meta-empírico, entendendo como tal o que esteja [...] para além do que é verificável ou cognoscível a partir da experiência, tanto por intermédio dos sentidos ou das potencialidades cognitivas da mente humana, como através de quaisquer aparelhos que auxiliem, desenvolvam ou supram essas faculdades. (FURTADO, 1980, p. 20). E continua: [...] o conjunto de manifestações assim designadas inclui não apenas qualquer tipo de fenômenos ditos sobrenaturais na acepção mais corrente deste termo [...], mas também todos os que, seguindo embora os princípios ordenadores do mundo real, são considerados inexplicáveis e alheios a ele apenas devido a erros de percepção ou desconhecimento desses princípios por parte de quem porventura os testemunhe (FURTADO, ibid., loc. cit.) No entanto, é bom lembrar que o sobrenatural, no sentido de se estar além ou fora do natural, não é característica exclusiva do fantástico. Os contos de fadas, por exemplo, não só trabalham com ele como também neles têm um elemento necessário para sua caracterização. O sobrenatural caracterizador do fantástico, nas histórias de horror, é o chamado sobrenatural negativo, aquele que infunde o pavor, a opressão ou um mal-estar, é o sobrenatural de índole maléfica, que normalmente não ocorre nos 108 contos de fadas. O sobrenatural que aparece nesse último cria todo o universo da narrativa, sem uma oposição entre o mundo real, empírico, e o irreal onde a história do “era uma vez” se passa. A presença do sobrenatural no fantástico ocorre de forma diferente. Trata-se de uma invasão do inexplicável no mundo concreto, criando uma situação angustiante de ambigüidade que abala a nossa compreensão baseada na experiência cotidiana. O sobrenatural não é aceito nem vivenciado como se dá no gênero maravilhoso, mas constitui uma estranheza que coloca em xeque a existência do mundo real e das leis naturais que organizam. O próprio Todorov dirá: O fantástico implica, portanto, não apenas a existência de um acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; mas também numa maneira de ler, que se pode por ora definir negativamente: não deve ser nem “poética”, nem “alegórica” [...]. Esta espécie de imagens se situa no próprio cerne do fantástico, a meio caminho entre aquilo que me ocorreu chamar imagens infinitas e imagens ilimitadas. As primeiras procuram por princípio a incoerência e recusam intencionalmente qualquer significação. As segundas traduzem textos precisos em símbolos que um dicionário apropriado reconverte, termo por termo, em discursos correspondentes (TODOROV, 2003, p. 38). Vejamos como em O Berro do Cordeiro o fantástico é, muitas vezes, pincelado com matizes sobrenaturais, como no episódio em que a personagem-narradora pega um táxi em Manhatan com um motorista indiano que dirige com olhos fechados, em meditação profunda, no trânsito de Nova Iorque: Quando peguei o táxi, tarde da noite, saindo duma festa no East Side em Manhatan, defrontei-me com o inusitado, nem um leve roçar de intuição me prevenindo. O motorista, um indiano de longas barbas e turbante, perguntou-me o itinerário, eu disse meu endereço no Soho, ele seguiu o trajeto. Em menos de dois minutos ele me perguntou, de onde você é? Do Brasil. Mora em 109 Nova York? Moro. Sabe que o meu cristal projetou uma sombra no seu rosto? Só aí notei que ele tinha um cristal pendurado no espelho retrovisor do carro. Que conversa mais estranha, pensei. Com certeza, ao me ver sozinha, queria puxar assunto, resolvi que o melhor era não dar prosseguimento ao papo. Fiquei em silêncio durante longo tempo até que de repente, num impulso perguntei, qual o significado da sombra? Alguma coisa negativa? O indiano responde pausadamente, não, ao contrário, é algo especial, um sinal de boa sorte e felicidade, raramente acontece. Daí pra frente ele não disse mais nada, eu também não. Olhei novamente para o retrovisor, levo um susto, o indiano estava de olhos fechados. Meu Deus, este homem está dormindo no volante, vai bater a qualquer momento. Não sei por que, ao invés de tentar acordá-lo, permaneço quieta no banco de trás, não faço o menor movimento. Ele continua dirigindo tranqüilamente, pára nos sinais, faz curvas, atravessa avenidas me deixa na porta da minha casa, abre os olhos, boa noite. Só agora percebo que falhei em todas as interpretações, minhas idéias pré-concebidas impediram que eu visse a grandeza do que estava vivendo, deixei passar a oportunidade de dialogar com aquele ser tão evoluído espiritualmente que podia dirigir um carro em meditação profunda pelas ruas movimentadas de Manhattan. Será que eu o encontraria novamente? (1995, p. 112-113). Ou, ainda, como o puramente sobrenatural, quando num dia, em seu apartamento no Flamengo, no Estado do Rio de Janeiro, é acordada pela voz, possível, do ex-dono, que havia morrido, naquele imóvel: uma certa noite em que no mesmo apartamento fui despertada por uma voz rouca sussurrando ao meu ouvido: Por que tiraram o meu telefone daqui se eu não dei permissão? Pulo da cama, acendo a luz, vasculho rapidamente a sala-e-quarto, as portas trancadas, ninguém. Tempos depois o zelador do prédio me conta (sem eu perguntar) que o primeiro dono do apartamento onde eu morava tinha sido um solteirão que morrera anos atrás, aí eu pergunto, ele tinha telefone? Tinha, mas 110 parece que alguém da família se apossara indevidamente do aparelho enquanto ele estava doente e transferiu a linha para Botafogo. Como é que eu poderia saber esta história antiga? Teria sido o espírito do homem que viera reclamar a devolução do que lhe pertencia? Mas por que eu? Que fosse perseguir quem o roubara, disse bem alto nessa mesma noite, no quarto, luz acesa até de madrugada. Penso que fui ouvida, a voz nunca mais me fez cobranças [...] (1995, p. 111). Em O Berro do Cordeiro percebemos a semelhança do que acontecem noutros romances da autora, que o mundo físico e o não-físico se interpenetram, visando, através da narrativa desses acontecimentos fantásticos e sobrenaturalizados, suscitar sensações que provoquem o crescimento paulatino, intelectual e espiritual da personagem-narradora, fazendo com que esta assuma, diante do evento, uma atitude, na maioria das vezes, positiva e de incentivo pessoal diante das adversidades vividas. Note-se esse aspecto no fragmento abaixo: É fascinante puxar o fio delicado da percepção abrindo espaço para outra realidade mais real do que a nossa que conosco convive diariamente, por que hesitamos? Não a enxergamos, não queremos enxergá-la, fechamos o canal, de novo o medo emperrando nosso crescimento, olha o lobisomen, assombração, bicho-papão da nossa infância; difícil corcovear, jogar por terra o monstro assustador que desde o berço cravou as garras na nossa imaginação. A resistência do racional também é ferrenha, aboleta-se no pensamento, assegurando que tudo não passa de ilusão dos sentidos, alucinações, fantasias. Ah este racional repressivo, pedagógico, querendo sistematizar a vida da gente. E quantas vezes o esperto consegue seu intento, pois ele não se apresenta em corpo sólido, munido de ponderações concretas extraídas da nossa própria vivência para alicerçar aquilo que prega? Minando oportunidades de avanço no desvendamento de outros mundos, persistente? (ibidem, p. 111-112) Além disso, observe-se que ali, o tempo e o espaço do mundo sobrenatural não são o tempo e o espaço da vida 111 cotidiana. O tempo parece suspenso, ele se prolonga muito mais além daquilo que se crê possível. Com isso poderíamos dizer que em Tereza não é o olhar em si mesmo que se acha ligado ao mundo fantástico, mas aqueles símbolos do olhar indireto, subvertidos que são os óculos e o espelho da alma. É nesse sentido que notamos, em O Berro do Cordeiro em Nova York, que o fantástico é construído no sentido de desnudar o limite entre o físico e a mente, entre a matéria e o espírito, entre a coisa e a palavra. Os eventos concretos e realistas em suas obras deixam de ser estanques, é o que Todorov (2003) chamará de pandeterminismo.5 Todorov dirá que semelhante ruptura dos limites entre matéria e espírito era considerado, em especial no século XIX, como a primeira característica da loucura. Os psiquiatras afirmavam geralmente que o homem “normal” dispõe de muitos quadros de referência e liga cada fato a um deles exclusivamente. O psicótico, ao contrário, não seria capaz de distinguir estes diferentes quadros entre si e confundiria o sensível e o imaginário (Todorov, 2003, p. 123). Segundo ele, a proximidade da loucura com a temática da literatura fantástica está ligada também a uma das características fundamentais do mundo da criança, ou mais exatamente ao que ele chama de simulacro adulto. Todorov afirma que no ponto inicial da evolução mental não existe certamente nenhuma diferenciação entre o eu e o mundo exterior (2003, p. 124-131). Talvez esses aspectos sejam somente conjecturas, entretanto podem explicar a escolha da autora pelos loucos e as crianças6 como seus personagens principais. Como, por exemplo, no dia em que o pai da personagem-narradora 5 Todorov define pandeterminismo como sendo um determinismo generalizado. Para ele, tudo, até o encontro de diversas séries casuais (ou acaso) deve ter sua causa, no sentido pleno da palavra, mesmo que esta só possa ser de ordem sobrenatural. O Pandeterminismo, com isso, tem como conseqüência natural o que se poderia chamar a “pansignificação”, pois, já que existem relações em todos os níveis, entre todos os elementos do mundo, este mundo torna-se altamente significativo. 6 Isto pode ser verificado em Venâncio em O Berro do Cordeiro, Zé Garbas em Pedra Canga, João Padre em Travessia dos sempre vivo e a menina Taisha em Chapada da palma roxa. 112 volta louco depois de fugir da fazenda em que era mantido como escravo: Entrou na casa de meu tio, subiu pelas paredes até a cumeeira, pendurou-se pelos pés e falou: Sou um morcego, desta quadratura não saio até o senhor ir buscar minha mulher e meus filhos na Nhecolândia. E contou toda a sua saga em versos de rima perfeitas, ele que nunca fora poeta e mal sabia ler e assinar o nome. Tinha enlouquecido (ALBUES, 1995, p. 30-31). Além disso, no mundo vivenciado por essas personagens, as fronteiras normais entre o eu e o mundo desaparecem, encontrando-se em seu lugar uma espécie de “fusão cósmica”. Coincidência? Tenho dúvidas. Penso que os acontecimentos estão interligados e são impulsionados por energias que fazem parte do equilíbrio e harmonia universal, tudo tem sua razão de ser, nada acontece ao acaso. Senão como explicar a estranha experiência que vivenciei no Rio de Janeiro? Morava sozinha num enorme apartamento [...]. Uma noite acordei, levei um susto danado, uma moça desconhecida estava deitada ao meu lado, dormindo tranqüilamente. Era muito jovem aparentava dezessete anos mais ou menos, branca, cabelos louros encaracolados, usava um vestido de algodão estampados de flores grandes e verdes. Estava tão junto de mim que eu podia sentir o contato e o peso do seu corpo, a respiração compassada, ressonando. A primeira coisa que me veio à cabeça, como foi que essa moça entrou aqui? Levanto-me, vou verificar a porta, será que esqueci de trancá-la? Claro que não. As chaves estão lá, os dois trincos de segurança também, travados, como eu fazia todas as noites antes de me deitar. Meio entorpecida volto para o quarto, a moça continua dormindo, não sei o que fazer, de repente algo me diz que aquela pessoa não é real, é um espírito. Aí entra o pavor, fiquei gelada, fechei os olhos, rezei, pedi aos meus guias e todos os santos que a levasse dali [...]. Depois de algum tempo, abro os olhos, ela continua ali, recomeço as preces, angustiada, recebo uma mensagem ou intuição, ela dizendo não quero sair daqui. Me desespero, respondo mentalmente, mas você tem que sair senão eu vou morrer. Aí ela vai embora [...]. Tempos depois encontrei 113 uma vizinha tagarela no elevador, começamos a conversar, chegamos até a esquina e ficamos esperando o sinal para atravessar a larga Av. Venceslau Braz. De repente ela fala, tenha muito cuidado ao atravessar neste ponto, os motoristas são doidos, muitas vezes avançam o sinal, olha não faz muito tempo eu presenciei um atropelamento aqui nesta esquina. Uma mocinha linda, loirinha, cabelo crespo, regulando dezessete anos, morreu na hora, dava pena ver o seu rostinho, parecia que estava dormindo [...] (Albues, 1995, p. 119-120). Como isso, verificamos que o aspecto central dessa obra seja o limite entre matéria e espírito, entre o natural e sobrenatural, o que fixará esse romance nos arredores do fantástico. Pavla Lidmilová, que traduz para o tcheco a obra de J. J. Veiga, em entrevista para Antonio Armoni Prado, diz que a literatura fantástica no Brasil difere bastante da literatura do gênero fantástico de outros países latino-americanos: O que nos atrai, por exemplo, na obra de João Guimarães Rosa, de José J Veiga, de Murilo Rubião, é a profunda afetuosidade do povo, a pureza daqueles heróis infantis, aquela esperança que cresce paulatinamente, que eu acho que não existe nos escritores do gênero fantástico hispanoamericanos. Borges, Cortazar, Casares, depois Juan Rulfo, são escritores pessimistas, amargurados, há um arrepio que a gente sente lendo esses autores; é um outro contexto, uma outra situação nacional, situação do povo. E aqui no Brasil é muito diferente (Prado, 1989 p. 38-39). Podemos perceber essa diferença, citada por Pavla, em várias partes do livro O Berro do Cordeiro em Nova York. Na obra, a personagem-narradora nos apresenta os fatos, relacionados ao fantástico, como se fossem uma catarse, um verdadeiro ritual de purificação pelo qual ela passa da infância até a vida adulta, entremeada, sempre, por experiências sobrenaturalizadas. São histórias reais com impressões profundas da narrativa fantástica, como no episódio em que seu pai, após fugir de uma fazenda em que era escravo, consegue, depois da visão que tem de seu avô, já falecido, atravessar incólume um rio cheio de piranhas e jacarés: 114 Durante três dias papai vagou pelo mato perdido, nem sinal da estrada para Três Marias, as lagoas coalhadas de jacarés impedindo passagem. Mordido de mosquito, sujo, rasgado pelos espinhos, desorientado, faminto, ouviu a voz do espírito do seu avô João Padre que o mandou deitar debaixo de uma árvore de flores roxas. Ele obedeceu, caiu no sono, sonhou, a figura iluminada do avô falou: as flores desta árvore cairão sobre você perfumando o seu corpo. Pode entrar nas águas, jacarés e cobras serão afastados pelo perfume, não te farão mal. Daqui pra frente eu o guiarei. Papai despertou, tinha um lençol de flores cobrindo-o, levantou confiante, atravessou sete baías nadando, os jacarés quietos, imóveis, indiferentes à sua passagem. (ALBUES, 1995, p. 30-31). Hilda Gomes, em artigo publicado no livro Mapas da Mina: estudos de literatura em Mato Grosso, destaca alguns pontos dentro dessa discussão do fantástico e também do conceito da mitificação dos espaços e personagens presentes no romance. Ela dirá que, no Plano da atualização dos mitos, a fuga de Venâncio resgata o mito da terra prometida. Nesse sentido a travessia do pantanal é uma imagem atualizada da travessia bíblica do Mar Vermelho. Essa travessia é uma travessia sagrada posto que Venâncio se submete antes a um ritual de purificação, após o que poderá realizar a travessia do pantanal. O perfume das flores sobre o seu corpo paralisa as feras, e a passagem do pantanal torna-se possível. Na impossibilidade de construir, socialmente, seu destino, resta a recorrência às crenças, resgatando a divindade, que é atualizada na imagem de seu avô. A imagem do resgate do mito é sugerida ainda pelo nome da fazenda onde Venâncio deseja chegar, Três Marias, a terra, portanto, três vezes santa (MAGALHAES. In: LEITE, 2005, p. 217). Em Tereza, essa maneira de descrever o mundo da infância mantém-se, evidentemente, prisioneira de uma visão adulta, na qual, precisamente, os dois mundos são distintos. O que temos nas mãos é um simulacro adulto da infância. 115 E é justamente aí que o fantástico contribui, também, para a fragmentação identitária da personagem-narradora na obra. Todorov dirá que na literatura fantástica [...] o limite entre matéria e espírito não é aí ignorado, como no pensamento mítico, por exemplo; ele permanece presente para fornecer o pretexto às transgressões incessantes [...]. Esta lei que encontramos na base de todas as deformações produzidas pelo fantástico no interior de nossa rede de temas tem algumas conseqüências imediatas. Assim, aí se podem generalizar o fenômeno das metamorfoses e dizer que uma pessoa se multiplicará facilmente. Nós nos sentimos todos como várias pessoas (Todorov, 2003, p. 124). É nesse sentido, que o fantástico nos permite compreender a própria Literatura que é, segundo Todorov, paradoxal, assumindo a antítese entre o real e o irreal, pois a [...] operação que consiste em conciliar o possível e o impossível pode fornecer a definição à própria palavra ‘impossível’, e, no entanto, a literatura é; e este é o seu maior paradoxo. (TODOROV, 2003, p.183). Além disso, o universo fantástico em Tereza criou textos nos quais o mundo cotidiano nos é mostrado sob uma perspectiva diferente da usual. Ao contrário do gênero Fantasy7 (O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien), tão ao gosto dos leitores modernos, o fantástico dela não criou mundos fabulosos, distintos do nosso e povoados por criaturas imaginárias, mas revelou e problematizou a vida e o ambiente que conhecemos no dia-a-dia. E é aí que distinguimos O berro do cordeiro em NY de uma simples “história de horror”, composta de personagens e situações macabros visando tão-somente ao efeito de terror, pois esse “realismo” do fantástico em Tereza Albues não implica numa limitação ou pauperização de seu alcance na abordagem de problemas 7 Segundo Ricardo Pinto o fantasy é encarado como um domínio mais ou menos juvenil (independentemente da idade) e cujo preconceito embaraçosamente é difícil de refutar. Afinal, amiúde as personagens consistem em pouco mais que tipos convencionais (no melhor dos casos, arquétipos; no pior, estereótipos), quase como os da epopéia clássica, com o seu panteão de deuses, semideuses e heróis. E o imaginário aqui é tão mítico que evoca os contos de fadas, com as peripécias desenrolando-se num outro espaçotempo. Pode argumentar-se que a imaginação desenfreada povoa também outros modelos literários mais prestigiados, como o romantismo gótico ou o realismo fantástico. E que a condição humana continua lá, transcendendo as aparências e apregoando a sua proverbial ubiqüidade. Tolkien, por exemplo, criou todo um universo, com raças, idiomas e geografia definidos. “Em suma, o fantasy oscilaria, incongruentemente, entre a superficialidade juvenil e o pedantismo erudito” (PINTO, 2003, p.03). 116 humanos, antes é a fonte de sua complexidade estética e de representação social. Desse modo, vimos que o fantástico, em O Berro do Cordeiro em NY, ultrapassa as fronteiras da literatura trivial. O alcance crítico e estético do fantástico atinge vários níveis, dentre os quais se destacam: a subtração aos tabus da sociedade ao tratar, veladamente, de tópicos proibidos como a sensualidade do ato amoroso; a substituição do mundo tangível por outra realidade mais elevada e poética, para cuja representação concorrem o mito, os símbolos, as metáforas, a sinestesia; libertação do terror diante da morte e do nada (anulação do indivíduo) através da sua representação dentro da narrativa enquanto forma de exorcizar e vencer o medo inspirado por eles; e a representação do absurdo e falta de sentido da vida por meio da criação de situações insólitas, incompreensíveis, ilógicas, que põem em xeque nossa capacidade racional de entender a realidade. Negando a morte e todos os fatores de aprisionamento ou limitação do indivíduo, o fantástico, nesse caso, abre as portas à imaginação, à liberação dos impulsos, à experimentação de novos recursos de criação ficcional. Daí a importância de conhecê-lo e estudá-lo. Para corroborar tudo isso, vimos que o princípio tonal no romance O berro do Cordeiro em NY é na verdade uma tentativa de busca interior, de questionamento da realidade social e desvelamento daquilo que chamamos de realidade. Para a autora atingir esse objetivo é necessário que a personagem-narradora submerja no tempo-espaço, provocando o enfrentamento e diluição das tensões culturais e psicológicas do ser humano, sugerindo aos leitores que o mundo real pode ser apenas uma aparência, “[...] nos fazendo pressentir que deve haver tantas aparências de mundos quantas formas de olhos e de variedades de entendimento” (BARINE, 1970 apud RODRIGUES, p. 17), em contraposição ao que nos direciona a nossa “vã filosofia”. Em O berro do Cordeiro em NY, Tereza Albues produz uma literatura intimista e autobiográfica, mas que se universaliza na medida em que as questões especuladas, através dos enigmas humanos e supra-humanos, com os 117 elementos do fantástico, operacionalizam-se através da realidade social e cultural da região de Mato Grosso. Referências ALBUES, T. Pedra Canga. Rio de Janeiro: PHILOBIBLION, 1987. ______. Chapada da Palma Roxa. Rio de Janeiro: Atheneu – Cultura, 1990. ______. Travessia dos sempre vivos. Cuiabá: Editora da UFMT, 1993. ______. O berro do cordeiro em Nova York. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. Anderson, B. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática, 1989. CALVINO, Í. (org.). O fantástico visionário e o fantástico cotidiano, In: Contos fantásticos do século XIX. 2ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. CAPRA, F. O Ponto de Mutação. A Ciência, a Sociedade e a Cultura emergente. 26ª ed. São Paulo: Cultrix, 2005. DISCINI, N. Intertextualidade e conto maravilhoso. São Paulo: Edusp, 2001. FURTADO, F. A Construção do Fantástico na Narrativa. Lisboa: Livros Horizontes, 1980. LEITE, M. C. S. Águas Encantadas de Chacororé. Natureza, cultura, paisagens e mitos do pantanal. Cuiabá: Cathedral UNICEN Publicações, 2003. ______. Mapas da mina: estudos de literatura em Mato Grosso. Cuiabá: Cathedral UNICEN Publicações, 2005. MAUPASSANT, G. de e BRUM, J. T. (Trad.) Contos fantásticos – O Horla & outras histórias. Porto Alegre: L&PM , 1997. PRADO, A. A. (org). Atrás do mágico relance. Uma conversa com J.J. Veiga. Campinas- SP: Unicamp, 1989. PINTO, R. A dança da pedra do Camaleão – Os escolhidos. Vol. I, São Paulo: Editora Presença, 2003. RODRIGUES, S. C. O fantástico. São Paulo: Ática, 1988. TODOROV, T. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2003. ______. As Estruturas Narrativas. São Paulo, SP: Perspectiva, 1970. Recebido em 03/11/2009 Aceito em 04/12/2009 118 CAPITALISMO E ESQUIZOFRENIA: A SUBJETIVIDADE BLOQUEADA NA DUPLA ESCRITURA DE TEATRO DE BERNARDO CARVALHO Maria Carlota de Alencar Pires (UNEB)1 Resumo: Neste artigo, procuramos analisar a experiência paranóica em Teatro (1998), de Bernardo Carvalho, como sintoma de um mal-estar, em fins do século XX, em que novos paradigmas do capitalismo promovem o aprisionamento das subjetividades, que denominamos subjetividades bloqueadas. Tal bloqueio ocorre em razão de diversos fatores, a exemplo do consumo de produtos industrializados, do consumo de drogas, ou ainda do consumo das novas formas simbólicas da mídia, implicadas no tecido sociocultural. Essas subjetividades ocupam, nas narrativas contemporâneas, espaços abertos ou fechados: tais como o espaço das ruas ou dos shoppings, e tornam-se cada vez mais “bloqueadas”, seja no nível mental, seja no social, e se enredam na antilógica cultural do capitalismo tardio. Palavras-chave: paranóia, descentramento, capitalismo. CAPITALISM AND SCHIZOPHRENIA: OBSTRUCTED SUBJECTIVENESS OF DOUBLE ENTENDRES IN THE NOVEL THEATER BY BERNARDO CARVALHO Abstract: In this text we try to analyse the paranoid experience on Teatro (1998) of Bernardo Carvalho as a symptom of the malady by the end of the 20th century, where new capitalism paradigms lead the arresting of subjective things, the so called blockaded non-objectives. Such blockade occurs such as the consumption of industrialized products, drugs or new symbolic ways of media, somehow connected to the social cultural tissue. Those non-objectives are all over nowadays tales, in open or closed spaces like streets and malls and so become more and more blocked over the mental or social level and get trapped in the late capitalism anti-logics culture. Keywords: Paranoia, offcentering, capitalism. 1 Graduada em Letras, com Mestrado em Literatura Brasileira e Doutora em Literatura Comparada. [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 119-136 2009 issn 0104-687x Vamos discutir a fragmentação do signo sociocultural contemporâneo, na perspectiva do romance Teatro (1998), de Bernardo Carvalho, extraindo dele o cenário da sociedade dita pós-moderna, em fins-de-século XX, na qual os sujeitos transitam agônicos em espaços degradados. Para tanto, observaremos no romance a subjetividade paranóica, que se encontra bloqueada pelas mazelas do capitalismo tardio (JAMESON, 2000). Jameson compreende o capitalismo tardio como uma das interfaces truncadas do pós-modernismo, já que nesse conceito cabem múltiplas interpretações. Por aqui, tomamos a expressão como sinônimo de globalização. Diz Jameson que os resíduos do capitalismo tardio projetam-se nos artefatos simbólicos do consumo, a exemplo dos “enlatados” norte-americanos, e outros tantos símbolos da cultura pop. Este interessante romance de Bernardo Carvalho constitui-se como viva metáfora da fragmentação individual, haja vista que a narrativa compreende duas partes, em que a primeira refere-se a um significante distorcido, como simulacro do estrangeiro no centro de um outro “império”: neste caso os Estados Unidos. Na segunda, vemos as evidências dos novos paradigmas midiáticos da globalização, que transforma o corpo em objeto de consumo. O corpo sofre uma dupla transgressão, em que a construção da subjetividade homoerótica se traduz como discurso paranóico. O corpo, então, converte-se numa dupla escritura, e o desejo está para além das formas ulteriores do retrato narcísicofreudiano, alienando-se na engrenagem contraditória do capitalismo tardio. Jameson ressalta que essas contradições não estão localizadas excepcionalmente nos países periféricos ou ditos emergentes. Elas são características próprias do processo global em todo o mundo, porque o novo modo de produção capitalista não impõe uma blindagem entre os países centrais (imperialistas) e os periféricos (pós-coloniais), e menos ainda entre as culturas deste e daquele. Ao contrário, pois o signo sociocultural sofre um esgarçamento, torna-se poroso, permitindo, dessa maneira, que os seus artefatos simbólicos transitem entre as culturas, a partir de estruturas flexíveis, de caráter híbrido. Em outras palavras, o capitalismo tar120 dio afeta a produção cultural e simbólica, tanto nos países de segundo e terceiro mundo, quanto naqueles países ditos imperialistas, em que os novos artefatos da produção industrial atendem às demandas tardias das ex-colônias, veiculadas pelas novas mídias, a exemplo da Internet. A partir de Teatro, compreendemos que o capitalismo tardio também se configura por meio de uma escritura aberta, em que deslizam tanto os resíduos da modernidade e do moderno, quanto os novos modelos imagéticos da chamada pós-modernidade. Nela, estão infiltrados traços de diferentes ordens, que ligam e desligam o discurso de subjetividades paranóicas, resultante de um mal-estar mundano. Tais discursos erigem-se nos mais diferentes produtos artísticos da indústria cultural, que acaba por operar os sintomas de um capitalismo esquizofrênico, no atendimento das mais variadas demandas do signo social cada vez mais heterogêneo e confuso. Teatro alegoriza esta estrutura aberta do capitalismo tardio, convertendo o discurso paranóico em metáfora grandeangular da ficção dita pós-moderna. Para Jacques Derrida (1995), a escritura reflete um traço (-), cuja forma primordial é o vazio, como estrutura existencial do sujeito: Se a angústia da escritura não é, não deve ser um pathos determinado, é porque não é essencialmente uma modificação ou um afeto empírico do escritor, mas a responsabilidade desta angústia, dessa passagem necessariamente estreita da palavra na qual as significações possíveis se empurram e mutuamente se detêm. (DERRIDA, 1995, p. 92). Derrida entende que a escritura é a significação verbal humana em seu processo de comunicação, em que “no fluxo das palavras a língua perde-se no inconsistente” (DERRIDA, 1995, p. 93). Essa inconsistência revela-se na escritura como angústia. Como angústia da palavra, em que o escritor busca novos sentidos de linguagem e tem, na realização da escrita, uma aliada fantasmagórica, visto que ele projeta no significado as sombras distorcidas do significante. Entretanto, a escritura engendra traços significantes, sem que isto lhe force uma determinação significativa. 121 A escritura é, pois, uma estrutura aberta, na qual sempre haverá uma incompletude, um vazio significante. Este vazio significante refere-se, antes, a uma imagem acústica, que terá existência apenas fora da escritura, com a presença daquilo que Derrida denomina traço. O traço se inscreverá neste vazio, nesta “rachadura” estreita da palavra escrita. Aproveitando o conceito de escritura de Derrida, podemos dizer que o romance Teatro configura um vazio estrutural de dois traços comunicantes, que revelam as inscrições simbólicas tanto no nível do significante, que diz respeito às representações imagéticas entre as culturas, quanto no nível do significado, que diz respeito à palavra escrita como resistência ao desaparecimento dos resíduos culturais. Teatro é a escritura de uma subjetividade bloqueada que resiste aos estados paranóicos, em meio aos efeitos negativos do capitalismo tardio. Felix Guattari (1989) afirma que a subjetividade pósmarxista ganhou uma dimensão extremamente complexa, em que os adventos do capitalismo, que Marx denominou infraestrutura e superestrutura, já não servem para ajustar o indivíduo ao cenário da chamada sociedade pós-moderna. Nessa ótica, a produção dos bens materiais (infraestrutura), tanto quanto a produção dos bens simbólicos ou culturais (superestrutura), já não garante a estabilidade do sujeito no mundo contemporâneo, seja nos países centrais, seja nos periféricos: Nenhum campo de opinião, de pensamento, de imagem, de afectos, de narratividade pode, daqui para a frente, ter a pretensão de escapar da influência invasiva da assistência por computador, dos bancos de dados, da telemática etc... Com isso chegamos a nos indagar se a própria essência do sujeito – essa famosa essência atrás da qual a filosofia ocidental corre há séculos – não estaria ameaçada por essa nova “maquinodependência” da subjetividade. Sabemos da curiosa mistura de enriquecimento e empobrecimento que resultou disso tudo até agora: uma aparente democratização do acesso aos dados e aos saberes, associada a um fechamento segregativo de suas instâncias de elaboração; uma multipli- 122 cação dos ângulos de abordagem antropológica e uma mestiçagem planetária das culturas, paradoxalmente contemporâneas de uma ascensão dos particularismos e dos racismos; uma imensa extensão dos campos de investigação dos discursos técnico-científícos e estéticos evoluindo num contexto moral de insipidez e desencanto. (GUATARI apud PARENTE, 2001, p. 170). É nessa antilógica do capitalismo, como aqui a denominaremos de “razão impura”, que consideramos Teatro como metáfora partida das novas formas simbólicas e culturais da contemporaneidade. O romance de Bernardo Carvalho mostra as fraturas irreversíveis do signo sociocultural, na antilógica dos conteúdos performáticos da mídia. Fraturas que não se referem apenas às relações psiquiátricas entre médico e paciente, por exemplo, mas, sobretudo, no que se refere à instabilidade do sujeito e suas relações com o tecido social, no último quartel do século XX. Bernardo Carvalho mostra de que forma essa instabilidade pode significar o afrouxamento das grandes teorias que marcaram a cultura e o saber acadêmico ao longo dos séculos XIX e XX, a exemplo das teorias de Freud, de Darwin e de Karl Marx. Em Teatro, cabe-nos algumas indagações: quem é o louco? E qual é o lugar que ele ocupa e de onde fala, nos meandros dessa realidade esquizofrênica do capitalismo tardio? Quem é o verdadeiro suspeito de investigação clínica se, neste grande “teatro” da contemporaneidade, o pathos pode estar escondido sob as mais variadas máscaras sociais. Para respondermos a tais indagações, devemos compreender, em primeiro lugar, que as fronteiras entre uma razão social pura e as psicoses individuais, tornaram-se muito frágeis. Teatro configura o descolamento entre o significante e o significado, que dão formas a um signo sociocultural híbrido, babélico (BHABHA, 1998). Este hibridismo da escritura de Carvalho apresenta-se de maneira reflexa entre a primeira e a segunda parte do romance. Diz Homi Bhabha que o signo sociocultural constitui-se a partir de um forte hibridismo, emergindo dele uma contínua tradução entre as culturas. Bhabha denomina essa 123 tradução de “internacional tradutório”, que se verifica como instância primeira do signo sociocultural: Trata-se de um significado que é culturalmente estrangeiro não porque é falado em muitas línguas, mas porque a compulsão colonial pela verdade é sempre um efeito do que Derrida chamou de performance babélica, no ato da tradução, como uma transferência figurada de significado através de sistemas de linguagem. (BHABHA, 1998, p. 193-4). Mas, para Jacques Lacan (1998), é nesse descolamento entre significante e significado, isto é, imagem e palavra, que ocorrem as psicoses. A partir da relação do sujeito com o significante e com o outro, com os diferentes estágios da alteridade, o outro imaginário e o outro simbólico, que “poderemos articular esta intrusão, esta progressiva ocupação psicológica do significante que se chama a psicose” (LACAN, 1998, p. 252). Bernardo Carvalho procura mostrar, em sua escritura partida, que o significante, tanto quanto o significado, sofreram uma distorção, deixando-se ver as impurezas da racionalidade do capitalismo pós-industrial. Tais impurezas já não estão mais amontoadas debaixo do tapete de uma moral burguesa, em que as culturas pretendiam uma lógica cartesiana, fundamentada nas operações coercitivas do Estado. Essas operações, até meados do século XX, traduziam-se no ajuste dos sujeitos transgressores dentro dos hospícios, com o total controle do Estado, melhor dizendo, do “Pai-Estado”. Para Foucault, a reinvenção da subjetividade pelo capitalismo, ao longo do século XIX, implicou, sobretudo, em mudança de paradigma em torno da moral burguesa, que já não via sentido na castração do sujeito, como forma de poder e dominação do Estado capitalista. As formas coercitivas do poder pertenciam ao plano da exterioridade subjetiva, a exemplo dos símbolos dogmáticos do catolicismo, os quais levavam o sujeito às práticas de castração, repressão sexual, arrependimento e confissões. Zygmunt Bauman (2000), reinterpretando Foucault, observa que a política, assim como as instituições públicas 124 e o Estado, já não possuem um significado fixo na vida da sociedade capitalista. O Estado tornou-se, ao longo do século XX, um signo deslizante e contaminado por diferentes significantes dispersos em seu bojo: Significa apenas que a função de estabelecer código e agenda está sendo decididamente transferida das instituições políticas (isto é, eleitas e em princípio controladas) para outras forças. Desregulamentar significa diminuir o papel regulador do Estado, não necessariamente o declínio da regulamentação, quanto mais o seu fim. O recuo ou autolimitação do Estado tem como efeito mais destacado uma maior exposição dos optantes tanto ao impacto coercivo (agendador) como doutrinador (codificador) de forças essencialmente não políticas, primordialmente aquelas associadas aos mercados financeiro e de consumo. (BAUMAN, 2000, p. 80). Teatro nos leva a compreender a radical instabilidade do signo sociocultural em seus mais variados aspectos. Nessa escritura de máscaras, são visíveis as tênues fronteiras entre razão e loucura, entre verdade e mentira, entre realidade e ficção, entre o real e o virtual, entre o Pai e o filho, na esteira da sociedade globalizada. O que mais importa no romance de Carvalho não é exatamente a narrativa inventada de um alienado mental, mas, sobretudo, o diálogo que o escritor estabelece com os novos paradigmas da sociedade pós-moderna, por meio de uma linguagem paranóica, dita também esquizofrênica, como observamos em A céu aberto (1997), de João Gilberto Noll. Noll realiza uma escritura fantasmagórica, cujas sombras são a duplicata da alucinação da guerra, em meio à busca pelo pai. Pai igualmente ausente, que se inscreve como traço ausente, enigmático. Observa Derrida que toda presença implica o aparecimento de um enigma, ou de uma presença pura e simples como duplicação, repetição originária: “autodistinção entre o domínio da ausência como palavra e como escritura. A escritura na palavra. Alucinação como palavra e alucinação como escritura”. (DERRIDA, 1995, p. 180) 125 Bernardo Carvalho coloca à contra-luz o esgarçamento dessas formas simbólicas, ulteriormente fixas, como razão, realidade, loucura, busca pela origem perdida. Tais paradigmas misturam-se ao tecido social de extremos, em que a cultura do dinheiro confunde-se com a do poder da política e da mídia, produzindo-se, então, pathos, como sintoma da diluição das mesmas forças permeadoras do Estado, que era antes produto e produtor do que Freud denominou de recalque. Podemos pensar o recalque freudiano, no contexto da pós-modernidade, em que “a falência do Estado viabilizou o processo de globalização” (BAUMAN, 1999, p.27), como dimensão primeira de uma auto-repressão nos níveis internos e externos da subjetividade. O sujeito recalcado pode estar à deriva de seus próprios conflitos, em que as interferências simbólicas da cultura do capitalismo tardio o atravessam, causando-lhe o que Bauman denomina de “mal-estar”, diante de uma pós-modernidade complexa, tanto quanto confusa. Para Derrida, o recalque é sinônimo de não esquecimento, de não exclusão das frustrações, projetadas de maneira especular, em duplo movimento. Nessa ótica, os signos psicossociais afetam o espaço interno da subjetividade, afetando conseqüentemente suas representações mentais e simbólicas, em torno desses mesmos signos que o perseguem, alterando substantivamente a produção do significado que, em última análise, torna-se distorcido na escritura. O recalque não repele, não foge nem exclui uma força exterior, contém uma “representação interior, desenhando dentro de si um espaço de repressão. Aqui, o que representa uma força no caso da escritura – interior e essencial à palavra – foi contido fora da palavra”. (DERRIDA, 1995, p. 180) O recalque projeta-se no indivíduo, antes de tudo, como memória que ele será apenas capaz de diluir, isto é, torná-la como esquecimento, a partir da escritura, melhor dizendo, a partir da palavra escrita, da inscrição do nome e, em última instância, da linguagem. Trazer algo à memória significa bloquear outros significados, quer dizer, esquecer outros significantes dispersos nas lembranças. É como se 126 o significado sofresse uma espécie de corte essencial, realizado pelo significante, que acaba por rasurar as imagens da memória: (...) a memória. (A Darzstellung é a representação, no sentido fraco desta palavra mas também muitas vezes no sentido da figuração visual, e por vezes da representação teatral. A nossa tradução variará conforme a inflexão do contexto). Freud só concede a qualidade psíquica a estes últimos neurônios. São os “carregadores da memória, e, portanto, provavelmente dos acontecimentos psíquicos em geral”. A memória não é, portanto, uma propriedade do psiquismo entre outras, é a própria essência do psiquismo. Resistência e por isso mesmo abertura à efração do traço. (DERRIDA, 1995, p. 185). Em Teatro, o narrador possui uma origem igualmente partida, isto é, uma origem que foi dividida entre duas nações, entre duas narrativas, entre duas memórias, entre duas línguas. Esta fragmentação é o produto do recalque paterno, buscando encontrar novos significados para o resgate dessa mesma origem diluída, ou melhor, dessa herança perdida, e que nunca foi dada por um outro Pai-Estado, em terras estrangeiras: Nasci e cresci do outro lado da fronteira que o meu pai atravessou na calada da noite com a minha mãe grávida para viver no “centro do império”, ele dizia, e agora eu entendo. A mesma fronteira que tive de atravessar de volta para falar essa língua que ele havia abandonado ao decidir viver lá, embora comigo ainda tentasse usála, e que aos poucos compreendeu ser a sua única esperança e o último vestígio da sua identidade, a única herança que podia me deixar. Foram sessenta anos até eu entender que somente nessa língua pobre eu poderia falar, escapar ao controle dos sãos, somente fora do país, contar essa história que na língua deles, que também foi minha ao nascer do lado de lá da fronteira, só pode soar como alucinação ou heresia. Só a língua do meu pai pode restituir alguma verdade. (CARVALHO, 1998, p. 9). 127 Aqui vemos a ocorrência de duas trajetórias antitéticas, que somatizam o mesmo desejo da fuga de sentidos que já não se traduzem pela forma de valores utópicos de enraizamento patriótico, crença no Pai-Estado, identidade original como herança, e o princípio da verdade linguística como forma de superação do recalque estrangeiro. Nada disso funcionou para o pai e não funcionará também para o filho, mesmo que ele faça o caminho de volta, o caminho inverso à trajetória desse pai biológico, o caminho de utopia. Entretanto, o filho nessa “aporia”, melhor dizendo, nessa busca por uma verdade, por um novo sentido de escritura, deseja contar uma história que apenas é possível na língua pobre de seu pai, e, para isto, é necessário o distanciamento do centro do que ele chama de “império”, um império que não foi o de seu pai e nem é o seu. Distanciamento que acaba por produzir aquilo que Homi Bhabha (1998) denomina descentramento cultural. Teatro inscreve o descentramento em duplo sentido, isto é, em duplo movimento da fuga e do retorno, do eterno retorno às origens. Não é mero acaso ou banal coincidência que o narrador inicia a sua história inventada a partir de uma epígrafe que conta também uma história de pathos. Escritura lendária, que serve de legenda para muitas outras histórias de encontros e desencontros entre pai e filho, restando apenas o grande enigma existencial de se estar no teatro do mundo, buscar um lugar, uma permanência, uma origem, uma família, como na trajetória de Édipo. Lemos na epígrafe da escritura de Teatro a tentativa de retorno a uma origem que foi inconscientemente sacrificada pelo filho: “Hei de lavar a nódoa deste sangue, e não só pelos outros, mas também por minha causa – pois quem matou Laios talvez me esteja preparando o mesmo fim: ao justiçálo, então, é a mim que sirvo” (CARVALHO, 1998, p. 5). Na escritura fantasmagórica de Teatro, o narrador deseja vingar-se do desaparecimento inexplicável de seu pai, em terras estrangeiras. O pai é o seu traço original, apagado não pelo laço filial mas, antes, pela Lei: Meu pai tinha essa fantasia: que a polícia era o que podia haver de mais poderoso naquele país. Um pensa128 mento típico do imigrante ilegal, para quem os agentes costumam ter uma presença marcante, e na maioria dos casos definitiva. Tinham sido o pior pesadelo da vida dele, o fantasma que o havia assombrado durante anos, até ser anistiado. Nunca entendeu que a minha polícia nada tinha a ver com a dele, embora tenha sido o primeiro a chamar, na sua língua, os meus colegas de “sãos”, o que não deixava de atestar um certo entendimento, tanto mais certo por ser sarcástico. Nada a ver com imigração e fronteiras. Minha polícia cuidava do mal interior. Quando consegui o emprego, ele chorou de orgulho. Tinha esquecido o tempo em que o perseguiram. Não me fez jurar que eu não perseguiria nenhum imigrante ilegal. (CARVALHO, 1998, p. 12-3). O narrador provoca o seu próprio exílio do centro do “império” para se isentar da contaminação significante do mundo capitalista, cheio de sanidade coercitiva do Pai-Estado, responsável pela produção de subjetividades esquizóides e deslizantes. Essas subjetividades não conseguem fixar-se no território do Outro. Configuram-se, nesse sentido, como subjetividades bloqueadas ou agônicas, como também denominamos, e encontram-se deslocalizadas no tecido sociocultural. Transitam à margem e estão excluídas da racionalidade lógica do centro do “império”, ainda que contaminado por fantasmas estrangeiros. Para Foucault, os ditos da insurreição revelam a contraface do Poder institucionalizado. O Poder é então responsável pela produção das subjetividades agônicas, isto é, aqueles indivíduos que estão à margem do social. Elas são agônicas porque oscilam entre a ética e o crime: “um delinqüente arrisca sua vida contra castigos abusivos; um louco não suporta mais estar preso e decaído; um povo recusa o regime que o oprime” (FOUCAULT, 2004, p. 80). É a partir do distanciamento, da fuga e da concepção de uma razão impura que o narrador inominado, em Teatro, na primeira parte de sua escritura, irá promover o desvelamento crítico das máscaras sociais, em seu caminho de volta, fazendo emergir as profundas mazelas no bojo esquizofrênico do capitalismo tardio. 129 É no caminho de volta às origens perdidas que o narrador revela o seu nome: Daniel, na segunda parte de sua autobiografia de ficção, em que revela também o lugar de onde fala: o hospício. Daniel configura-se como subjetividade bloqueada, e este bloqueio é promovido pelo seu confinamento no hospício que, por sua vez, é o lugar simbólico das subjetividades bloqueadas, ou barradas. Elas sofrem essa interdição tanto pelo Estado, quanto pela sociedade de consumo. Para Derrida, a presença implicada do traço será sempre uma presença ameaçada por um Outro traço, por uma Outra escritura que colocará em xeque o que foi escrito anteriormente. Teatro compreende duas distintas escrituras, em que a segunda, isto é, a segunda parte do romance, desestabiliza por completo a primeira, que parece ter sido escrita por um Outro narrador, um narrador que não se revela, por isso inominado. Em Teatro vimos as nítidas rasuras “onto-teológicas” do traço, isto é, da palavra, visto que a negação de algum sentido de Verdade faz diluir também algum sentido de theos, de thelos. Essa exclusão onto-teológica, ou, em outras palavras, essa exclusão da divindade como fundação primeira da origem, por conseguinte do traço/palavra, como em Édipo rei, é também sintoma do esgarçamento das máscaras edipianas e narcísicas. O filho, ao fazer o regresso às suas origens ontogenéticas, afasta-se de si mesmo, por um lado, e, por outro, aparta-se das lembranças fantasmáticas do pai morto, no centro de um “império” que não lhe pertencia. Para romper com a memória do pai morto é necessário, pois, que Daniel também provoque cisões em sua máscara edípica. Ele encontra a solução simbólica para esta fuga de si, forjando a sua própria morte: Depois de procurar com o dedo, olhou para mim e disse: “Não está aqui”, entre os mortos. Não respondi, já estava com a nota debaixo da mão. Empurrei o dinheiro sobre a página do livro, sobre o nome dos mortos, para que ele o visse. Sabia que podia negociar com aquele tipo de homem. “Vai sair mais caro”, ele disse. E eu coloquei outra nota. Repeti o meu nome, a data de nascimento 130 e morte. Mostrei-lhe a certidão de óbito falsa, para que não errasse a grafia. Era um sujeito ignorante, que copiou letra por letra do meu nome de estrangeiro e disse sorrindo que eu não precisava mais me preocupar, em uma semana a placa estaria no túmulo, o meu nome ao lado do nome do meu pai e do da minha mãe. O último detalhe. Eu sabia que era uma faca de dois gumes. Se quisessem me eliminar, agora seria muito mais fácil, já tinha feito metade do serviço. Por outro lado, minha esperança era que acreditassem na minha morte, pelo menos até eu sair do país. Não sabia se já estavam no meu encalço, se já tinham se lembrado de mim. Foi apenas uma suposição. Preferi não me arriscar. Saí do cemitério direto para a estrada. Viajei durante dois dias até a fronteira, onde abandonei e explodi o carro, não sem antes adulterar o número do chassi. Devem têlo encontrado na manhã seguinte. É comum encontrar carros explodidos na fronteira. Em geral são obra de bandidos ou traficantes tentando eliminar rastros. Sou apenas um aposentado. (CARVALHO, 1998, p. 18). O dinheiro sobre o nome dos mortos é o significante que promove o apagamento da escritura e, por conseguinte, da memória do nome do pai, sobrepondo-se, metonimicamente, a um outro significante, que desvela códigos subliminares de uma razão impura, reacendendo outros significados metafóricos na construção das subjetividades bloqueadas. Aqui vemos que a razão – em oposição à loucura – é extremamente diluída no bojo dos códigos sociais, e aí vemos surgir uma razão que na verdade é impura, isto é, ela não está isenta de contaminação irracional e acaba por projetar no Outro uma razão que também é facilmente corruptível. A subjetividade bloqueada pelo dinheiro torna-se paranóica, visto que ocorre o descolamento do significante – na esfera do imaginário – e do significado – na esfera do simbólico. Nesse sentido, o dinheiro funciona para Daniel como metáfora e metonímia de apagamento e ascensão social a um só tempo: A oposição da metáfora e da metonímia é fundamental, pois o que Freud colocou originalmente no primeiro plano nos mecanismos da neurose, bem como naqueles 131 dos fenômenos marginais da vida normal ou do sonho, não é nem a dimensão metafórica, nem a identificação. É o contrário. De uma forma geral, o que Freud chama a condensação, é o que se chama em retórica a metáfora, o que ele chama o deslocamento é a metonímia. A estruturação, a existência lexical do conjunto do aparelho significante, são determinantes para os fenômenos presentes na neurose, pois o significante é o instrumento com o qual se exprime o significado desaparecido. É por essa razão que de novo dirigindo a atenção para o significante, nada mais fazemos do que voltar ao ponto de partida da descoberta freudiana. (LACAN, 1998, p. 252). Observamos que esse apagamento nominal remete ao desejo inconsciente de anomia, de anonimato, de morte. O nosso narrador quer evadir-se do centro do “império”, quer distanciar-se da realidade esvaziada de significados, como forma de superação do recalque de sua subjetividade estrangeira, e para isso apaga o seu nome, sua identidade, seu logos. Para Derrida, “a repressão logocêntrica não é inteligível a partir do conceito freudiano de recalque; individual e original se torna possível no horizonte de uma cultura e de uma inserção histórica” (DERRIDA, 1995, p. 181). Daniel, ao comprar a sua própria morte, a fim de se evadir de uma realidade de significados esgarçados para cair na clandestinidade, assume uma Outra subjetividade, igualmente bloqueada: a do terrorista. Vemos surgir, então, a configuração não apenas de uma subjetividade híbrida, mas, sobretudo, o surgimento do sujeito fractal, isto é, do sujeito fraturado, que se desdobra em três diferentes tipos de subjetividades, que não se comunicam: a do estrangeiro, a do policial aposentado e, por último, a do terrorista: A idéia das vítimas sempre entrando em suas casas, perdendo os sentidos (a idéia era levá-las a perder os sentidos) depois de abrirem os pacotes, sujas daquele pó amarelo, solar, caídas no chão, paralisadas, sempre ricos e bem-sucedidos profissionais, empresários, advogados, financistas, publicitários e suas mulheres, uma vez uma secretária, gente de bem, a idéia daquela gente morrendo por funcionar tão bem dentro do mundo em 132 que vivia, tudo isso criou um pânico virtual, contido, que aumentava o ritmo dos batimentos cardíacos sem no entanto deixar transparecer nenhuma mudança. (CARVALHO, 1998, p. 30). Mas, poderemos nos perguntar: por que uma subjetividade terrorista e não simplesmente paranóica? Por que o desejo de perseguir e não a mania de perseguição, que é própria das subjetividades paranóicas? Reflexões que não se esgotam apenas com argumentos teóricos, visto que se trata de uma escritura complexa e inesgotável, cheia de referências significativas. Mesmo assim, no nosso observatório de sombras, vemos que Bernardo Carvalho se antecipa ao atual estágio do terrorismo no mundo, a exemplo do atentado terrorista em Nova York, no World Trade Center, em 2001. É deste modo que a dupla escritura partida de Teatro ocupa a cena irreal do contemporâneo, entre significantes rasurados e vários outros significados que nos arrastam para o centro do furacão da pós-modernidade. Bernardo Carvalho mistura signos do passado e do presente, dificultando a passagem da palavra, da escritura e, por último, da linguagem pela estreita fenda da ficção. Teatro nos impõe uma dificuldade de leitura em torno de uma escritura rachada e que articula diferentes códigos, diluídos na sociedade do capitalismo tardio. Códigos que dependerão sempre de um desvelamento, de uma decodificação. Interessante observar que as novas mídias, por exemplo, ocupam o lugar da memória, que se torna instável e deslizante entre o plano do real e o plano do virtual: Dessa vez, a mensagem viera dois dias depois. O terrorista – os investigadores, reconvocados, voltaram a se referir assim ao missivista assassino, sem reservas – agora se manifestava sobre a mídia. Perguntava como é que a mídia podia estar presente sempre que acontecia algo importante e inesperado em qualquer parte do planeta, como era possível que sempre houvesse imagens de todas as coisas que aconteciam no mundo: “Como é possível prever e controlar todo acaso, aboli-lo, sem que o mundo se torne uma farsa, uma ficção horrível e programada? Esta carta, como os pacotes que vieram antes e os que ainda estão por vir, prova, para aqueles 133 facilmente iludidos pelas imagens da televisão, que a mídia não pode estar sempre presente, que há coisas que não se podem ver e que o acaso sempre existirá. (CARVALHO, 1998, p. 27). Curiosamente, Teatro constitui-se como paradoxo de apresentação da mídia televisiva para refutar o seu papel controlador sobre as manifestações da subjetividade, dando ênfase à representação teatral, por exemplo. Derrida vê o teatro como jogo de representação da escritura, em que o corpo do ator carrega a máscara viva da realidade: “Só o teatro é arte total em que se produz, além da poesia, da música e da dança o aparecimento do próprio corpo” (DERRIDA, 1995, p. 133). Corpo que simplesmente fala, antagonista da escritura. No romance de Carvalho, o teatro aparece como representação de uma fala, que se inscreve por meio de uma escritura partida. O corpo aqui oculta-se na máscara da insanidade mental e ocupa um lugar de isolamento e reclusão, visto que esse narrador fala de um hospício, como já ressaltamos. Por outro lado, o corpo, em Teatro, diferente da manifestação teatral, não é objeto de representação, mas, antes, é um significante ausente que desvela as impurezas de um mundo desajustado, no qual transitam subjetividades interditadas: Leu, nas cartas do irmão, que se tratava de uma urna de latão com um pergaminho. O dono do supermercado, insatisfeito com a descoberta e frustrado com a evasiva de N., a quem perguntara o que queriam dizer aquelas inscrições (recebendo como resposta que levariam meses até poder decifrar todo o pergaminho escrito em grande parte na língua doce, continuou esburacando o chão do supermercado à procura do “verdadeiro tesouro”, como dizia, quando, para N., já estava mais do que claro que era o tesouro o que haviam achado, como relatava nas cartas. O supermercado foi à falência quando já não era mais possível alocar os laticínios na ala dos produtos de limpeza ou vice-versa, e assim por diante, porque todas as alas foram inutilizadas, como N. escreveu ao suspeito, não sem algum humor (era v. que, aparentemente, não tinha nenhum). A família acabou interditando o dono do supermercado, talvez com um pouco de atraso, agora que 134 sua idéia era derrubar o prédio inteiro, transformando todo o terreno num grande sítio arqueológico, o que lhe parecia um lucrativo investimento a longo prazo. (CARVALHO, 1998, p. 60). Na escritura híbrida de Teatro, observamos que o corpo é marcado pelos símbolos da cultura pós-moderna, na alegorização da personagem Ana C., por exemplo. Aqui arriscaríamos dizer que Carvalho faz uma referência à poeta Ana Cristina Cezar, que participou da chamada “geração mimeógrafo” nos 1970. No romance, Ana C. possui uma incompletude nominal e assume, surpreendentemente, na segunda parte do livro, uma identidade homossexual, produzindo vídeos pornográficos. Vemos aqui o corpo se projetar como ausência significante, para ocupar um outro significado. O corpo de Ana C. é mais um traço vazio que busca o preenchimento de sentidos, mesmo esgarçados pela razão impura de uma lógica cultural do capitalismo tardio: (...) O corpo traz todas as respostas, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que estamos aqui, mas o corpo não conta. O espírito não sabe ler o corpo, essa fórmula, e nunca poderá lê-la, pois assim é que é, esta condição, esta impossibilidade. Daí o corpo para os cátaros ser obra do demônio, aprisionando a alma. O corpo é ao mesmo tempo o que detém todas as respostas e o que não se pode ler, foi o que eu respondi a ele, não tendo mais o que dizer, quando me mandou aquela fórmula, o irmão disse em alguma parte do artigo, referindo-se ao suspeito. E que foi também a partir daquele ponto que sentiu, ainda sem aquilatar as conseqüências, que o tinha perdido de vez. (CARVALHO, 1998, p. 63). Com efeito, é necessário buscar sentidos, significados, traços que venham a preencher essa escritura vazia e demoníaca do corpo. O corpo de Ana C., portanto, configura-se como reescritura de um teatro, produzindo uma dificuldade de leitura, uma dificuldade na passagem do traço por essa “rachadura” corpórea. O corpo híbrido de Ana C. articula múltiplos significados para um significante que se encontra vazio. Mais uma vez, vimos a ocorrência de múltiplos sentidos sobre o corpo na cultura do pós-modernismo, no 135 cruzamento com outros significados acerca do estar no mundo, buscar uma identidade, uma origem. Em última análise, é necessário, então, o distanciamento, a negação do lugar, a fuga de sentidos de realidade, para que enxerguemos a insanidade das novas formas simbólicas do contemporâneo. Não é por acaso essa dificuldade de leitura de Teatro, visto que Bernardo Carvalho, a partir de um discurso esquizofrênico e de repetição, rearticula, “direto do hospício”, os novos paradigmas da sociedade do capitalismo tardio. Tais paradigmas ou, em outras palavras, os novos signos culturais, erigem-se nessa escritura partida como angústia, como razão impura, como paranóia. Referências BHABHA, H. O local da cultura. Trad. Myrian Ávila, Eliana Lourenço de Lima e Gláucia Renata Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. __________. Globalização: as conseqüências humanas. Trad. Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. __________. Em busca da política. Trad. Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. CARVALHO, B. Teatro. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. DERRIDA, J. A escritura e a diferença. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. São Paulo: Perspectiva, 1995. (Col. Debates) FOUCAULT, M. Ética, sexualidade e política. Vol V, Trad. Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado. Org. Manoel Barros. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. LACAN, J. Seminário 3: as psicoses. Trad. M. D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. JAMESON, F. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. Trad. Maria Elisa Cevasco. São Paulo: Ática, 2000. PARENTE. A. Imagem máquina. Rio de Janeiro: Editora 34, 2001. Recebido em 31/10/2009 Aceito em 07/12/2009 136 O LIVRO DAS IGNORÃÇAS COMO VOZ LÍRICA DE INSCRIÇÃO ÉPICA Marta Helena Cocco1 Jamesson Buarque de Souza2 Resumo: Este artigo descreve a presença de aspectos do estilo épico na formação poética de O Livro das Ignorãças, de Manoel de Barros, percorrendo um processo de apresentação de características desse estilo, como a descrição de um mundo isolado e suficiente em si mesmo, a presença de personagens e animais que expressam a coletividade de seres daquele mundo e a ausência de tempo futuro, entre outras. Para efeito deste estudo, consideramos que, no mundo contemporâneo, o estilo épico se configura nos poemas hibridizado (com o lírico). Para tanto convocamos à discussão postulados sobre o gênero épico a partir dos estudos de Hegel (1997), Lukács (2000), Staiger (1997) e Bakhtin (1990). Palavras-chave: poesia brasileira, Manoel de Barros, estilo épico. O LIVRO DAS IGNORÃÇAS AS LYRICAL VOICE OF EPIC INSCRIPTION Abstract: This paper describes the presence of the aspects of epic style of poetry in The Book of Ignorãças (O Livro das Ignorãças), by Manoel de Barros. For this, it goes through a process of presenting the features of this style, such that the description of an isolated world and sufficient in itself, the presence of characters and animals that express a collectivity of beings of that world and no future time, among other. For purposes of this study, we believe that the epic style takes shape in the lyrical poems hybridized in the contemporary world. For this discussion, we argue the postulates about the epic genre from the studies of Hegel (1997), Lukács (2000), Bakhtin (1990 and Staiger(1997). Keywords: Brazilian poetry, Manuel de Barros, epic style. 1 Professora de Literaturas da Língua Portuguesa da Unemat/MT, doutoranda em Letras e Lingüística (FL/UFG) e membro do grupo de pesquisas RG-Dicke (UFMT/ CNPq). [email protected] 2 Professor doutor de Teoria de Literatura e de Ensino de Literatura na FL/UFG e do programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutoramento) da mesma instituição, no qual ministra a disciplina Teorias do estilo épico em poesia: dos antigos aos modernos e contemporâneos. POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 137-150 2009 issn 0104-687x A classificação de uma obra nos gêneros épico, lírico e dramático era mais tranquila na Antiguidade, diante de um número reduzido de obras, segundo Emil Staiger (1997). No entanto, acrescentamos que não se tratava somente disso. Na Antiguidade havia uma formalização, uma predisposição humana a um mundo dado antes. Logo, a formalização fechada de congressos textuais (poesia, filosofia) e seus compartimentos (épica e dramática, diálogo e escólio) era muito resolvida, de sorte que não havia, propriamente, insinuação de uma coisa na outra, pois isso implicaria em mau domínio da Retórica, da Gramática e da Lógica. Hoje, com tamanha variedade e quantidade de textos, qualquer tentativa de classificação é uma custosa empreitada. O que tem sido apresentado como consenso é que os gêneros estão hibridizados. Esse consenso começou a ganhar corpo, sobretudo, no início do século XX, a partir das visitas e revisitações aos Cursos de Estética (1997), de Hegel, e ao Nascimento da Tragédia (1983), de Nietzsche. É justamente essa hibridização que nos permite visualizar a vigência do estilo épico em obras da atualidade, contrariando aqueles que, sem qualquer relativização, consideram apenas o gênero puro, porque julgam ser o épico um gênero morto, de existência jamais cabível a partir da Modernidade. Mais gravemente, julga-se, não raro, o épico inconcebível desde os fins da Antiguidade. Muitas interpretações foram feitas para se compreender o que caracteriza o gênero épico em um texto literário. Algumas sobrevivem até hoje e se consolidaram como fonte de referência. Outras se enfraqueceram pelo fato de se referirem a obras em particular. Do que se pesquisou a respeito, interessa-nos, inicialmente, verificar a proposição de Lukács (2000) de que o épico relaciona-se com culturas fechadas, nas quais imanência e transcendência coexistem e o mundo se apresenta ao ser como uma totalidade na qual ele está inserido e integrado. Lukács asseverou que a epopeia não é possível no mundo moderno (com o advento do drama e da filosofia), uma vez que a constituição deste mundo prevê a individualidade humana: 138 A grande épica dá forma à totalidade extensiva da vida, o drama à totalidade intensiva da essencialidade. Eis por que, quando a existência perdeu sua totalidade espontaneamente integrada e presente aos sentidos, o drama pôde, não obstante, encontrar em seu apriorismo formal um mundo talvez problemático, mas ainda assim capaz de tudo conter e fechado em si mesmo. Para a grande épica isso é impossível. (LUKÁCS, 2000, p. 44). Concordamos com o filósofo, no entanto, sob a ressalva de que a Modernidade compreende o espaço do múltiplo e do diverso, portanto, coexistem hoje mundos assemelhados (logo, não-idênticos) ao da antiga epopeia, ainda que sejam mundos caracterizados por um relativo isolamento. Cabe aqui, portanto, compreender que a teoria do gênero épico, aliás, a teoria dos gêneros literários foi constituída a partir de um formalismo não-mais pertinente e fundada em princípios de formulação fechada de congressos textuais, como dissemos no início deste artigo. No entanto, chegando-se à Literatura do Modernismo para os dias atuais, os fundamentos de inspiração (da Antiguidade e da Idade Média, tanto do viés pagão quanto do cristão), de emulação (do Classicismo, do Renascimento até o Iluminismo) e de influência por força de genialidade e originalidade (do “Sturm und Drang”, bem como do Romantismo propriamente dito) foram se consubstanciando. Logo, dessa massa mista de fundamentos distintos, muito do que ficou para a escrita literária foi uma série de costumes, de hábitos. Assim, saindo do conceito de gênero, que leva em conta essa formalidade fechada e cabível a épocas específicas, e convocando o conceito de estilo, o qual diz respeito a traço, à maneira de fazer conforme fazia um gênero, o épico é pertinente a qualquer época, assim como o lírico – visto que a poesia assim tratada nos dias atuais não converge exatamente para a poesia, por exemplo, medieval tomada como lírica. Retomando Lukács (2000) outra proposição deste filósofo é a de que não é mais possível a epopeia em verso. A partir dessa proposição, sobrelevamos nossa ressalva, pois o teórico ao fazer essa afirmação se refere à inexistência de condições sócio-culturais para a criação épica na atualidade, inclusive no sentido estilístico, e, por isso, híbrido. 139 Asseveramos que, não a epopeia necessariamente – sobretudo, a epopeia como, por que e para que foi aos antigos –, mas o estilo épico, quer dizer, poemas em estilo épico são possíveis, pois, justamente um desses mundos (assinalados anteriormente), tornados conhecidos por uma voz lírica com traços épicos, é o que almejamos apresentar neste artigo. Antes, porém, devemos dizer que Lukács comunga do pensamento de seu antecessor Hegel para quem a epopéia não é realizável quando as determinações gerais, que devem presidir aos atos humanos, em vez de fazer parte da totalidade formada pela vida sentimental e mental, assumiram um caráter prosaico, o de uma ordem personificada em instituições políticas, regulada por prescrições morais e jurídicas fixas que impõem ao homem obrigações e deveres, que ele há de cumprir sob a pressão de uma necessidade exterior, de modo algum imanente. Em presença de semelhante realidade, o homem transporta-se para um mundo da sua própria criação, no qual exprime as suas intuições, sentimentos e reflexões, para um mundo no qual busca não motivos de ação, mas uma percepção do seu próprio eu interior, um colóquio com o seu eu mais íntimo na sua expressão lírica. (HEGEL, 1997, p. 445). Encontramos na 3ª parte do Livro das ignorãças3, de Manoel de Barros, intitulado “mundo pequeno”, a representação de um mundo que, para o eu-lírico parece ser suficiente, o que nos impele a relacioná-lo com o mundo fechado das epopeias – jamais no nível sócio-histórico, mas nesse sentido mesmo, relacional, de plano interpretativo. Nesse caso, a diferença reside na presença do elemento lírico, no sentido da consciência do eu diante do mundo. É justamente o eu que nos fala sobre sua descrição e nos indica uma integração entre o ser, o cosmos e a divindade: O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. 3 Para os poemas ou excertos do Livro das ignorãças que serão apresentados neste artigo, usaremos a referencia: LI e o número da página. 140 No fundo do quintal há um menino e suas latas Maravilhosas. Seu olho exagera o azul. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os Besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, Ele me coisa Ele me rã Ele me arvore. De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os Ocasos. (LI, p. 75) Na tessitura do texto, nos componentes linguísticos, comprova-se a afirmação anterior. O pronome possessivo “nossa” (“nossa casa”) e o advérbio de lugar “aqui” (“aqui, se o horizonte”) demarcam a inscrição espacial, ao lado da descrição dos elementos que formam esse espaço-paisagem e que evidenciam a satisfação do eu com as coisas que o rodeiam – um menino e suas “latas maravilhosas” – e sua total integração ao ambiente quando se apropria de substantivos e lhes dá função de verbo para dizer que o mundo lhe pertence, e mais do que isso, compõe o seu ser: “ele me rã, ele me árvore’”. As formas verbais no presente indicam um estado, uma vivência do hoje, sem a preocupação com o futuro, conforme Staiger (1997, p. 108): “o homem épico vive exclusivamente a vida de cada dia” e, indicando uma atitude de humildade e contemplação, conforme Lukács: o sujeito da épica é sempre o homem empírico da vida, mas sua presunção criadora e subjugadora da vida transformase, na grande épica, em humildade, em contemplação, em admiração muda perante o sentido de clara fulgência que se tornou visível a ele, homem comum da existência cotidiana, de modo tão inesperadamente óbvio.(LUKÀCS, 2000, p.48). Também verificamos no mundo descrito, a ausência de códigos e regras institucionais caracterizadores do mundo prosaico pontuado por Hegel. 141 Um dos elementos caracterizadores do estilo épico é a presença de personagens míticas, cujo comportamento assemelha-se ao dos profetas ou poetas, por serem portadores de uma verdade filosófica. Além disso, são apresentados como sempre foram, são estereotipados, não passam por nenhuma transformação. Por isso, estão ao par de animais e, nesse sentido, a marginalidade não só se justifica, mas, nesse caso, afasta-se da tradição do estilo épico e se inscreve no gênero romanesco. No segundo poema da 3ª parte, são citados Bugre Felisdônio, Ignácio Raizama e Rogaciano: Conheço de palma os dementes de rio. Fui amigo do Bugre Felisdônio, de Ignácio Raizama E de Rogaciano. Todos catavam pregos na beira do rio para enfiar no Horizonte. Um dia encontrei Felisdônio comendo papel nas ruas de Corumbá. Me disse que as coisas que não existem são mais Bonitas. (LI, p. 77) No poema seguinte, Barros descreve um desses personagens a quem não dá nome. Nesse caso, talvez o nome não interesse, mas seu modo de viver e estar nesse mundo, caracterizando uma ilha, um isolamento diante do mapamúndi. Sem dúvida trata-se de indivíduos, mas, para o ethos local, representam um tipo ou a própria comunidade de habitantes do pantanal. Assim, representariam os heróis daquela coletividade, no sentido híbrido entre o épico e o romanesco. Outro modo de ver é o da coerência com o atributo do ser cujo gosto é o de desnomear as coisas. Para reforçar a tese de que o épico sobrevive na contemporaneidade, podemos caracterizar esses e outros personagens que aparecem nos poemas de Manoel de Barros como arquetípicos, no sentido de que não são criações individuais do autor, mas fazem parte do coletivo da humanidade, como representações sócio-históricas de sujeitos típicos. Nesse caso, o romanesco é deixado de lado a serviço do épico, visto que naquele gênero as personagens são dotadas de psicologia e, neste estilo, não. Caberia ao poeta, então, acessar este arquivo: 142 Retrato de um poste mal afincado ele era. Sendo um vaqueiro entrementes; peão de campo. No jeito comprido de estar em pé seu corpo fazia três curvas no ar. Usava um defeito de ave no lábio. Desde o vilarejo em que nasceu podia alcançar o Cheiro das árvores. Esse malfincado: sempre nos pareceu feito de restos. (...) Gostava de desnomear: para falar barranco dizia: lugar onde avestruz esbarra. Rede era vasilha de dormir. (...) (LI, p.79) Chama-nos a atenção nesse poema a descrição do personagem, menos focalizada no aspecto físico e mais nos atributos, especialmente no de se referir a outros seres, ignorando os sentidos convencionais e estabelecendo os que resultam da sua vivencia-imanência à natureza. Ressalte-se que esses atributos são apresentados como perenes, visto que não há qualquer marca de transformação nos personagens. O mesmo ocorre com o, agora nomeado, Sombra-boa, do poema seguinte: Caçador, nos barrancos, de rãs entardecidas, Sombra-boa entardece. (...) Sombra-boa tem hora que entra em pura decomposição lírica: ‘aromas de tomilhos dementam cigarras’. Conversava em guató, em Português, e em Pássaro. (...) Foi sempre um ente abençoado a garças. Nascera engrandecido de nadezas. (LI, p.81) O narrador, o contador de histórias também aparece como atributo de alguns personagens ou do próprio eu dos poemas – Estórias de Andaleço fascinavam os meninos – (LI, 143 p. 93). Esse aspecto nos remete à biografia de Homero que, embora não totalmente segura, aponta para o fato de ele ter sido um compilador de várias histórias que corriam de boca a boca na Grécia Antiga. Essa teria sido a origem de Ilíada. Se pensarmos nas duas classificações de narrador feitas por Walter Benjamin (1994, p.198), observamos nos poemas de Manoel de Barros, tanto o narrador que conhece muito bem o seu mundo por viver intensa e unicamente nele (o que diz respeito principalmente aos personagens mencionados) como o narrador que viajou por outros lugares e de lá trouxe suas experiências, como demonstram estes versos que serão novamente transcritos mais adiante obra neste artigo: (...) Me arrastei por beiradas de muros cariados desde Puerto Suarez, Chiquitos, Oruros e Santa Cruz De La Sierra, na Bolívia. Depois em Barranco, Tango Maria (onde conheci o poeta Cesar Vallejo), Orellana e Mocomonco - no Peru. (...) (LI, p.101) Outra marca do estilo épico é anulação do tempo, partindo do pressuposto de que ele (o épico) faz convergir as épocas; nele, o passado apresenta-se impassível, é rememorado e não recordado, como diz Staiger: O acontecimento conserva-se distante, oposto, também pelo fato de ser passado. O autor épico não se afunda no passado, recordando-o como o lírico, e sim rememoriza-o. E nessa memória fica conservado o afastamento temporal e espacial. O longínquo é trazido ao presente, para diante de nossos olhos, logo perante nós, como um mundo outro maravilhoso maior. (STAIGER, 1997, p. 79) No épico, como o passado está concluído, a linhagem dos personagens não é objeto de investigação. É o que ocorre em: “Sombra-Boa “foi sempre abençoado a garças” (LI, p.81), não há uma anterioridade determinante, ‘nascera’ assim e por isso se recobre de um sentido de ancestralidade. Nesse caso não há também uma relação de causa-consequência, 144 pelo menos não explicitamente. Ao lado desses personagens arquetípicos, sem distinção hierárquica, aparecem animais: formigas, besouros, rãs, borboletas, lesmas, capivaras, lagartos. São seres que habitam, ao par do humano, o mundo do pantanal, como em: Esses lagartos curimpãpãs têm índole tropical. Tornam-se no mês de agosto amortecidos e idiotas Ao ponto que se deixam passar por cima como pedras. (...) (LI, p. 83) O mundo pantaneiro, constituído desses seres, não tem uma origem descrita na obra do poeta.. São narrados sempre em relação ao passado, embora a percepção de sua existência se dê no presente do fazer poético. O mundo não foi feito em alfabeto. Senão que Primeiro em água e luz. Depois árvore. Depois Lagartixas. Apareceu um homem na beira do rio. Apareceu uma ave na beira do rio. Apareceu a Concha. E o mar estava na concha. A pedra foi Descoberta por um índio. O índio fez fósforo da Pedra e inventou o fogo pra gente fazer bóia. Um Menino escutava o verme de uma planta, que era Pardo. Sonhava-se muito com pererecas e com Mulheres. As moscas davam flor em março. (...) (LI, p. 95) Esse mundo, por sua vez, é pleno, não há, em nenhum momento, o registro de desconforto, qualquer que seja, do ser sobre seu destino: O que jantava eram bundas de gafanhoto com mel. (LI, p.93). Vi outonos mantidos por cigarras. Vi lamas fascinando borboletas. E aquelas permanências nos relentos faziam-me Alcançar os deslimites do Ser. (LI, p. 101) Também a sensação de que o mundo é e acaba ali, reiterando a noção de mundo fechado sobre a qual já nos 145 referimos: “Estas águas não têm lado de lá. / Daqui só enxergo a fronteira do céu.” (LI, p. 33). O ser que habita esse mundo, sequer questiona seu destino: “estou irresponsável do meu rumo.”(LI, p.53). Outro aspecto que sobressai nesse recorte é o cruzamento com a história, com as lendas, configurando uma intertextualidade com fontes populares, mais precisamente com lendas contadas na própria região e registradas em livro. Sobre essa relação vale pensar a respeito do que Gerardo Mello Mourão disse: “o poema épico escrito em nossos dias pode e deve ser feito também de collages” (MOURÃO, 1997, p. 16-17). Isso se observa no poema VI em que o 4º e o 5º versos ganham uma nota de rodapé: Mulheres não tinham caminho de sair Era só concha.* Depois é que fizeram o vaso da mulher com uma Abertura de cinco centímetros mais ou menos. (E conforme o uso aumentava). Era só concha: está nas lendas em Nheengatu e Português, na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. (LI, p. 85) Todas essas marcas extraídas dos poemas de Manoel de Barros servem para reconhecermos neles a presença do épico e apologizarmos que esse estilo não pertence apenas ao passado, mas se reelabora contemporaneamente. Entretanto, convém salientar que são apenas traços do estilo épico, o lírico constitui material preponderante na arquitetura dos versos. Esse hibridismo fica evidente quando temos em poemas predominantemente narrativos, um eu que ora se refere a terceiros, ora a si mesmo e, em alguns textos, faz uso do expediente biográfico, denunciando a indubitável presença do autor. Essa autobiografia, entretanto, confunde-se com os seres ficcionalizados, por serem tão semelhantes devido ao fato de ocuparem o mesmo espaço e por compreenderem o mundo com similar reconhecimento do sentido da imanência. É o que observamos nestes excertos: Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, 146 Esse gosto esquisito. (...) (LI, p.87) De 1940 a 1946 vivi em lugares decadentes onde o Mato e a fome tomavam conta das casas, dos Seus loucos, de suas crianças e de seus bêbados. Ali me anonimei de árvore. Me arrastei por beiradas de muros cariados desde Puerto Suarez, Chiquitos, Oruros e Santa Cruz De La Sierra, na Bolívia. Depois em Barranco, Tango Maria (onde conheci o poeta Cesar Vallejo), Orellana e Mocomonco - no Peru. (...) (LI, p.101) Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do Chão, pessoas humilde, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de Estar entre pedras e lagartos.(...) Já publiquei 10 livros de poesia; ao publicá-los me Sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal onde sou abençoado a garças. (...) (LI, p. 103) Tais semelhanças entre o eu-biográfico, o eu-poético, personagens e animais, acaba por criar uma identidade, a do habitante do mundo pantaneiro com seu ethos particular. A identidade é tão fecunda que gera uma fusão, ser e espaço são “uma só carne”: “O chão deseja meu olho vazado pra fazer parte do/ cisco que se acumula debaixo das árvores” (LI, p. 99). Se observarmos o Livro das ignorãças por completo, assim como outras obras de Manoel de Barros, verificaremos que essa postura diante da vida e da natureza se repete e se corporifica no ritmo prosaico de seus textos, sua sintaxe narrativa (em que predominam as relações de coordenação de não as de subordinação) e seu léxico impregnado de neologismos criados, geralmente, da migração das palavras de uma classe a outra. Sobre essa recorrência, ao analisar a obra de Homero, Staiger disse: 147 Homero ascende da torrente da existência e conservase firme, imutável frente às coisas. Ele as vê de um único ponto de vista, de uma perspectiva determinada. A perspectiva situa-se na rítmica de seus versos e lhe assegura sua identidade, sua constância frente ao fluxo das aparências (STAIGER, 1997, p. 77). Do mesmo modo é possível reconhecer um estilo a Manoel de Barros ou uma dicção manoelina e dizer que há uma unidade em sua obra, se pensarmos que a sua perspectiva de composição é, no plano formal, predominantemente composta de versos irregulares, de ritmo prosaico. No plano do conteúdo, é nítida uma forte influência da corrente de vanguarda surrealista, uma valorização dos pequenos mundos, uma tentativa de deserarquizar a supremacia humana diante de outros seres, e a valorização da linguagem simples e espontânea do mundo pantaneiro, em face do purismo e do convencionalismo da variante padrão. Voltando à questão do épico, não poderíamos deixar de convocar para este estudo as proposições de Mikhail Bakhtin (1990). Se para Lukács (2000) a epopeia em versos é impossível, para Bakhtin, o poema que contenha o estilo épico se transforma em romance em verso, pois considera que o romance é o único gênero que ainda está em evolução, enquanto os outros já são conhecidos em seu aspecto acabado. Sobre a epopeia, em particular, ele diz não ser apenas um gênero criado há muito tempo, mas também um gênero envelhecido (BAKHTIN, 1990, p. 397). Para concordarmos com o teórico, talvez devêssemos pensar em gêneros puros, sem a hibridização a que nos referimos. Ao analisar os textos da antiga Grécia, Bakhtin formula a tese de que o aedo da epopeia antiga se situava a uma grande distância temporal dos seus personagens, e, isso se constituía numa das premissas da epopeia. Ora, em Manoel de Barros o que vemos não é o poeta num tempo diferente do dos personagens. O tempo e o espaço são simultâneos e isolados do restante da civilização urbana e tecnologizada. Talvez pudéssemos dizer que se trata de um passado que ainda vive no presente, em determinados espaços específicos, como é o caso do pantanal, da vivência em fazendas e sítios pantaneiros. Nesse sentido a memória tem papel 148 fundamental como fundamental é o apontamento de Souza: “O poeta ocupado da sua memória e do que consegue perceber na memória do mundo, tem vocação épica. Contudo, hoje em dia, esta vocação tem nascedouro no isolamento, na reclusão”. (SOUZA, 2007, p. 38). Se essa for a nossa concepção de espaço-tempo em Manoel de Barros, concordaremos que O mundo épico está construído numa zona de representação longínqua, absoluta, fora da esfera do possível contato com o presente em devir, que é inacabado e por isso mesmo sujeito à reinterpretação e à reavaliação. (BAKHTIN, 1990, p. 409). Nesse sentido devemos assinalar uma convergência entre os pensamentos de Bakhtin e Lukács, que consideram determinantes as forças sócio-ideológicas na constituição dos gêneros. Talvez o problema de Bakhtin seja o de não admitir que também o épico possa sofrer adaptações e que algumas prerrogativas do mundo antigo, tal como as concebe Lukács, ainda possam existir, como acabamos de demonstrar na poesia de Manoel de Barros. Cabe ainda asseverar que esses teóricos ocuparam-se em definir a questão dos gêneros. Valendo-nos de seus construtos filosóficos, chamamos a atenção para o atual caráter hibrido dos gêneros. No caso destes poemas estudados não se pensou no épico como um gênero, mas como um estilo. Por fim, diante das evidências encontradas no conjunto de poemas que serviu a este recorte, torna-se possível afirmar que o estilo épico hibridizado (com o lírico) está presente nos poemas de Manoel de Barros pela presença de expressões próprias às narrativas sobre o passado (“de primeiro as coisas… fui amigo do… venho de…”); pela circunscrição de um mundo (mesmo isolado e coexistindo com todo o aparato tecnológico da contemporaneidade) fechado, coeso, em que há a sensação de que nada falta, de que está completo; pela presença de personagens com traços arquetípicos; pelo modo como os elementos que compõem o mundo pantaneiro são apresentados na poesia: eles simplesmente existem, são como são porque assim têm de ser. Essa apresentação do mundo e dos seres em Manoel de Barros configura uma maior dedicação do poeta ao que vê e contempla do que com os “domínios interiores”, no dizer de 149 Staiger. E essa direção da vista para fora, juntamente com o substrato advindo da memória, constitui-se na síntese da intuição épica de Manoel de Barros. Talvez essa síntese possa ser traduzida como o desejo de retorno ao tempo da imanência – transcendência, ao tempo do épico, sem a cisão da modernidade. Algo possível apenas no mundo fabuloso de Manoel de Barros, cuja prescrição - como exemplificam estes versos: “para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber: a) que o esplendor da manhã não se abre com faca” ... (LI, p. 9) - é o exercício do desaprender. Referências BAKHTIN, M. Questões de Literatura e de Estética. A teoria do romance. 2ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1990. BARROS, M. de. Livro das Ignorãças. 10ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. BENJAMIN, W. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura / Walter Benjamin. Trad. Sergio Paulo Rouanet. 7ª Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. P. 197 a 221. (Obras Escolhidas; V.1) HEGEL, G. W. F. Curso de estética - O Sistema das artes. Trad. Álvaro Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 1997. LUKÁCS, G. A teoria do romance - um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas cidades; Ed.34, 2000. MOURÃO, G. M. Invenção do mar. São Paulo: Record, 1997. SOUZA, J. B. de. A poesia épica de Gerardo Melo Mourão. Tese de doutoramento apresentada à Universidade Federal de Goiás, em 2007. STAIGER, E. Conceitos fundamentais da poética. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. Recebido em 30/11/2009 Aceito em 15/12/2009 150 O CÃO E O HOMEM NO ROMANCE Los perros hambrientos DE CIRO ALEGRIA Rhina Landos Martínez André1 Patrícia Oliveira Lacerda2 Resumo: Este trabalho analisa a obra Los perros hambrientos - do escritor peruano Ciro Alegría Bazán, publicada no ano de 1939, em Santiago do Chile – evidenciando os processos de inversão de valores e comportamentos que se realizam entre os protagonistas, homens e cães – zoomorfismo e antropomorfismo – ocasionados pelas forças antagônicas, enfrentamentos e jogos de poder. O cão é o protagonista que o autor personifica para metaforizar a relação com o homem em seus sentimentos mais nobres e puros como a sensibilidade, a dor, a alegria, a solidariedade, a fidelidade, o amor, como uma maneira de preencher o vazio que o ser humano não consegue com seus pares. Na narrativa o homem se desumaniza e, portanto, se bestializa, enquanto o cão se humaniza. Lançar um olhar sobre este processo de zoomorfização e antropomorfização é o objetivo principal deste trabalho. Palavras-chave: Literatura, Ciro Alegría, indigenismo/regionalismo. THE DOG AND THE HUMAN IN Los perros hambrientos BY PERUVIAN WRITER CIRO ALEGRÍA BAZÁN Abstract: This paper analyzes the book “The Hungry Dogs” by Peruvian writer Ciro Alegría Bazán published in 1939, in Santiago do Chile, showing the process of inversion of values and behaviors which takes place between the protagonists, men and dogs – zoomorphism and anthropomorfism – caused by antagonistic forces, fighting and power games. The dog is the protagonist which embodies the metaphorical relation between the man in his noblest and pure sentiments 1 Professora Doutora do Programa de Mestrado em Estudos de Linguagem (MeEL) da UFMT. [email protected] 2 Mestre em Estudos de Linguagem (MeEL) pela UFMT e Professora da Universidade Federal de Goiás POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 20 P. 151-173 2009 issn 0104-687x such as sensitivity, pain, joy and solidarity, fidelity as way to fill the void left by the human being. In the narrative, the man brutalizes himself, while the dog is humanized. The goal of this work is to take look at the process of the zoomorphism and anthropomorphism. Keywords: Literature, Ciro Alegría, indigenism/regionalism. Introdução Los perros hambrientos é uma expressiva obra do escritor peruano contemporâneo Ciro Alegria (1909 – 1967) que retrata parte da história da condição de subalternidade vivida pela população indígena peruana em meados do século XX, descrevendo o tradicional e secular relacionamento entre homens e cães e mostrando de que forma a seca, a fome e as relações de poder provocam alterações nessa convivência. Esta obra de Ciro Alegría é a expressão artística mais representativa da narrativa regionalista e indigenista da produção latinoamericana. Na opinião da crítica esta obra, além de ter sido traduzida em dezenove idiomas, é a que melhor caracteriza o estilo do autor considerado um dos mais importantes escritores peruanos do século XX. Trata-se de um romance peculiar, pois suas personagens principais são cães confundindo-se com humanos, agindo no enredo como um espelho da figura indígena; eles demonstram companheirismo e fidelidade aos seus donos, acompanhando-os em todas as dificuldades que enfrentam em razão da perda de suas terras para os grandes latifundiários e em virtude da forte seca que assola a região, onde a natureza parecera se converter em inimiga fazendo parte dos jogos de poder que enlaçam a tríade homem, cão e natureza. A fascinação que produz a terra americana nos escritores ao contato com os diversos elementos – pampa, selva virgem, rios misteriosos e caudalosos, desertos intermináveis – atrai profundamente, segundo anota Giuseppe Bellini (1990) na Historia da Literatura Hispanoamericana. A região americana, intensa em sua espiritualidade, assim como em sua desmesurada violência, dominada por paixões primitivas despontará orgulhosa como protagonista principal desta produção. 152 Paralela a esta narrativa onde a região americana em toda sua dimensão é o tema central, uma outra corrente assume uma orientação de protesto sociopolítico em que o protagonismo surgirá do tema do indígena, que será visto e teorizado de uma maneira muito mais complexa – indigenismo – dentro de uma série de novas relações surgidas no seio da realidade latinoamericana. O tema do índio, do cacique, do ditador, do povo aparecerá dentro dessa corrente estética e cobrirá um período de uns 50 anos, aproximadamente, ao ponto de se unirem a Região e o indígena como protagonistas únicos do espaço americano. Pelo fato de envolver a realidade americana e junto com esta, a terra, o indígena e seus seculares problemas, arrefecidos pelas relações de poder, o regionalismo e o indigenismo, como correntes estéticas, estão longe de ser extintas e ser consideradas ultrapassadas, pois se configuram em estruturas menos tradicionais e com problemas mais modernos. Seus traços literários surgiram por volta de 1920, e encontram-se presentes ainda na atualidade. Segundo Rama, Na América Latina o regionalismo veio para ficar, e ainda é possível percebê-lo nos jovens narradores. Isso pode ser comprovado se formos capazes de conceber o regionalismo como uma força criadora que se manifesta ao compasso do processo cultural que se constrói incessantemente na região e não como a fórmula estética restrita produzida nos anos de 1920 e 1930, que naquele momento se deu de acordo com os níveis culturais dos quais se dispunha. (RAMA, apud GUARDINI et al. 2001, p. 137) Essas correntes estéticas mostram a relação do homem latinoamericano e sua vinculação com a natureza. Configuram-se de diversas formas a convivência humana com animais de estimação e sua vida corriqueira; explana-se o comportamento dos bichos e a relação de solidariedade com seus donos, bem como o enfrentamento do homem com a mesma natureza para sua própria sobrevivência. Ou seja, representam-se literariamente o indígena, seu entorno e seus problemas. Embora a crítica se detenha em enfocar a produção da região andina, pode-se assegurar que no resto dos países da América Latina há uma extensa produção e 153 de qualidade inquestionável; bastaria citar aquela surgida após a Revolução Mexicana que disseminou a temática por todo o âmbito latinoamericano e não exclusivamente nos países andinos. Nelas se descreve o marco geográfico rural em que se desenvolve a vida dos grupos e tipos raciais marginalizados e explorados pelo colonizador – àqueles que habitam nas regiões mais desoladas, seja na selva, na serra ou na costa – permitindo uma visão panorâmica dos aspectos mais diversos do mundo indígena como a miséria e pobreza contrastando com a riqueza do colonizador estrangeiro. Na narrativa regionalista /indigenista o subalterno estará sempre presente. No extenso espaço da região latinoamericana o Peru é um dos países onde habita uma grande massa indígena que atualmente encontra-se marginalizada e esquecida. Essa população se refugia em regiões inóspitas fugindo da violência urbana, onde se mantêm as velhas tradições sobrevivendo em contato direto com a natureza. Na obra de Alegria constatamos que tanto na vida, como na obra, ao fim de cada dia, semana, mês ou ano a monotonia envolve o tempo, muitas vezes esperando a seca terminar ou que a chuva, mesmo que seja em pequenas migalhas, permita a multiplicação da semente. Dessa forma, tanto os homens quanto os animais sofrem e seguem construindo sua história ou sujeitando-se a ela. Nessa vertente a obra Los perros hambrientos suscita admiração e perplexidade por causa do aspecto antropomórfico que os cães apresentam ao longo da narrativa, em contraste à desumanização imputada ao homem pelo comportamento zoomórfico. Tentar entender como e por que ocorre o processo de inversão das qualidades próprias dos homens e dos animais e analisar a íntima relação entre homem, animal e natureza, são os desafios deste trabalho. Zoomorfização do homem e antropomorfização do cão A origem do termo antropomorfismo vem de duas palavras gregas: anthropos (homem) e morphe (forma). Com 154 o passar do tempo, o termo foi ampliado por semelhança também com o comportamento do homem, não só na forma, mas na “tendência para interpretar todo o tipo de espécie e de realidade em termos de comportamento humano ou por semelhança ou analogia com esse comportamento”, segundo Abbagnano (1982, p. 64). Da mesma maneira, a palavra zoomorfismo significa “animal – forma”, porém, é um fenômeno que pode ser abordado sob diversos olhares: tendência de ver características animais nos humanos; tomar forma de animais – como a persistência na iconografia cristã e nos ícones de povos antigos–; ou representação alegórica de algum rito de sagração real da pré-história e, ainda, como animalização do homem no sentido de que o ser humano possa ser colocado em condições ínfimas de subsistência, embrutecendo-o, bestializando-o, e assim, ser equiparado ao animal. Na cultura popular, o cão adquire significados como “cão – demônio”, ou representa a generosidade do “melhor amigo do homem”. No imaginário coletivo, o cão representa o sincretismo entre o mal e o bem. Desde essa perspectiva, na obra Los perros hambrientos, o autor metaforiza o comportamento canino nos sentimentos mais nobres e puros como a solidariedade na dor e na felicidade, até mesmo na maneira de nos comportarmos e lidarmos com a morte. Keith Thomas, em seu livro O homem e o mundo natural (1996), registra que, séculos atrás, as relações entre animais domésticos e o homem eram mais fortes e aqueles mais próximos aos donos do que hoje. Os seres humanos viviam de tal forma familiarizados com os animais que os bichos praticamente, “faziam parte da família” e, “vivendo em tal proximidade com os homens, esses animais eram muitas vezes considerados como indivíduos”, (Thomas, 1996, p. 114), pois da mesma maneira, os cães se familiarizavam aos homens ajudando-os nas lavouras e no pastoreio, embora os rebanhos fossem menores, o que facilitava o próprio reconhecimento de cada animal pelo dono. Esse binômio homem–animal responde às tradições culturais antigas, tal como registra o autor, e explica que isto é uma forma de expressar a simbiose homem-natureza. Thomas também registra que “assim como os homens tratavam 155 com carinho os animais de estimação por serem projeções deles mesmos, também preservavam as árvores domésticas, por representarem indivíduos, famílias...”, (THOMAS 1996, p. 266), numa clara exposição da aproximação e do respeito que o homem tem pela natureza. Um fato não menos interessante é o de que o cão é um animal que foi trazido a América pelos europeus durante a colonização, não sendo, portanto, americano e nem pertencente à cultura indígena. A escolha específica do autor pelo cão pode, de certa maneira, ser explicada pela simbologia que esse animal carrega consigo nas diversas civilizações, ao que Chevalier (1992), tece o seguinte comentário: Não há, sem dúvida, mitologia alguma que não tenha associado o cão à morte, aos infernos, ao mundo subterrâneo, aos impérios invisíveis regidos pelas divindades ctonianas ou selênicas. [...] A primeira função mítica do cão, universalmente atestada, é a de guia do homem na noite da morte, após ter sido seu companheiro no dia da vida (CHEVALIER: 1992, 176) (Grifo nosso). Mais ainda, segundo Cirlot, o cão é emblema de fidelidade: Sentido com o qual aparece muito freqüentemente sob os pés de figuras de damas esculpidas nos sepulcros medievais [...] Também tem no simbolismo cristão, outra atribuição derivada do serviço do cão pastor – e é a de guardião e guia do rebanho - sendo por isso alegoria às vezes do sacerdote. Mais profundamente, e não obstante em relação com as passagens anteriores como abutre, o cão é acompanhante do morto em sua “viagem noturna pelo mar”, associado aos símbolos maternos e de sentido similar (CIRLOT, 1984, p. 39) (Grifo nosso). No Dicionário Oxford de Literatura Clássica, Harvey (1987) afirma que os cães foram “... criados pelos gregos para a caça, para guardar casas e rebanhos e para fazerlhes companhia”, e daí a relação de amizade e solidariedade entre o homem e este animal demonstrada nas inúmeras obras da antiguidade: 156 Os cães estão presentes na mitologia e folclore dos primeiros povos - Cavall, o «cão do rei Artur», e Hodain, da história de Tristão e Isolda. Maera foi outro cão da mitologia grega, que, através do seu uivo prolongado, conduziu Erigone ao lugar em que o seu pai, Icarius, tinha sido assassinado. Outra história da fidelidade canina é a do cão dos Seven Sleepers, que acompanhou os seus donos ao local em que estavam aprisionados, mantendo-se de guarda, a seu lado, durante 300 anos, sem se mexer, comer, beber ou dormir (HARVEY, 1987)3 No folclore, os cães têm sido considerados como detentores de conhecimentos misteriosos relacionados a assuntos espirituais. Foram também representados como monstros terríveis, como o Cérbero de várias cabeças que guardava a entrada do Hades. Enfim, muitas obras e autores trazem como personagens outros animais, seja para metaforizar as forças de poder, a violência, a sensibilidade humana ou o comportamento bruto dos homens, ao ponto de adquirirem comportamentos primários, fazendo aflorar seus instintos selvagens, – mesmo porque, às vezes, a própria natureza se transforma em personagem opressora. Na obra alegriana o narrador compara as ações e o comportamento dos cães a dos homens, humanizando uns e animalizando outros, colocando-os sob um mesmo prisma, encontrando semelhanças entre eles e igualando-os, como se nenhum fosse melhor que o outro. Os animais clamam pela dignidade do homem e os homens clamam por sua própria dignidade - “El animal ama quien le da de comer. Y sin duda, pasa lo mismo con ese animal superior que es el homem, aunque este acepte la ración en forma de equivalencias menos ostensibles. Por isso, o velho amor pelos donos”, anota o autor (Alegría, 1994, p.117). Se buscarmos no dicionário a conceituação do vocábulo animalizar, encontraremos seu significado como “tornar bruto, embrutecer-se, bestializar”, colocado no sentido negativo, fazendo a comparação ao animal, numa redução da racionalidade pelo instinto. Em contrapartida, ao ob3 Enciclopédia de Ciências da Natureza, disponível em www.universal.pt/tamaticos/ dicionarios, em 1º/10/2006, às 9:45. 157 servarmos o verbete humanizar seu significado tem a ver com “tornar humano, humanar, tornar benévolo, tratável, amansar (animais), fazer adquirir hábitos sociais polidos, civilizar” (FERREIRA, 2000, p.323). Observa-se, então, uma exposição clara da inversão de papéis entre homens e animais: a presença do antropomorfismo e do zoomorfismo em uma inversão de valores ou papéis. O autor consegue humanizar de tal forma o desempenho dos animais fazendo com que transcendam sua condição animalesca, chegando mesmo a se igualar ou transpor a fronteira que separa homens e cães. O processo de mudança de ambos vai modificando os comportamentos até aflorar nos homens seus instintos mais selvagens, remetendo-nos à Teoria do Determinismo de Hypolite Taine e o Evolucionismo de Darwin. No caso específico de Los perros hambrientos, os cães, como personagens, mesmo sendo animais, expressam verossimilhança e comunicam a “mais lídima verdade existencial”, segundo Cândido (2002), se constituindo em peça fundamental dentro da narrativa, pois não pensamos enredo dissociado de personagens: o enredo existe através das personagens; as personagens vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam (CÂNDIDO, 2002, p. 53-54). A atuação da personagem, seja humana ou animal, é que funda a verossimilhança do romance e é exatamente nesse ponto que as palavras deixam de constituir as personagens e o ambiente, e são essas mesmas personagens que “absorvem as palavras do texto e passam a constituí-las, tornando-se a fonte delas – exatamente como ocorre na realidade”. Assim sendo, “a personagem deve dar a impressão de que vive, de que é como um ser vivo” (Cândido, 2002, p. 64), tanto em sua materialização em palavras quanto em seu desempenho enquanto protagonista e/ou antagonista. Sobre a aptidão do escritor de criar e recriar personagens da vida real na ficção, o autor expõe: 158 .... os grandes autores, levando a ficção ficticiamente às suas últimas conseqüências, refazem o mistério do ser humano, através da apresentação de aspectos que produzem certa opalização e iridescência, e reconstituem, em certa medida, a opacidade da pessoa real. É precisamente o modo pelo qual o autor dirige o nosso “olhar”, através de aspectos selecionados de certas situações, da aparência física e do comportamento – sintomáticos de certos estados ou processos psíquicos – ou diretamente através de aspectos da intimidade das personagens – tudo isso de tal modo que também as zonas indeterminadas começam a “funcionar” – é precisamente através de todos esses e outros recursos que o autor torna a personagem até certo ponto de novo inesgotável e insondável (Cândido, 2002, p. 35-36). Na obra de Alegría os cães protagonizam a história. São eles que disputam a comida, a relação de afeto, a relação social e o poder, parecendo que também disputam o espaço de representação com o homem. O ambiente e o tempo que metaforiza a realidade do indígena é a natureza indômita. Um fato instigante é a forma que o autor usa para enunciar traços das relações de poder da sociedade peruana: a dominação dos latifundiários e o abuso de poder mediante a aproximação tensa do constante embate da vida e da morte causado pelas relações de antagonismo que envolvem o homem e o homem; o homem e a natureza; o homem, o cão e a natureza deixando à tona a oscilação dessas relações provocadas pelas mudanças do clima. Segundo Antônio Candido, uma das mais importantes funções da ficção é proporcionar um conhecimento mais completo e mais coerente do que o conhecimento fragmentário que temos dos seres. Esse mesmo recurso estético se evidencia na configuração das personagens na obra Los perros hambrientos. O autor imprime-lhe tal verossimilhança ao cão com o humano, enquanto personagem, que fica difícil encontrar a fronteira entre um e outro pela transformação do comportamento e sua sensibilidade. 159 A metáfora da zoomorfização e antropomorfização na obra Los perros hambrientos Ciro Alegría, em seu livro Los perros hambrientos relatanos a vida rural do contexto peruano do primeiro triênio do século XX a partir da história da família de Simón Robles, índio/mestiço, contador de histórias e peão, que trabalhava, vivia e criava ovelhas na fazenda Páucar, do fazendeiro Don Cipriano Ramírez. Simón e sua família – a esposa Juana e os filhos Vicenta, Timóteo e Antuca - viviam de acordo com os limites que lhes eram impostos. Seus cães eram conhecidos por toda a região por suas habilidades de cuidar, conduzir e proteger o rebanho de ovelhas. O autor apresenta os cães dividindo-os hierarquicamente, desde os primeiros da linhagem, no caso, Wanka e Zambo, pois deles descenderam os demais que foram se misturando, miscigenando-se, como o homem indígena daquelas cordilheiras, segundo conta Alegria (ALEGRÍA, 1994, p. 18). O cão Zambo foi chamado assim porque tinha os pelos escuros e a cadela Wanka, a matriarca, recebeu esse nome em homenagem a uma tribo inca, aludindo à pureza e à qualidade da raça. Ambos foram criados e amamentados pelas ovelhas. Os filhotes de Wanka e Zambo eram vendidos ou trocados por ovelhas e o rebanho foi crescendo de tal modo que Simón ficou com os cães Pellejo e Güeso para ajudar com a lida do rebanho. Um dos cães – Mañu - foi dado à Martina, filha mais velha de Simón casada com Mateo, também de origem indígena. Esse cão passou de simples mascote a chefe de família quando Mateo foi obrigado a sair para cumprir o serviço militar: “en casa donde no hay hombre el perro guarda”, assegura o autor (p. 34). O cachorro, inclusive, tinha que proteger e cuidar dos membros restantes, como se entendesse as conseqüências da ausência de seu dono e assumisse a responsabilidade de zelar pela casa e pela família: Mañu tomó, por eso una especial importancia. Él mismo se daba cuenta, aunque en forma imprecisa, de que ya no desempeñaba el mismo papel de antes. No era solamente el vigilante de la noche. El husmeador de sombras. [...] sintiéndose guardador de la casa y sus moradores 160 cobró un gran orgullo. Gruñía y mostraba los afilados colmillos a la menor ocasión y tenía siempre la mirada y los oídos alertas. Erguido sobre una loma o un pedró, era un incansable vigía de la zona. Pero [...] extrañaba también al Mateo [...] (Alegría, 1994, p. 34). Güeso foi raptado pelos bandoleiros Julián e Blás Celedonio, ladrões de gado, quando estava pastoreando com Antuca e Vicenta. O narrador descreve, com um estilo evidentemente dramático, a emoção do impacto da intervenção impetuosa destes personagens. Duas silhuetas negras surgiram desenrolando as carabinas e, com uma rápida destreza enroscaram violentamente a corda no pescoço do animal. Como duas bestas exacerbadas os bandoleiros deram chicotadas ao animal para que os acompanhasse. Güeso, rendido, entregado a una dolorosa y sangrante renuncia, con la espiración corta, el cuerpo ardoroso y la cabeza en llamas, comenzó a caminar. Un hilo de sangre tibia le resbalaba por una pierna. (Alegría, 1978, p. 49) O autor também expõe a dor e a resistência do cão ao ser levado a casa pelos bandidos, reagindo como um ser humano à violência do seqüestro: Güeso comió acuciado por el hambre, pero con el pecho lleno todavía de odio. Muy en sus adentros, había decidido odiar. Más bien dicho, el odio le había llenado el pecho, cárdeno y cálido, como la sangre de su herida (Alegría, 1978, p. 51). O sentimento de nostalgia que acolhe o ser humano frente a distancia que o separa de sua família e mais, quando a separação tem sido forçada, é o mesmo sentimento de dor e nostalgia que aflora aos borbotões no animal violentamente seqüestrado, ao se lembrar de seus antigos donos. A presença do narrador se manifesta na emoção e na ironia velada para contrapor as situações: Güeso, solitario junto al horcón, reclinó la cabeza entre las patas, presa de una gran congoja al recordar el redil y toda su anterior existencia. Wanka y los demás compañeros estarían durmiendo sobre la paja tibia, entre los vellones suaves, o quizá ladrando a las bestias dañinas. 161 A su lado sonaría el lento rumiar de las ovejas y, al día siguiente, la vida tornaría a amanecer como siempre, plácida y luminosa. Pero para él, ya nada de eso habría tal vez. (ALEGRÍA, 1994, p. 500) O sentimento de afeto pela família de Robles faz surgir em Güeso o desejo de vingança ao descobrir que pode romper a corda que o ata ao tronco e fugir sem ser visto, aproveitando a escuridão da noite e o sono dos bandoleiros. Estava seguro de que não se perderia ao retomar o caminho de volta. Continuando com sua narrativa dramatizada, o autor sublinha na exasperação mediante o uso de discurso indireto e direto para aludir ao desespero que acossa ao animal. Com uma linguagem coloquial cheia de tensão e suspense, a narrativa descreve o momento de fúria que arrebata o cachorro ao roer o laço de coro que o amarra: Sus colmillos se introducían eficazmente. […] Cedió una hebra al fin, y lleno de esperanza continuó royendo, royendo, con el cuerpo azotado por el viento y los ojos ahitos de sombra […] Roía silenciosamente, pero no tanto como para no producir un pequeño rumor. Uno de los hombres se revolvió en su lecho. ¿Y si despertara y descubriera? Güeso siguió royendo... Otra de las hebras cedió. Quedaba tan solo una… cuando he allí que, de súbito uno de los hombres gritó: -Ey, quel perro masca el lazo… (ALEGRÍA, 1994, p. 51) Grande conhecedor do idioma e para uma revitalização da fala popular misturando discursos da fala camponesa, de coloquialismos e a voz mesma do narrador, o autor põe em destaque o distanciamento entre o narrador e os distintos personagens, para fazer fluir a história potencializando a verossimilhança. Desse modo sabemos que Güeso perdeu as esperanças de se reencontrar com seus antigos donos, e com o passar do tempo, acostumou-se com a nova vida, de cão pastor converteu-se em cão bandoleiro – colaborava com os roubos de gado, auxiliava no tocar do rebanho a outras regiões para que pudessem ser vendidos. Pronto se acostumou aos tiroteios: “Escuchó innumerables tiros y vio caer a muchos hombres para no levantarse más” (P. 61). Participava de fugas e embates com a polícia. Assim, conheceu outros bandidos e a Elisa, a bela chinesinha 162 do povoado de Sarún, namorada de Julián, estreitando a amizade com seus atuais donos, ao ponto de salvar a vida de Julián várias vezes do alferes, nas lutas e perseguições travadas entre policiais e bandidos. A ênfase do autor em descrever a psicologia peculiar dos cachorros é freqüente no decorrer da narrativa. Como, por exemplo, quando brotou em Güeso um sentimento parecido ao que absorve o homem em momentos de crise de consciência, no instante em que nas andanças que fazia com Blás, viu o antigo dono. Chegou a ‘pensar’ na volta, porém, deixa passar a oportunidade de regressar ao seu antigo lar, por medo de ser rejeitado: Cierta vez, Güeso avistó su manada a lo lejos. Ahí estaba Antuca, los perros, las ovejas, todo lo que en otro tiempo constituyó su vida y luego, durante muchas horas, le causara una inmensa nostalgia. Detúvose indeciso, mirando el lento trajín del rebaño. ¿Iría hacia él? ¿Seguiría al Julián? [...] Y lentamente, entregándose al incitante reclamo de la violencia, tomó el rumbo del Julián. De este modo decidió su destino. (ALEGRIA, 1994, p. 57-58) O autor nos distancia um pouco do foco da situação para lembrar a própria história de Julián, contada por ele mesmo e suas motivações de ter escolhido ‘os caminhos proibidos’ e ser perseguido da justiça. Ele, Julián, e todos os seus atos de brutalidade, com a vida sempre correndo risco de morte, são conseqüência das circunstâncias que como cholo mestizo lhe aconteceram com seu antigo patrão. Aquele exigia muito trabalho e da terra pouco ou nada brotava. Um dia o patrão lhe lançou a frase: “Cholo, ladrón” e ele, o Julián, “sacó entonces el puñal y lo clavó” (p. 58). A partir desse momento seu embrutecimento se manifesta de maneira violenta. Ele não era ladrão, todavia. “Algunas veces se batió a cuchillo y corrió sangre ajena por su brazo, pero ladrón no era” (p. 58). Por esse fato estava sendo procurado pela justiça e é por isso que afloram sempre seus instintos primários e se zoomorfiza nas contendas com a policia ou quando rouba o gado para viver. 163 Alegría alude a este tipo de situações que são parte do cotidiano da vida na floresta, ou na selva peruana. Os homens se bestializam para conseguir alguma comida quando a seca desaba sobre os campos, ou quando os grandes latifundiários mandam perseguir os que roubam suas propriedades e a polícia usa da força bruta. Por exemplo, um ataque de vários dias por parte da polícia para encontrar Blas e Julián, os bandoleiros citados, que ficaram presos em uma gruta sem mantimento ou água. O alferes Chumpi, líder da diligência, manda envenenar os mamões que maduravam nos pés – único alimento próximo ao local onde os “fora da lei” estavam escondidos - para matar todo o bando de uma só vez. Güeso morre em meio ao tiroteio entrando na frente da bala destinada a Julián, num ato heróico de sacrifício e amor pelo seu dono e amigo. Alegria registra este fato de tal forma que parece aludir a uma ferida feita à própria natureza, ao ser violentada a simbiose secular entre ela e os animais. A maneira de pensamentos verbalizados se entrecruza uma série de reflexões sobre as conseqüências deste fato para o homem e o resto da natureza. Como se a criatura reagisse à dor, a morte desse cão marca o período de uma grande seca, onde a comida começa a escassear e as relações afetivas e familiares entre seres humanos e animais também se deterioram. O autor, habilmente, associa metaforicamente estes fatos para destacar a brutalidade e a bestialidade dos homens da justiça que velam pela propriedade privada, em contraste à antropomorfização dos cães em sua solidariedade ao seu dono e protetor. É o dom que possui o escritor peruano, usando as palavras de Rama, porque de fato “ele é obtido originalmente pela inexplicável partilha de tantos traços psíquicos que compõem a admirável multiplicidade do ser humano” (RAMA apud AGUIAR el al. 2001, P. 109). Não chovia, e tanto os homens quanto os animais não tinham o suficiente para matar a fome, sendo cada dia, um tempo de mais castigos e fadigas pela seca implacável, imposta pela natureza, o que propiciou a invasão dos cães nos milharais de uma fazenda privada. Os peões, em desespero pelas mortes de parentes, amigos e animais ocasionadas pela falta de comida, pediram ajuda a Don Cipriano, o dono 164 da fazenda em que moravam outros mestiços, que a negou, mesmo tendo grande fartura. A fome era tamanha que os mestiços pediram ajuda à Virgem do Carmo para ver se do céu chegava o pão salvador. É o desejo de encontrar uma resposta divina aos momentos de dificuldade. Porém, a ajuda divina não se materializa. Sozinha e em desespero por ver os animais e seus filhos definhando sem ter o que comer, Martina saiu em busca de alimento e deixou seu filho Damián aos cuidados de Mañu. O menino morreu de fome e o cão ficou ao seu lado, protegendo-o e impedindo que os urubus devorassem o corpo inerte da criança, até que apareceu um peão da fazenda e o levou onde estava seu avô Simón para ser enterrado como um ser que merece um pouco de dignidade, mesmo que fosse tardia. O narrador alude ao desespero do cachorro marcando os movimentos da cena alternando com a focalização da morte pela fome. O sofrimento era tão forte que as pessoas e os cachorros perderam a fidelidade para com seus “amos”, os cães por causa da fome e os homens pela perda do trabalho, da dignidade e da honra. Wanka é acometida pela desesperação ao ponto de matar uma ovelha para saciar sua fome, pelo que é expulsa de casa a pauladas. Os cães Mañu e o índio Mashe morreram também pela mesma situação, infelizmente reforçando as perdas sofridas ao longo da narrativa, tanto de homens quanto de animais, ocasionadas pela fome. Em um ato de violência e de egoísmo o fazendeiro, Don Cipriano, também ordenou que os peões envenenassem o milharal para que os cães e os homens não o devorassem, evitando um prejuízo maior, porém, o cão Mulato morreu ao ingerir as espigas envenenadas, e seu descendente Pellejo, também morre contaminado por ter comido de sua carne morta. Don Cipriano, acuado pelos pedidos de ajuda e de alimentos por parte dos mestiços, matou três deles a bala como se fossem animais famintos, [...] El indio Ambrosio Tucto, que iba delante con el machete en alto, dispuesto a partir la cabeza del que se le opusiera o si la puerta del cerrado no abría. Mas, del extremo de un cuarto sobresaliente que cortaba el viento, irrumpió una descarga continua. El indio Ambro165 sio Tucto, que estaba enfrente, con el machete levantado, dispuesto a partir la cabeza de quien se opusiese, o de quebrar la puerta si no se abría, cayó de bruces. La sangre brotó de las piernas de otros y dos más rodaron por el suelo también. Los disparos seguían, por lo que los campesinos comprendieron que eran muchos los que hacían fuego [...] huyeron en todas direcciones (Alegría, 1994, p. 115) Mais vozes foram silenciadas e para sempre, servindo de exemplo. Deste modo fica claro como se bestializa e embrutece o grande fazendeiro pelo temor de perder suas propriedades. As autoridades representadas pelo alferes, o subprefeito e os gendarmes utilizam todo tipo de fórmulas de violência para acabar com os roubos, invasão de fazendas, pedidos de clemência pela população faminta, compra clandestina de gado, segundo as queixas dos fazendeiros, e a ordem direta é matar sem piedade. Há que se perseguir os ladrões com astúcia e artimanhas, envenenar os milharais, colocar armadilhas, matar os cachorros que se interpõem no caminho, até ‘limpar’ as fazendas dos inimigos invasores. Quer dizer, usar as armas e os cavalos com frieza. Quando mataram os irmãos Celedonios, tanto com balas quanto com mamões envenenados e o alferes observou sua inusitada tarefa exclamou: “Y después dirán que el alférez Chumpi no tiene cabeza… Jajaja…,ja…ja… Esto es lo que se llama cazar pumas…ja…ja…”(p. 92). Ao descobrir que Güeso ainda se movia, “un balazo le rompió la cabeza y apagó la lumbre de unos ojos que aun miraban llenos de tristeza el cuerpo cimbrado de Julián…” (p. 92). Depois da catástrofe de perdas humanas, animais e materiais, as chuvas chegaram e, juntamente, a felicidade regressou para os animais e o povo inteiro. Vale ressaltar que a prosperidade, a alegria, a comida abundante, a fraternidade entre os humanos e cães regressaram com a chuva. A vida, então, seguiu seu curso, como se tudo estivesse em perfeita sintonia e toda dor e miséria fossem parte do cotidiano. As pessoas ora esperam a fartura, ora esperam a miséria, ora esperam a morte e o círculo vicioso de fome e morte se seculariza para não acabar mais. 166 Palavras finais O espaço em que se desenvolve toda a trama da obra em tela é o campo, e nele habitam os protagonistas numa simbiose de natureza-cão-homem, onde a natureza exerce um papel fundamental para a continuidade da vida ou para a redução da espécie. O cenário determina as leis gerais da seleção natural que, apesar de aniquilar, mostra seu lado contraditório, entrelaçando as espécies em interações de dependência cada vez mais densas. É como se homem e natureza se fundissem em seus anseios mais profundos, nos desejos e sentimentos mais secretos, de tal forma que não conseguimos distinguir quem faz parte da paisagem natural ou humanizada, pois os elementos que compõem a cena formam um único quadro como se homem e cão pertencessem um ao outro e jamais fossem capazes de se separar. Alegría coloca a natureza em primeiro plano, deixando os personagens em segundo plano, sem perder sua importância, ao mostrar que a natureza também responde como um organismo vivo – antropomorfizada – à violência a que é submetida ao arrancar de suas entranhas a essência da terra. Para se defender, provoca sofrimentos e perdas ao homem e aos animais que estão além da compreensão humana, mas que é uma reação natural para indicar que todos estão sendo vilipendiados. A seca, que finda a germinação dos alimentos, impede o cultivo das plantas e leva ao despertar da violência instintiva no homem, talvez seja a vingança da natureza para mostrar que a ‘inteligência’ do homem, com suas modernas formas de organização social não é capaz de enfrentar as forças naturais. A natureza devolve ao homem o mal que ele lhe faz. A implacável seca se faz opressora sobre as personagens, vez que enfraquece física e mentalmente tanto homens quanto animais. Há que se lembrar da morte de uma ovelha causada pela cadela Wanka, a matriarca, que num gesto desesperado contra a morte iminente devido à fome, a ataca, mata e faz um banquete, juntamente com seus pares. Os restos que deveriam servir de alimento aos cães, foram os que os animais compartilharam e saciaram a fome da família de Jacinta: 167 “Allí – rojos y blancos- estaban los restos de una oveja: lanas, gualdrapas y huesos revueltos. Después de vacilar un poco, los coloco en el rebozo y luego se echó el atado a las espaldas […] Y pusieron las presas al fuego. Arrancaron las piltrafas de carne y royeron los huesos. (ALEGRÍA, 1994, p.121). A antropomorfização dos cães se evidencia de duas maneiras: por um lado, a seleção natural se inverte: o homem dotado de inteligência é incapaz de vencer a natureza e o animal para prover seu sustento. A maneira de castigo, por vilipendiar a natureza, alimenta-se dos restos que o ‘melhor amigo’ deprecia. Por outro lado, há que se observar outro fato que o autor nos coloca para entender a relação de afeto do animal para com seu dono: ao se aproximar da casa, a atitude dos cães, mesmo com uma mistura de arrependimento e temor ao castigo, é mais forte o desejo de entrar e ocupar seu lugar de guardião do lugar. Eles sabiam que tinham sido criados para cuidar, embora tenham conseguido a subsistência da família que se alimentou com os ossos, o que revela, mais uma vez, a troca de valores e papéis das personagens. Wanka acertou no palpite, pois, quando chega a casa com os outros cachorros que participaram do ocorrido, Simón, seu dono, tomou as medidas necessárias para expulsá-la, como se o exemplo da punição servisse para os demais: Llegaban con los hocicos rojos y los vientres llenos, colgantes, ahitos. Tomó un grueso bordón y se les fue encima. Gritaron ellos huyendo ante los garrotazos. Hombres y mujeres los corrían hasta muy lejos [...] Cuando cayó la noche, los perros trataron una vez más de volver, de ganar nuevamente al hombre […] y no porque pensaran en seguir comiéndose las ovejas. Pero velaba al hombre… (ALEGRÍA, 1994, p. 119-120). Outro importante fato, embora já nos tenhamos remetido, vale a pena retomar, é quando Martina – a mãe de Damián que saiu para procurar comida – o deixa solitário em casa, e o cão Mañu , faz justamente o inverso, mesmo 168 debilitado pela fraqueza ocasionada pela fome, quando o menino morre também de fome, protege o corpinho inerte dos vorazes cóndores, assumindo o papel de pai e mãe. O autor mistura atributos humanos e não humanos num contexto comum em que homem e animal se intercomunicam e interagem de forma satisfatória. Para o mundo moderno “o predomínio do homem sobre o mundo da natureza seria a meta inconteste do esforço humano” (THOMAS, 1996, p. 289), no entanto, para o indígena, a fraterna relação com a terra e o respeito às coisas naturais continuariam primordiais. La siembra el cultivo, la cosecha renuevan para los campesinos, cada año, la satisfacción de vivir. Son la razón de su existencia. Y a fuer de hombres rudos y sencillos, las huellas de sus pasos no se producen de otro modo que alineándose en surcos innumerables. ¿Qué más? Eso es todo. La vida consigue ser buena si es fecunda. (ALEGRÍA: 1994, p. 94). Enfim, na vida há ganhos e perdas, e metaforicamente, na obra, os cães se igualam ao homem até na hora da morte: Mashe, o índio, e Mañu o cachorro, morrem de fome e abandonados; Mashe sem direito a enterro e Mañu, sem rancor, mas com um questionamento nos olhos: “No he tratado siempre de servir?” (p.137) e Antuca permaneceu com ele em retribuição, da mesma forma que o cão havia feito com seu primo Damián. Os demais cães: Mulato morre de fome e Pellejo devora seus restos; Güeso finaliza sua vida, heroicamente, num tiroteio entre a polícia e os bandoleiros; Güenamigo, cão de Blás, morre no mesmo conflito de maneira menos nobre; Mauser explode com uma mina de dinamite; Tinto é atacado por um cão da casa grande; Trueno é morto por um puma da cordilheira; Manólia por sua esperteza, ensinou aos amigos o ataque ao milharal para se alimentarem com tenras espigas e por causa disso recebe um tiro do capataz; Rayo tenta entrar na plantação e é atingido por uma armadilha de pau e pedra colocada na porteira da entrada da roça, com a finalidade de coibir a passagem dos cães para o milharal; os outros se perdem na narrativa, como os homens no anonimato da vida: 169 Hombres y animales, en medio de la tristeza gris de los campos, vagaban apocados y cansinos. Parecían más enjutos, que los árboles, más miserables que las yerbas retorcidas, más pequeños que los guijarros calcinados. Solo sus ojos, frente a la neta negación del cielo esplendoroso, mostraban un dolor en el que latía una dramática grandeza. Tremaba en ellos la agonía. Eran los ojos de la vida que no quería morir (ALEGRÍA, 1994 p.110-111). São essas manifestações de violência, em suas mais diversas formas, sofridas pelo homem do campo, que levam o autor peruano a mostrar literariamente como este se transforma, - se zoomorfiza - para fazer brotar seus instintos selvagens. A zoomorfização do capataz, dos policiais, dos ladrões, enfim, dos representantes do governo, revela que o povo indígena peruano não tem saída. Está assediado pela natureza, pelos cães, pelos fazendeiros: é a metonímia da miséria social, a marginalização, o infortúnio, a desventura. O indígena foi reduzido à condição de animal (zoomorfizado) por sua mísera forma de vida, por suas atitudes humildes e pela falta de perspectiva quanto ao futuro. Em contraponto, os cães agem e se portam como homens, ocupando o lugar de membros da família, tal qual a cadela Baleia em Vidas secas de Graciliano Ramos. Finalmente podemos dizer que nesta obra singular Ciro Alegría transforma a relação sensível entre dono e cão em algo mais que isso, alude à harmonia simbiótica, ancestral, do animal com o homem indígena em que eles se confundem por sua solidariedade e afeto. A natureza é a mãe que os alimenta, e eles se irmanam quando a natureza se enfurece pelos danos ocasionados em suas entranhas. O autor metaforiza o comportamento dos homens em cães e os cães em homens para aludir metonimicamente à miséria, à exploração, à discriminação dos abandonados nas terras incultiváveis, onde isolados do mundo só encontram proteção entre os seus pares, os animais, confundidos entre eles. Poderia indicar que homem se animaliza ao estabelecer “classes sociais”, conforme as posses: “ - Patrón, ¿cómo que nuay nada? Sus mulas y caballos finos están 170 comiendo cebada. ¿no vale más quiun animal um cristiano? [...] peyor que perros tamos...Nosotros si que semos perros hambrientos... (Alegría, 1994, p. 147). Como os humanos, os cães também se transformam em malvados diante da fome e chegam a se odiar, a se atacar e a se devorar, e isto é significativo literariamente, porque Alegria configura uma casta de animais para aludir à bestialização do homem poderoso. No penúltimo capítulo o autor descreve a atitude do fazendeiro ao pedido dos famintos: Recojan los muertos y métanlos en ese cuarto. Habrá que enterrarlos en la noche. Y limpien esa sangre con trapos y agua... Y ahora, mis amigos – terminó dirigiéndose a su aguerrida gente – vamos nosotros a bebernos una copita… (ALEGRÍA, 1994, p.151) As palavras faltam para aludir à insensibilidade do dono da terra, o animal mata para saciar sua fome e a natureza reage a esta agressão. Hombres y animales, en medio de la de a tristeza gris de los campos vagaban apocados y cansinos. Parecían más enjutos que los árboles, más miserables que las yerbas retorcidas, más pequeños que los guijarros calcinados. Solo sus ojos [...] mostraban un dolor en que latía una dramática grandeza [...]. Eran los ojos de la vida que no quería morir (Alegría, 1994, p.111). Antropomorfização e zoomorfização são estados que remetem ao homem e ao cão. Os cães sofrem, no decorrer da narrativa, uma transformação especial, ao se imprimir neles um “sexto sentido” e este é humano. No homem, ao contrário, ao sofrer um processo de animalização, aflora um sexto sentido não de sobrevivência, se não de destruição, violentando tudo ao seu redor, incluindo os outros homens. É por isto que Osso, tem o pensamento conclusivo de que os homens, por vezes, são mais brutos e perversos que os próprios animais ditos irracionais “descubrió que el hombre era animal terco y duro” (Alegría, 1994, p. 48). 171 Referências ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofia. São Paulo: Edusp, 1982. AGUIAR, GUARDINI, VASCONCELOS, F, S. T. (Orgs). Angel Rama. Literatura e cultura na América Latina. São Paulo: Edusp, 2001. ALEGRÍA, Ciro. Los perros hambrientos. Madrid: Alianza editorial, 1994. ________ B. Ciro. Os cães famintos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. BELLII, Giuseppe. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Madrid: Editorial Castalia, 1986. CANDIDO, Antonio et al. A personagem de ficção. 11 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. _________. Literatura e sociedade. 9 ed. rev. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. CIRLOT, J.E. Dicionário de símbolos. São Paulo: Ed. Moraes, 1984. CHEVALIER J. e GHEERBRANT, L. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: Edit. José Olympio, 1989. HARVEY. Enciclopédia de Ciências da Natureza. Disponível www. universal.pt/tamaticos/dicionarios. Acesso em 1º/10/2006. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1990. THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Recebido em 30/11/2009 Aceito em 14/12/2009 172 INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO PERIÓDICO POLIFONIA A revista POLIFONIA publica artigos originais na área de linguagens, em português, inglês, francês e espanhol. Uma vez publicada, cada articulista receberá três exemplares. Além da versão impressa, a Polifonia é também disponibilizada no site do MeEL/UFMT (http://www.ufmt.br/meel). Para o envio de artigos, devem ser obedecidas as seguintes instruções: 1. Os artigos devem ser enviados para o e-mail polifonia@ ufmt.br, digitado com o processador de texto MSWORD FOR WINDOWS, tamanho A4 (210 mm x 297mm), com título, sem o nome do(s) autor(es). 1.1. A identificação do autor deverá ser feita em um arquivo à parte, com as seguintes informações: • título do trabalho; • nome completo do(s) autor(es); • titulação acadêmica máxima, instituição onde trabalha(m), atividades exercidas • telefone, e-mail (indicar se o e-mail pode ser divulgado na revista) e endereço completo para correspondência; • apontar (caso necessário) a origem do trabalho, a vinculação a outros projetos, a obtenção de auxílio para a realização do projeto e quaisquer outros dados relativos à sua produção. 1.2. Formatação do texto: • título do trabalho: em português, antes do Resumo e das Palavras-chave e, em inglês, antes do Abstract e Keywords. Usar maiúsculas e negrito, fonte Times, 12, centralizado; • Texto: deverá ter de 12 a 20 laudas. Espaço 1,5. • Resumo: máximo de 08 linhas, seguido de 3 a 5 palavras-chave, ambos em português e inglês. • Títulos das seções e subseções: letra minúscula e negrito • Caso haja necessidade de destacar algum termo, no texto, fazê-lo em itálico. • Citações: com três linhas ou mais, deverão ser recuadas em 4 cm da margem esquerda. A margem da 1ª linha deve ser de 1,5 cm. Times New Roman, alinhamento justificado, espaço simples, fonte 11. Elas serão indicadas no corpo do texto por chamadas assim: (CHAUI, 2002, p. 57). Citação com até duas linhas: sem recuo, no próprio corpo do texto, entre aspas, seguida da indicação bibliográfica (CHAUI, 2002, p. 57). • Citações em outras línguas (opcional): caso o autor queira fazer a tradução, esta deverá ser colocada em rodapé, antecedida pela expressão Tradução do autor. • Rodapé: deve ser usado apenas para notas explicativas e não mais para referência bibliográfica, que deve ser feita no próprio texto. Ex: (ANDRADE, 1980, p. 7). • Referências bibliográficas: USAR SÓ A PALAvRA “REFERÊNCIAS”. Devem ser apresentadas nas Referências somente aquelas obras que foram efetivamente citadas no corpo do texto. Quando citados no corpo do texto, os títulos das obras devem ser colocados em itálico. As Referências devem ser colocadas em ordem alfabética ao final do texto, seguindo a NBR 6023. Transcrevemos dessas normas, abaixo, alguns casos de maior ocorrência: LIVRO GOMES, L.G.F.F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. (Coleção Antropologia e Política) ARTIGO EM PERIÓDICO GUIRRA, M.C.S. Da teoria à prática: o lugar da constituição do professor de Língua Portuguesa. Revista Panorâmica. Cuiabá, v. 06, p. 25-37, jan.jul. 2006. CAPÍTULO DE LIVRO SANTAELLA, L. A crítica das mídias na entrada do século 21. In: PRADO, J. L. A (Org.) Crítica das práticas midiáticas: da sociedade de massa às ciberculturas. São Paulo: Hacker Editores, 2002. p. 44-56. TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO BRAYNER, A R A; MEDEIROS, C.B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9...*, 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994, p.16-29. *NUMERAÇÃO DO EVENTO (SE HOUVER) DOCUMENTO COM AUTORIA DE ENTIDADE BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da DiretoriaGeral: 1984. Rio de Janeiro, 1985, 40p. ARTIGO E/OU MATÉRIA DE REVISTA, BOLETIM ETC EM MEIO ELETRÔNICO RIBEIRO, P.S.G. Adoção à brasileira: uma análise sóciojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 3, n.18, ago.1998. Disponível em: <http://www.datavenia.inf.br/frame.artig. html > Acesso em: 10 set. 1998. • São permitidas imagens, mas a impressão será feita em preto e branco. No caso de fotografias, deve-se anexar o nome do fotógrafo e autorização dele para publicação, além da autorização das pessoas fotografadas. • Após a aprovação do artigo para publicação, a Editoria irá comunicar e enviar ao autor a ‘Carta de Autorização para Publicação’, na qual ele ainda declare sua responsabilidade pelo conteúdo do respectivo texto.
Download