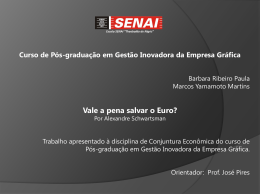Pensamento do Dia Economistas analisam a Economia, o Brasil e o mundo, mundo, na mídia diária 08 07 2010 ------------------------------------------------------------------Estadão Online – 07/07/2010 ‘A ideia do Brasil como futura potência ainda é especulação’, diz Krugman Em entrevista exclusiva no Brasil para o 'E&N', economista critica o conceito dos Brics e questiona papel das economias emergentes na recuperação mundial Nívea Terumi e João Caminoto, do Economia & Negócios SÃO PAULO - Um dos economistas mais respeitados do mundo, Paul Krugman, colunista do jornal The New York Times, comprou briga com os principais líderes europeus e colegas de profissão. Para o Prêmio Nobel de Economia de 2008, a recuperação da atividade mundial depende da concessão de mais estímulos pelos governos, num movimento contrário às diretrizes dos líderes da União Europeia e assunto ainda em discussão nos Estados Unidos. Expressões como "justiceiros invisíveis do mercado" e "fada da confiança" são algumas das que tem usado para atacar, de forma categórica, os defensores da austeridade fiscal abraçada por vários países europeus, como a Alemanha e o Reino Unido. Em entrevista exclusiva no Brasil para o site Economia & Negócios, Krugman alertou para o que considera um excesso de otimismo com a emergência do Brasil no cenário mundial: "A ideia do Brasil como uma futura superpotência econômica ainda é muito baseada na especulação sobre suas conquistas. Espero que um dia seja verdade, mas ainda não vejo isso acontecendo." Para ele, a teoria dos Brics - Brasil, Rússia, India e China - é um "conceito pobre" pois é errôneo colocar dentro de um mesmo grupo economias com realidades tão distintas. O colunista - cujo blog no Times é publicado com exclusividade no Brasil pelo E&N também questionou o papel creditado aos países emergentes na recuperação global. Krugman vê com pessimismo as chances de a China tomar a liderança do crescimento mundial, assim como não enxerga uma saída para todos os países do euro. "Não vejo a Europa entrando em colapso, vejo mais uma chance de ela perder alguns países periféricos, com saídas plausíveis, como da Grécia." A seguir, os principais trechos da entrevista. O senhor acredita que existe um otimismo exagerado com a economia brasileira e outros países emergentes? O conceito dos Brics ainda é válido? Sempre considerei o conceito dos Brics muito pobre, porque são economias muito díspares. Índia e China talvez possam pertencer a um mesmo grupo, por serem ainda economias com mão de obra muito barata; Rússia é um exportador de petróleo e o Brasil é um país de renda média baixa muito diferente dos outros. O Brasil é uma boa história, que na última década teve um desempenho melhor do que o esperado, conseguiu evitar uma crise severa, promoveu uma série de melhoras no poder de compra da base de sua população diante uma história de disparidade nas rendas, mas não é ainda uma história notável de crescimento. A ideia do Brasil como uma superpotência econômica futura é ainda muito baseada em especulação com suas conquistas recentes. Espero que um dia seja verdade, mas ainda não vejo isso acontecendo. Não vejo indicação hoje no crescimento do Brasil de que ele possa emergir como uma potência da mesma forma que a China. Qual o papel da China na recuperação do crescimento econômico mundial? A China é muito problemática, mesmo deixando de lado a questão da moeda, que tem impedido que sua demanda interna ajude o restante do mundo. Mesmo agora, ela não é uma economia tão grande, imaginamos que ela seja pela enorme quantidade de pessoas, mas do ponto de vista da taxa de câmbio - que é o que importa - ela ainda é do tamanho do Japão. Uma maneira que poderia fazer as economias emergentes liderarem a recuperação mundial seria se elas se preparassem para uma entrada massiva de capitais, com elevados déficits nas suas contas correntes. Mas esse não é um cenário real, uma vez que os governos desses países não permitirão que isso aconteça. Olho para o final do século 19, quando os pesados estímulos daquela época permitiram o surgimento de novas tecnologias e aceleraram a demanda. O problema é que o IPad não é grande o suficiente. É difícil prever como esse período de fraca demanda mundial chegará ao fim, e pode haver um longo caminho antes que isso aconteça. É correta a percepção de que a atual crise nos países da União Europeia seja mais uma crise do euro do que uma crise de dívida soberana? O euro tem sérios problemas, não é apenas uma crise de dívida. Casos como o da Espanha, que vinha tendo bons resultados nos últimos anos e agora está nessa situação, e mesmo a Grécia, que deve passar por uma fase de forte deflação após muitos anos de entrada massiva de capitais são situações muito difíceis de imaginar uma solução. Estáse diante de uma moeda única numa área que de certa forma nunca estabeleceu critérios para ter uma moeda única. Como a Europa deve lidar com a sua crise de dívida soberana, como evitar que o euro entre em colapso? É difícil ver uma saída para a Grécia sem uma reestruturação, e a questão principal para ela não é como irá reestruturar sua dívida, mas como ela vai resolver a questão do euro. Para o restante dos países, políticas não sincronizadas ajudariam muito; o programa de austeridade espanhol tem mais probabilidade de dar certo se toda a Alemanha não estiver também sob um programa de austeridade. Não vejo o euro entrando em colapso, vejo mais uma chance de a zona do euro perder alguns países periféricos, com saídas plausíveis como da Grécia. Ficaria muito surpreso se as economias centrais do euro não permanecessem com a moeda única. O que poderia ser feito para que o euro seja uma moeda mais viável? Uma política de meta de inflação mais frouxa, por exemplo, poderia ajudar. Se a zona do euro estabelecesse uma meta de 3% ou 4% seria bem mais fácil de se fazer ajustes nos países problemáticos do que com uma meta de 1% ou 2%, como é agora. A crise Grega está sendo comparada à crise Argentina em 2001. Isso significa que a Grécia deva deixar o euro? E em relação a outros países em situação semelhante? Há diversas semelhanças da Grécia com a Argentina. Eu diria que a Argentina se comportou de forma mais responsável, com um déficit substancialmente menor do que tem a Grécia. Mas em ambos os países você tem uma economia que recebeu volumes intensos de entrada de capital ao longo de vários anos e, quando esse capital secou, viuse com uma grande quantidade de obrigações em sua moeda. No caso da Argentina, ela estabeleceu uma paridade com o dólar e um novo sistema de câmbio. O aconteceu foi que a primeira ação foi enfrentar uma crise bancária, que forçou o governo a fechar os bancos. Não estou dizendo que a Grécia deva abandonar o euro, mas, se houver uma crise bancária, o governo será obrigado a decretar um feriado bancário e a questão que fica é por que se manter no euro. Os argumentos são muito fortes sobre como isso acaba. Qual a sua opinião sobre o acordo feito pelos líderes do G-20 para diminuírem seus déficits? Seria uma espécie de derrota à economia keynesiana? Sim. A promessa de reduzir os déficits não foi nada além do que já se planejava. No caso dos Estados Unidos, a meta não é diferente da que já era prevista diante de uma recuperação da economia. Não há dúvidas de que o tom geral desse acordo foi "ok, está na hora da austeridade", e isso é uma coisa muito chocante de se ver, diante de uma recuperação econômica mundial ainda muito distante. Todos sabem que sou furiosamente contra isso, principalmente porque essa virada para a ortodoxia na política econômica mundial ocorreu sem nenhuma evidência clara de que era necessária. Qual a disposição dos Estados Unidos de realizar acordos de livre-comércio? Atualmente, não há muita discussão sobre acordos comerciais. Dada a situação política do país, com o presidente Obama tendo de lutar até mesmo por questões triviais e óbvias que devem ser feitas, não há como desperdiçar capital político com acordos comerciais, como a Rodada Doha. Se eu fosse ele, faria o mesmo. Esse é um assunto que não está no topo da agenda da atual gestão ou mesmo da próxima. Há algum substituto para o dólar como principal moeda de reserva? Uma moeda de reserva de valor não é algo que possa ser estabelecido por uma decisão política. Os países não guardam dólares ou euros porque alguém tenha ordenado; eles o fazem porque essas moedas são aparentemente mais seguras e altamente líquidas e esse é o problema principal do SDR (moeda composta por uma cesta de moedas do Fundo Monetário Internacional). O que poderia substituir o dólar teria de ser algo comprovadamente melhor desse ponto de vista. A única alternativa possível seria o euro, e há dois ou três anos eu imaginava que ele alcançaria uma parcela maior das reservas mundiais em relação ao dólar, mas acho que o euro deu um grande passo atrás, com todos os problemas atuais. Há a possibilidade de um duplo mergulho na economia mundial com as medidas de austeridade tomadas na Europa? Acredito que seja ainda uma possibilidade, mas não a mais provável. Você não vê um PIB em queda. Acho que um problema maior é que fizemos um progresso muito frágil na diminuição do desemprego nos Estados Unidos. Então um mergulho duplo propriamente dito, acredito que não; recuperação do desemprego, provavelmente sim, e é isso que me preocupa. ------------------------------Folha de S.Paulo - 07/07/2010 Keynes e keynesianos Antonio Delfim Netto Os problemas fiscais dos EUA e da Eurolândia só podem ser resolvidos com a volta do crescimento. O fundamental é que este não se faça aprofundando-os ainda mais. Quando se recomenda que as medidas de estímulo temporárias que foram decisivas para paralisar o desastre sejam transformadas em permanentes, estamos diante de uma não solução. Para entender isso consideremos que no curto prazo a oferta global física de bens e serviços produzidos no país é praticamente constante. O seu uso depende da demanda global física. Esta, por sua vez, é constituída pela soma da demanda pública e da demanda privada interna e externa. Quando se reduz, por qualquer motivo, a demanda privada (crise de crédito, desastres naturais, ataque de pessimismo), a manutenção do nível de atividade depende de um aumento equivalente da demanda pública. Enquanto a demanda privada não se recupera, a demanda pública deve continuar. Isto não se faz sem graves prejuízos para o equilíbrio fiscal, para o nível de inovação e a produtividade do sistema produtivo, porque a demanda estimulada pelo gasto público em transferência não produz incentivos adequados para o aumento da produtividade do trabalho. O keynesianismo bastardo incorporado na síntese neoclássica dos livros-texto sugere que a retirada dos "estímulos" governamentais reduzirá necessariamente a demanda privada. Agravar-se-ia, portanto, a redução do nível do PIB e do emprego. Logo, não há solução para o problema. Mas será assim mesmo? A resposta se resume na "expectativa" que se formará no setor privado como resposta ao programa de restabelecimento do equilíbrio fiscal (condição necessária para o crescimento robusto no longo prazo). Keynes e Pigou (seu amigo e posterior vítima) intuíram em 1931 que, se o ajuste fosse feito de maneira segura e crível, o aumento da demanda privada (despertada pelas oportunidades vistas pelo "espírito animal" dos investidores) poderia suprir a deficiência da demanda pública. Teríamos a volta do crescimento juntamente com a solução do problema fiscal, o que é hoje empiricamente reconhecido. A reforma crível inclui: 1) um ajuste pelo lado das despesas (nada de aumento de impostos); 2) incentivos ao uso do trabalho; 3) medidas de flexibilização dos mercados; 4) estímulo à concorrência e 5) uma desvalorização cambial. A Alemanha acumula credibilidade e essas condições. Com a desvalorização do euro, seu programa levará, provavelmente, a um crescimento mais robusto. Será a melhor contribuição que pode dar à Eurolândia. ------------------------------Valor Econômico – 08/07/2010 Limites da LRF são hoje estímulos ao gasto Ribamar Oliveira Não perderá tempo quem tiver a curiosidade de ler a justificação para o aumento médio de 56% aos servidores do Poder Judiciário, que acompanha o projeto de lei 6.613/2009. Ela é assinada pelos presidentes dos tribunais superiores do país e pode ser encontrada no sítio da Câmara dos Deputados na internet. Nos últimos parágrafos da justificação, os presidentes escrevem que os gastos com pessoal ativo e inativo do Poder Judiciário estão bem abaixo do limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e que, portanto, a despesa decorrente do aumento proposto (impacto bruto de R$ 6,3 bilhões ao ano) "conforma-se dentro da margem de crescimento permitida". A LRF determina que os gastos com os servidores ativos e inativos do Poder Judiciário federal não poderão ultrapassar 6% da receita corrente líquida (RCL) da União, sendo que o limite prudencial é de 5,7% da RCL. Os presidentes dos tribunais superiores dizem, na justificação do projeto, que as despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Judiciário este ano estão estimadas em R$ 15,5 bilhões e que o limite legal previsto para 2011 (6% da RCL) equivale a R$ 31,9 bilhões e o prudencial a R$ 30,3 bilhões, como pode ser visto na tabela abaixo. Sendo assim, argumentam os presidentes, existe um espaço de R$ 16,4 bilhões para o aumento desses gastos ou de R$ 14,8 bilhões (adotando-se o critério prudencial). No texto da justificação, os presidentes dos tribunais superiores falam na existência de uma "margem de crescimento legal" das despesas com pessoal e encargos e de uma "margem de crescimento prudencial". Essas expressões significam, no primeiro caso, a diferença entre o que se gasta atualmente com o pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Judiciário e o valor do limite legal autorizado pela LRF e, no segundo caso, a diferença entre o que se gasta e o valor do limite prudencial. A argumentação utilizada pelos presidentes dos tribunais mostra que o limite para o gasto estabelecido pela LRF passou a ser considerado como um espaço a ser ocupado, ou seja, como uma autorização legal para o crescimento dessas despesas. Se esse argumento prevalecer, os demais poderes reivindicarão o mesmo tratamento e haverá uma explosão dos gastos com pessoal como nunca se viu até agora. De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, a receita corrente líquida da União ficou em R$ 437,2 bilhões em 2009. As despesas com pessoal e encargos sociais dos três poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) atingiram 34,2% da RCL. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que os gastos com pessoal e encargos sociais dos três poderes não podem ultrapassar 50% da RCL da União. Haveria, portanto, uma "margem de crescimento legal" dessas despesas de 15,8% da RCL (50% menos 34,2%). Ou seja, as despesas com pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas dos três poderes poderiam crescer algo como R$ 76,7 bilhões este ano (que é 15,8% da RCL da União em 2010, prevista em R$ 485,4 bilhões pela lei orçamentária). Obviamente, o argumento da "margem de crescimento legal" não é aceitável. O limite para cada poder foi definido, por ocasião da votação da LRF, como uma média daquilo que tinha sido executado em 1995, 1996 e 1997. Na época, esse critério foi contestado por alguns, que protestaram contra a estreiteza dos limites. Hoje, os limites estão evidentemente frouxos e não garantem mais qualquer controle sobre os gastos com pessoal e encargos sociais. A razão é que o legislador não imaginou o crescimento descomunal da receita que ocorreria nos anos seguintes. Para se ter uma ideia, a RCL da União em 2002, quando foi aprovada a LRF, era de R$ 148,2 bilhões. Em 2009, a RCL atingiu R$ 437,2 bilhões - um aumento nominal de 195% para uma inflação registrada no período de 79,25% (medida pelo IPCA). O aumento brutal da carga tributária acabou sendo repassado aos servidores dos três poderes, pois os limites para esses gastos estavam indexados ao crescimento da arrecadação. Vale a pena observar que as despesas do Judiciário com pessoal e encargos sociais em 2002 foram de R$ 9,2 bilhões. Em 2009, elas saltaram para R$ 26,5 bilhões, um crescimento nominal de 188% para uma inflação no período de 47,94%. Os limites para gastos com pessoal e encargos sociais dos três poderes, definidos pela LRF, foram transformados pelos servidores em alvo e, por isso, não servem mais como sustentáculo do equilíbrio fiscal. Os gestores públicos estão gastando muito, mas dando a impressão, para quem paga a conta, de que o gasto está sob controle, pois está previsto em lei. Ribamar Oliveira é repórter especial em Brasília e escreve às quintas-feiras ---------------------------------O Estado de S.Paulo - 08/07/2010 Fortuna garfada (1) Celso Ming Não tem cabimento o candidato do PSDB, José Serra, considerar radical o programa do PT por ter incluído em sua plataforma a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas. Antes de ser projeto do PT, foi projeto do PSDB. Esse imposto está previsto na Constituição de 1988 e seu primeiro projeto de implantação e regulamentação, aprovado no Senado em 1987 e rejeitado pela Câmara, é de autoria dos então senadores Fernando Henrique Cardoso e Roberto Campos. Não dá para dizer que sejam nomes identificados com a esquerda radical e irresponsável. Esse imposto tem de ser rejeitado não porque tenha sido proposto por meia dúzia de visionários sociais, mas porque é mal concebido e porque não funciona onde ainda existe. A proposta tem origem no fabianismo inglês do século 19, que pretendia um mecanismo quase automático de redistribuição de riquezas. Mas foi a França a primeira a instituí-lo, na década de 80. Por ser um imposto declaratório, a fortuna a ser taxada deve ser apontada pelo seu proprietário, como no Imposto de Renda. Cabe ao organismo arrecadador conferir depois a correção do valor declarado e seu recolhimento efetivo. Uma fortuna pode incluir glebas, imóveis, veículos, ações e participações societárias, antiguidades, obras de arte, joias, semoventes (rebanhos), coleções de arte e, também, os chamados intangíveis (valor teórico de uma marca). Se essas coisas tivessem cotação diária no mercado até que seria relativamente fácil dimensionar um patrimônio a ser tributado. Mas como definir o valor de uma antiguidade, o de uma fazenda em área de litígio com problemas de registro, ou o de um ponto comercial? Outro problema consiste em saber em quanto taxar. A proposta do então senador Fernando Henrique definia como fortuna alcançável por esse imposto um patrimônio a partir de R$ 2 milhões e previa alíquota máxima de 1%. O anteprojeto da deputada Luciana Genro (PSOL-RS) trabalha com uma escala inicial de R$ 2 milhões e prevê um imposto progressivo com a alíquota variável de 1% a 5%. A partir desse critério, em apenas 20 anos, o proprietário de uma fazenda ou de um estabelecimento comercial de R$ 50 milhões teria transferido toda a propriedade para o Estado. Não adianta argumentar que a taxação no primeiro ano (R$ 2,5 milhões, ou 5% sobre R$ 50 milhões) deixaria o valor a ser tributado no segundo ano a R$ 47,5 milhões sobre o qual incidiria um imposto menor, de R$ 2,4 milhões e assim regressivamente, sem que a propriedade derretesse. Como o proprietário não seria obrigado nem poderia vender sua fazenda para pagar o imposto, pressupõe-se que tivesse de arranjar caixa extra para satisfazer a Receita e, assim, a propriedade anterior permaneceria inteiramente taxável. Um imposto sobre fortunas teria outras perversidades. Uma delas é a de que já é uma vaca ordenhada demais. Toda fortuna é precedida de uma renda que já é taxada pelo Imposto de Renda e depois passa por uma bateria de impostos sobre o patrimônio. Se for um imóvel urbano, leva IPTU; se for rural, ITR; se for veículo, IPVA; se forem títulos, estão novamente sujeitos ao Imposto de Renda e ao IOF. Faria sentido mais uma supergarfada? (Amanhã tem mais.) Surpresa O IPCA cravou 0,0% em junho, graças a uma queda generalizada dos alimentos. Ninguém esperava uma inflação tão baixa. Esse resultado reduz de 5,22% para 4,84% a inflação dos últimos 12 meses. (A meta deste ano é 4,5%.) Fora ou dentro da curva? É cedo para conclusões definitivas porque falta saber se essa novidade foi apenas um ponto fora da curva ou se define tendência. Se for a segunda opção, esse número altamente positivo poderá levar o Banco Central a dispensar novas altas dos juros. O Copom bate o martelo dia 21. ---------------------------------O Globo - 08/07/2010 Amnésia seletiva Míriam Leitão Tarefa ingrata é tentar ater-se aos fatos em campanha eleitoral. É da natureza das campanhas que os candidatos apresentem sua melhor versão. Um dos temas que já está sendo objeto da guerra de versões é o Bolsa Família. Os candidatos José Serra e Dilma Rousseff estão dizendo parte da verdade, mas omitem a parte da história que favorece a outra candidatura. Só foi possível pensar em uma rede de proteção social mais ampla a partir da estabilização. As ideias sobre como montar um programa de transferência de renda surgiram entre economistas ligados a políticas públicas na área social. De forma embrionária começou a ser implantada por uma prefeitura do PSDB, em Campinas, em 1995. Depois se consolidou com a implantação no Distrito Federal de Cristovam Buarque, quando ele era do PT. Deu novos passos de aprimoramento na prefeitura de Belo Horizonte de Célio de Castro, do PSB. Neste meio tempo, foi defendida como política pública federal pelo senador Eduardo Suplicy, do PT, que depois evoluiu para a defesa de política mais complexa, a Renda Básica da Cidadania, que nunca empolgou. A ideia de que os pobres e extremamente pobres devem receber uma transferência de recursos públicos e, como contrapartida, manter seus filhos na escola é excelente. É uma política que vem sendo aplicada em outros países, como o México, há vários governos. Ela traz riscos e tem defeitos, mas que podem ser corrigidos ao longo do processo de implementação, principalmente se for fruto de um consenso suprapartidário como no Brasil. O governo Fernando Henrique só no meio do segundo mandato é que entendeu a lógica da proposta. O Bolsa Escola Federal nasceu tímido, com valores baixos e foi de políticos do PT o apelido "bolsa esmola", que a candidata Dilma Rousseff atribuiu ao PSDB. Na verdade, foi o PT que falou isso. E falou porque no início do programa federal o valor a cada família era pequeno mesmo, mesmo quando complementado com outros valores dados eventualmente pelo estado e prefeitura. O governo Lula quando assumiu fez uma aposta errada no programa Fome Zero que tinha sido elaborado pela sua campanha de 2002 baseado no food stamps americano. O Fome Zero nasceu velho. Inicialmente foi pensado como distribuição de um bônus de compra de alimento, era burocrático e criava várias dificuldades práticas. Um cheque da Gisele Bündchen doado na melhor das boas intenções foi revelador da dificuldade do programa de executar uma tarefa simples: abrir uma conta na qual o cheque pudesse ser depositado. Demorou meses. Felizmente, o governo Lula abandonou o projeto original e foi para o caminho mais lógico: consolidar o Bolsa Escola Federal do governo anterior, aperfeiçoar o cadastro das famílias, unificar outros programas que também transferiam renda, elevar o valor transferido, ampliar o número de famílias atendidas. Isso tirou o governo do atoleiro em que estava ao querer reinventar a roda. O erro foi que ao expandir, o programa foi perdendo algumas qualidades. Uma das qualidades da ideia original era a impessoalidade. O benefício não pode ser considerado uma concessão de um governante, porque isso impõe, a um projeto novo, vícios velhos como os do clientelismo e paternalismo. Tem que ser apresentado como parte dos direitos do cidadão. No governo atual foi tratado como benefício dado por Lula. Essa foi a mensagem. Em muitas prefeituras foi distribuída como benesses de um partido ou de um administrador. Na campanha, o PT quer reforçar isso e manipular a ideia de que haverá o risco de suspensão do programa caso a candidata Dilma Rousseff não seja eleita. Isso revoga o avanço que a política social permitiu. O fato de ser direito não pode anular a exigência feita a quem recebe o benefício, como a presença dos filhos na escola. A bolsa só pode ser considerada bem sucedida, como diz sempre Cristovam Buarque, se os filhos das famílias que recebem agora não precisarem do benefício quando forem adultos por terem estudado. Neste sentido, ela é transitória, para que no período de uma geração ou duas se consiga elevar o nível social dos descendentes dos atuais beneficiados. Outro passo fundamental é usar o Bolsa Família e seu cadastro para mapear outros dramas sociais brasileiros e fazer da política a porta de entrada nos lares para que a assistência social faça seu trabalho de combater outros males. Neste aspecto, ela é necessária, mas não suficiente como ação do Estado em favor dos mais vulneráveis na sociedade. Uma das ações tem que ser a de qualificar e profissionalizar o maior número de beneficiários como uma preparação para a porta de saída. O Bolsa Família tem provocado distorções, dependência, e tido erros na distribuição. Tem que ser aperfeiçoado constantemente, avaliado constantemente. O debate do aprimoramento não pode ser impedido pela manipulação eleitoreira de que qualquer mudança ameaça a própria existência do programa. Mas como disse no início desta coluna, é tarefa ingrata neste momento querer ater-se à sucessão de fatos que levaram a uma política pública que é vitoriosa, apesar das falhas. A oposição não poderá falar das falhas porque isso pode ser usado pelo governismo como comprovação da ameaça. O governo vai se esforçar ainda mais para apresentá-la como política exclusivamente dele para ameaçar eleitores. A ninguém vai interessar apresentála como ela é: uma etapa do processo de aperfeiçoamento das políticas públicas na área social. Processo que levará a novas gerações de políticas de transferência de renda. ----------------------------------Valor Econômico - 08/07/2010 BC pode reduzir ritmo de alta da Selic Eduardo Campos Ganhou força a ideia de que o Banco Central pode, de fato, reduzir o ritmo de ajuste na taxa Selic, após a divulgação do o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que apontou inflação nula (0%) em junho. O aperto menor não seria agora em 21 de julho, mas sim no encontro de 1º de setembro. Tal constatação foi captada pelo mercado de juros futuros, que mostrou queda nas taxas, e deriva da percepção de que um ciclo total de 300 pontos-base de alta nos juros seria suficiente para garantir a convergência da inflação à meta em 2011. A questão em pauta é como o BC daria os 150 pontos restantes. Podem ser duas altas de 0,75 ponto ou mais uma de 0,75 ponto, agora em julho, e uma diluição do aperto restante em mais reuniões. Não há dúvida de que o IPCA contribuiu para alimentar essa discussão. Afinal, a inflação foi a menor desde junho de 2006, quando houve deflação de 0,21%. No entanto, como notou o economista-chefe da Máxima Asset, Elson Teles, tal mudança de postura do mercado não é mérito apenas do IPCA. A possibilidade de um abrandamento no ritmo de alta da Selic também ganha respaldo no menor ritmo de crescimento da economia local e no aumento da percepção de que os problemas envolvendo a Europa vão resultar em menor crescimento global em 2011. Voltando ao IPCA de junho, o estrategista-chefe da CM Capital Markets, Luciano Rostagno, avalia que tal comportamento da inflação oficial deve ter impacto nas expectativas de preço. E o Focus já deve mostrar isso na segunda-feira. Tal dinâmica, somada à percepção de que crise na Europa deverá confirmar seu potencial para desacelerar a atividade global, abriria espaço para o BC sinalizar o começo do fim do ciclo de aperto monetário. E a forma de se fazer isso é reduzindo o passo do aperto. Pelo cenário da CM Capital Markets, o Copom dá mais 0,75 ponto em julho, 0,5 ponto em setembro e encerra com 0,25 ponto em outubro. Mas ainda é cedo para comemorar, para pensar que a inflação foi vencida. "Não se pode pegar um dado e extrapolar. Temos que ver como fica o comportamento dos preços nos próximos meses", ponderou Teles, da Máxima Asset. Na ala dos mais cautelosos está o Santander, que continuou expressando preocupação com os núcleos do IPCA apesar do recuo mês a mês nessas medições que tiram da conta itens mais voláteis. Em relatório assinado pela economista Tatiana Pinheiro, o banco chamou atenção para o preço dos serviços e para o IPCA descontado de alimentos, gás e preços administrados, que seguem rodando entre 5,5% a 7% no ano. Olhando para frente, não só o Santander, mas outras instituições apontam que o IPCA de julho também deve continuar bem comportado, ainda reflexo dos alimentos, que mostram deflação, e do baixo reajuste na tarifa de energia elétrica em São Paulo. Por outro lado, nota o Santander, o IPCA acumulado em 12 meses deve se acelerar para 5,5% nos próximos trimestres. Agora em junho, essa medição ficou em 4,84%, recuando de 5,22% em maio. A instituição também acredita que o índice deve apresentar uma média superior ao 0,28% ao mês observado no segundo semestre de 2009 em função do aquecimento da economia. No câmbio, o dólar comercial fechou a R$ 1,767, menor preço em dois meses. Mas pelo clima do dia teria espaço para recuar ainda mais, apesar das notícias do fluxo cambial. O que os analistas notam é mais receio do que falta de estímulo para ampliar ainda mais a venda de moeda americana nesse nível de preço. --------------------------------O Globo - 08/07/2010 Gastar e poupar Carlos Alberto Sardenberg Esta é uma resposta para a questão lançada na coluna da semana passada: o que os governos devem fazer, gastar para estimular a economia ou poupar para arrumar as contas públicas? O ideal seria conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo: gastar em coisas que têm efeito imediato na atividade econômica, como dar um subsídio para que as pessoas comprem alguma coisa, de geladeiras a casas. Ou colocar na rua um programa de obras. Atenção, não se trata de anunciar grandes projetos e inaugurar tijolo. É iniciar as coisas de verdade, colocar máquinas e operários trabalhando. Em qualquer caso, é preciso que o gasto seja limitado no tempo e nos valores e, sobretudo, bem explicado. Um subsídio ou uma redução de impostos a ser aplicada em tantos meses, com despesa de um bilhão, e pronto. Em compensação, esse mesmo governo precisaria dar provas de que está arrumando as contas a médio e longo prazos. Isso se faz com reforma da previdência, programa de redução dos gastos de custeio, congelamento de salários do funcionalismo e redução do quadro do pessoal, por exemplo, contratando-se uma pessoa para substituir cada duas que se aposentam. Além disso, há uma restrição crucial: há governos que podem (ainda) aumentar determinados gastos e outros que simplesmente não podem ou não devem. Isso depende da situação das contas de cada um e, mais importante, talvez, do grau de confiança de que desfrutam nos mercados. Como funciona isso de confiança? É simples: um governo com déficit precisa financiar esse rombo. Faz isso tomando dinheiro emprestado na praça internacional, ou seja, vende títulos do Tesouro, pagando sobre eles a taxa de juros pedida pelos credores - bancos, fundos de investimentos, outros governos (todos os bancos centrais do mundo compram papéis dos EUA) e pessoas que aplicam sua poupança. Qualquer pessoa que tem um dinheirinho aplicado em fundo de investimento é credora de algum governo. E aí funciona como em qualquer empréstimo - é tanto mais barato (juros mais baixos) quanto mais confiável for o tomador. Assim, o governo do Japão tem neste ano um déficit equivalente a 8% do seu Produto Interno Bruto, além de acumular uma dívida de tamanho superior ao do PIB anual. O governo brasileiro fechou maio com um déficit anualizado de 3% do PIB, com uma dívida pública total em torno dos 60% - números muito mais saudáveis, como vive alardeando o ministro Guido Mantega. Entretanto, os títulos de dez anos do Tesouro japonês, em ienes, pagam uma taxa ridícula de 1,1% ao ano, a menor do mundo. Já os papéis brasileiros equivalentes, emitidos em dólar, pagam 6,2%. (E mais que isso para os bônus denominados em reais.) O governo americano paga mais que o japonês. Também faz um déficit público maior neste ano, cerca de 9% do PIB, e crescente pelo menos até 2012. Ainda assim, os títulos do Tesouro dos EUA rendem apenas 2,9% ao ano - e com grande procura. Que conclusões se podem tirar daí? A primeira é que o governo americano tem tempo para manter ao menos parcialmente sua política de gastos e subsídios às famílias e empresas privadas, para que movimentam a economia. Os compradores dos títulos americanos, entre os quais o próprio governo brasileiro, acreditam que as prestações e os juros serão pagos corretamente, de modo que financiam esse "esforço fiscal" dos EUA. O mesmo vale para Japão e Alemanha que se financiam a menos de 3% ao ano, no exterior e em seus países, em moeda local. Mas do governo espanhol, os credores já estão exigindo 4,6%, bem mais caro. E para a Grécia ficou proibitivo. Os investidores pedem juros de 10,5% ao ano, em euros, para comprar um papel do Tesouro grego. Ora, se mesmo o presidente Barack Obama julgou necessário formular um plano de ajuste de contas de médio prazo, e se a chanceler alemã, Angela Merckel, resolveu iniciar o acerto desde já, fica evidente que essa exigência é muito maior para países que desfrutam de menor confiança. E por que países como o Brasil pagam juros maiores mesmo apresentando contas públicas com números mais bonitos? Isso tem a ver com a história - e o Brasil já deu dez calotes em sua dívida externa, além de tantos outros na interna, contra nenhum dos EUA, por exemplo. A Alemanha já deu calote, trocou de moeda e produziu episódios de hiperinflação, mas isso foi na velha Alemanha, de antes da Segunda Guerra. A nova é um prodígio de austeridade, como a Suíça. O Brasil está muito novo nesse quesito da estabilidade. Nossa moeda tem apenas 16 anos e as bases macroeconômicas atuais (superávit primário, redução do endividamento, regime de metas de inflação com BC independente e câmbio flexível) foram assentadas em 1998 e 99. E confiança tem a ver também com a dinâmica dos gastos públicos. No Brasil, o governo tem elevado as despesas com Previdência e funcionalismo - gastos que permanecem no orçamento por décadas. Ou seja, é equivocado achar que o governo brasileiro pode gastar mais porque tem números atualmente mais arrumados. Os juros pagos pelo Brasil vêm caindo, ao longo dos últimos anos, por causa da nova austeridade recente. Mantê-la é a condição para juros menores ainda. CARLOS ALBERTO SARDENBERG é jornalista ----------------------------------- ECONOMIA & OUTRAS NOTÍCIAS O Estado de S.Paulo - 08/07/2010 Saída de dólares cresce e é a maior desde a crise Após meses de calmaria, a crise internacional voltou a afetar o mercado brasileiro em junho. Fatores como a possibilidade de rebaixamento da Espanha por agências de risco fizeram com que US$ 4,27 bilhões deixassem o País, o pior resultado desde dezembro de 2008. Saída de dólares é a maior desde a crise Fernando Nakagawa Após meses de calmaria, a crise internacional voltou a afetar o mercado brasileiro em junho. Fatores como a possibilidade de rebaixamento da Espanha por agências de classificação de risco inverteram o fluxo de dólares para o Brasil e US$ 4,27 bilhões deixaram o País no mês passado, o pior resultado desde dezembro de 2008, ainda no auge da crise. O resultado é explicado pela dificuldade das empresas em captar recursos no exterior e o aumento da remessa de lucros das multinacionais instaladas no Brasil às sedes. Ao mesmo tempo, brasileiros continuam a gastar dólares, seja em viagens internacionais ou em produtos importados. A maioria dos recursos deixou o Brasil pela chamada conta financeira, onde são registradas operações de entrada e saída de dólares para diversos fins, como remessa de lucros, empréstimos, investimento em ações e no setor produtivo. Por essa via, segundo dados do Banco Central, o mês terminou com a fuga de US$ 3,49 bilhões. Dessa vez, o agravamento da crise contagiou o Brasil especialmente pelo crédito: o aumento da aversão ao risco dos estrangeiros praticamente interrompeu a oferta de empréstimos em dólar para empresas brasileiras. Sem crédito internacional, o ingresso da moeda estrangeira para o País caiu 18% entre maio e junho. "O mercado de dívida ficou praticamente fechado. Isso fez com que muitas empresas não conseguissem captar recursos, o que reverteu a situação dos meses anteriores, quando companhias conseguiram captar volumes expressivos", diz a analista do Banco BBM, Ana Flávia Soares. Importações. O economista-chefe do Banco Schahin, Silvio Campos Neto, afirma que o quadro foi agravado com volumes expressivos de remessa de lucros de multinacionais às sedes no exterior. "A economia aquecida do Brasil gera ganhos expressivos que são enviados às matrizes que ainda não se recuperaram da crise", explica. O economista destaca que essas transferências ganham força em momentos de crise nas sedes e quando há o fechamento dos balanços no Brasil, exatamente como em junho. Entre os setores que mais enviaram lucros em 2010, bancos, montadoras e metalúrgicas encabeçam a lista. Além dos efeitos da crise, a saída de dólares também é influenciada pela boa situação do Brasil. Com o aumento da renda, brasileiros viajam cada vez mais para o exterior e reforçam a compra de bens importados. Esse movimento causa reflexos no fluxo cambial obtido com o comércio exterior. Em junho, contratos de câmbio para pagar importações superaram em US$ 788 milhões o ingresso de dólares gerados pelas exportações. Além dos efeitos da crise, a saída de dólares também é influenciada pela boa situação do Brasil. Com o aumento da renda, brasileiros viajam cada vez mais para o exterior e reforçam a compra de bens importados. Esse movimento causa reflexos no fluxo cambial obtido com o comércio exterior. Em junho, contratos de câmbio para pagar importações superaram em US$ 788 milhões o ingresso de dólares gerados pelas exportações. -----------------------
Download

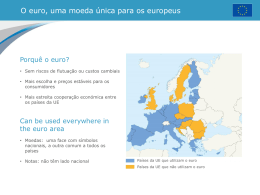


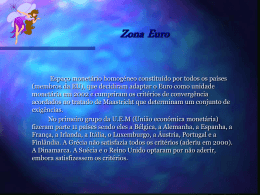
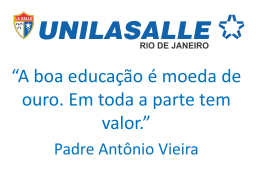
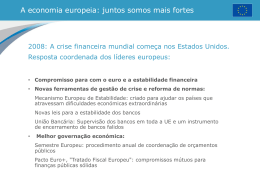
![Os símbolos de uma integração [3]: uma crise](http://s1.livrozilla.com/store/data/000368135_1-a0ffa4a7ad5b7f16dc560dacc048e3c7-260x520.png)