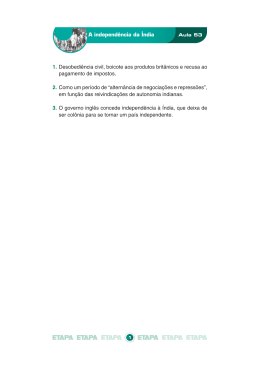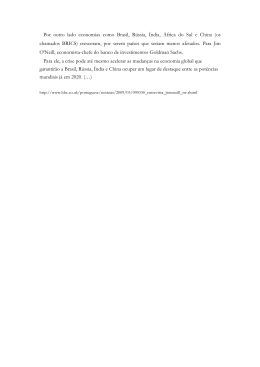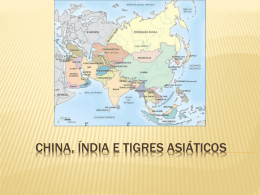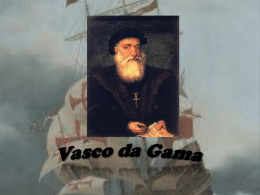CASO DO DIREITO DE PASSAGEM SOBRE O TERRITÓRIO INDIANO (PORTUGAL v. ÍNDIA) (1955-1960) (EXCEÇÕES PRELIMINARES) Sentença de 26 de novembro de 1957 O Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano (exceções preliminares) entre Portugal e Índia foi submetido à Corte por um requerimento do governo português, no qual solicitou à Corte que declarasse e julgasse que Portugal era titular ou beneficiário de um direito de passagem entre seu território de Damao (Damao do litoral), seus enclaves de Dadra e Nagar-Aveli e entre cada um dos dois últimos, e que esse direito compreendia a faculdade de trânsito de pessoas e mercadorias, incluindo forças armadas, sem restrições ou dificuldades e na forma e medida requerida para o efetivo exercício da soberania portuguesa nos referidos territórios, e alegou que a Índia, impedindo o exercício do direito em questão, atentou contra a soberania portuguesa sobre os enclaves, bem como violou suas obrigações internacionais. Requereu que decidisse que a Índia deveria pôr um fim imediato nesta situação, permitindo que Portugal exercesse o direito de passagem reivindicado. O requerimento expressamente referiu-se ao artigo 36, parágrafo 2º, do Estatuto e às declarações através das quais Portugal e Índia aceitaram a jurisdição obrigatória da Corte. O governo da Índia, por sua vez, opôs seis exceções preliminares à competência da Corte, fundamentadas nos seguintes termos: A primeira exceção preliminar destinava-se a declarar que a condição expressa na declaração portuguesa de 19 de dezembro de 1955, pela qual Portugal aceitou a jurisdição da Corte, reservava a este governo o direito de “excluir do campo de aplicação desta declaração, a qualquer tempo dentro de sua validade, quaisquer das categorias determinadas de disputas através de notificação ao Secretário-Geral das Nações Unidas, produzindo tal ato efeitos a partir da data da notificação", era incompatível com o objeto e proposta da cláusula facultativa, o que levaria a considerar nula a Declaração de Aceitação . A segunda exceção preliminar alegava que o requerimento português de 22 de dezembro de 1955, fora apresentado antes que uma cópia da declaração de Portugal aceitando a jurisdição obrigatória da Corte pudesse ser transmitida às outras partes ao Estatuto pelo Secretário-Geral, em consonância com o artigo 36, parágrafo 4º do Estatuto. O preenchimento do requerimento violava, portanto, a igualdade, mutualidade e reciprocidade, condições a que a Índia faria jus, com base na cláusula facultativa e na condição expressa de reciprocidade contida em sua declaração de 28 de fevereiro de 1940, pela qual aceitava a jurisdição obrigatória da Corte. A terceira exceção preliminar invocava a ausência de negociações diplomáticas, antes do ajuizamento do requerimento, e que teriam possibilitado definir o objeto da demanda. A quarta exceção preliminar requeria à Corte que declarasse que, uma vez não tendo a Índia ciência da declaração portuguesa antes da apresentação do requerimento, ela não estava apta a valer-se, com base na reciprocidade, da condição expressa na declaração portuguesa que permitia excluir da competência da Corte a disputa que fora objeto do requerimento. A quinta exceção preliminar foi baseada na reserva da declaração indiana de aceitação que exclui da jurisdição da Corte disputas a respeito de questões que, segundo o direito internacional, são de competência exclusiva da jurisdição do governo da Índia. Este governo asseverou que os fatos e as considerações de direito trazidas perante a Corte não permitiam inferir a existência de um argumento razoavelmente sustentável em apoio à tese de que o objeto da disputa não recai em sua competência nacional. Finalmente, na sexta exceção preliminar, o governo da Índia sustentou que a Corte não tinha competência em razão de a declaração indiana de aceitação se limitar às "disputas ocorridas depois de 5 de fevereiro de 1930 concernentes a situações ou aos fatos posteriores a esta mesma data". O governo da Índia argumentou, em primeiro lugar, que a disputa submetida à Corte por Portugal não teve início após 05 de fevereiro e, em segundo lugar, que, de qualquer forma, era uma disputa sobre situações e fatos de datas anteriores àquela. O governo de Portugal adicionou às suas conclusões uma demanda requerendo que a Corte relembrasse às partes o princípio universalmente admitido de que ambas deveriam facilitar o cumprimento do trabalho da Corte, abstendo-se de qualquer medida capaz de exercer efeito prejudicial a respeito da execução de sua decisão ou que possa trazer um agravamento ou uma extensão do conflito. A Corte não considerou que nas circunstâncias do presente caso deveria acatar o requerimento do governo de Portugal. No sua sentença, a Corte rejeitou a primeira e a segunda exceções preliminares por quatorze votos a três, a terceira por dezesseis votos a um e a quarta por quinze votos a dois. Por treze votos a quatro uniu a quinta exceção ao mérito e, por quinze votos a dois, fez o mesmo com a sexta exceção. Finalmente, declarou que o mérito seria analisado e fixou os prazos para o restante dos procedimentos como abaixo: para a entrega do contra-memorial da Índia, 25 de fevereiro de 1958; para a réplica portuguesa, 25 de maio de 1958; e para a tréplica indiana, 25 de julho de 1958. O juiz Kojevnikov sustentou que não poderia concordar nem com a cláusula operativa, nem com a razão da sentença porque, na sua opinião, a Corte deveria acolher uma ou mais exceções preliminares. O Vice-Presidente Badawi e o juiz Klaestad anexaram à sentença as razões de suas opiniões dissidentes. O Sr. Fernandes, juiz ad hoc, aderiu à opinião dissidente do juiz Klaestad e o Sr. Chagla, juiz ad hoc anexou à sentença as razões de sua opinião dissidente. Na primeira exceção preliminar alegou-se a nulidade da declaração portuguesa em virtude da condição que permitia a qualquer momento excluir do campo de aplicação desta declaração uma ou mais categorias de disputas, através de mera notificação ao Secretário-Geral. A Corte constatou que, interpretados em seu sentido ordinário, os termos da condição significavam simplesmente que uma notificação feita em virtude desta condição se aplica somente às disputas trazidas à Corte após a data da notificação. Logo, nenhum efeito retroativo poderia lhe ser atribuído. Neste mesmo sentido, a Corte referiu-se ao princípio enunciado no caso Nottebohm, assim exposto: "um fato exterior tal como uma falta de declaração em virtude do fim do prazo ou denúncia não poderia privar a Corte de uma competência já estabelecida." A Corte somou a isto a consideração de que este princípio era aplicável tanto a uma denúncia total, quanto parcial, conforme o contemplado na cláusula litigiosa da declaração portuguesa. A Índia sustentou que esta cláusula havia introduzido na declaração um grau de incerteza em termos de direitos e obrigações recíprocos, o que impediria a aceitação da jurisdição obrigatória da Corte, com todo o seu conteúdo prático. A Corte respondeu que as declarações e suas alterações feitas sob o artigo 36 do Estatuto têm que ser entregues ao Secretário-Geral, considerando, ainda, que quando um caso é submetido à Corte, sempre será possível determinar quais são, no momento, as obrigações recíprocas das partes de acordo com as suas respectivas declarações. Embora fosse verdade que o intervalo entre a data de notificação ao Secretário-Geral e o seu recebimento pelas partes signatárias do Estatuto podia conferir um certo grau de incerteza à operação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, tal incerteza é inerente ao funcionamento do sistema da cláusula facultativa, não afetando, portanto, a validade da condição contida na declaração portuguesa. A Corte observou que a situação era fundamentalmente a mesma, quanto ao grau de incerteza resultante do direito de Portugal de invocar, a qualquer tempo, a condição de aceitação, daquela criada pelo direito reivindicado por vários assinantes da cláusula facultativa, incluindo a Índia, para pôr fim às suas declarações de aceitação por simples notificação sem prévio aviso obrigatório. Rememorou que a Índia havia feito isto em 7 de janeiro de 1956, quando notificou ao Secretário-Geral da denúncia de sua declaração de 28 de fevereiro de 1940 (fatos que Portugal invocou em seu requerimento), a qual simultaneamente substituiu por uma nova declaração, incorporando reservas que não existiam em sua declaração antecedente. Feito isto, a Índia conseguiu, no mérito, o objetivo visado pela condição da declaração portuguesa. Ademais, no entendimento da Corte, não havia diferença essencial quanto ao grau de certeza entre a situação que resulta do direito de denúncia total e aquela que resulta da condição na declaração portuguesa, que possibilita uma denúncia parcial. A Corte considerou que não era possível aceitar como elemento de distinção pertinente o fato de que no caso de denúncia total o Estado denunciante não poderia mais invocar os direitos resultantes de sua declaração. No caso de uma denúncia parcial sob os termos da declaração portuguesa, Portugal poderia, ao contrário, continuar a se beneficiar de sua declaração. O princípio de reciprocidade permitiu a outros Estados, inclusive a Índia, invocar contra Portugal todos os direitos os quais ele poderia continuar reivindicando. Foi alegado como terceiro motivo da nulidade da condição portuguesa o fato da mesma ter ido de encontro ao princípio fundamental da reciprocidade contido na cláusula facultativa, na medida em que reivindicava para Portugal um direito que fora, negado a outros signatários cujas declarações não continham uma condição similar. A Corte não aceitou essa tese. Considerou que se a posição das partes a respeito do exercício de seus direitos fora de alguma forma afetada pelo inevitável intervalo entre o recebimento pelo Secretário-Geral da notificação apropriada e o recebimento desta notificação pelos outros signatários, este intervalo operava igualmente a favor ou contra todas as partes signatárias da cláusula facultativa. A Corte também se recusou a aceitar a opinião de que a condição na declaração portuguesa foi incoerente com o princípio da reciprocidade visto que tornava ineficaz a parte do parágrafo 2º do artigo 36 que se refere à aceitação da cláusula facultativa em relação a Estados que aceitaram "a mesma obrigação". Não era necessário que "a mesma obrigação "fosse definida de maneira irrevogável no momento da aceitação e pelo período completo de sua duração: essa expressão simplesmente significava que, nos processos entre Estados que aderiram à cláusula facultativa, cada um e todos eles estavam vinculados pelas obrigações idênticas que poderiam existir a qualquer tempo, visto que a aceitação os vinculava reciprocamente. Como a Corte entendeu que a condição na declaração portuguesa não era incompatível com o Estatuto, não era necessário considerar se, caso esta condição fosse nula, essa nulidade afetaria a declaração na íntegra. A Corte passou a analisar a segunda exceção, que afirmava que , como o requerimento fora depositado antes que a aceitação portuguesa da competência da Corte pudesse ser notificada pelo SecretárioGeral às outras partes signatárias, tal depósito violou a igualdade, mutualidade e reciprocidade às quais a Índia fazia jus sob os auspícios da cláusula facultativa e da condição expressa de reciprocidade contida na declaração. A Corte observou que duas questões tinham que ser examinadas: primeiro, se depositando o requerimento no dia seguinte ao depósito de sua Declaração de Aceitação Portugal agiu contrariamente ao Estatuto; segundo, se não for entendido desta forma, teria Portugal violado algum direito da Índia contido no Estatuto ou em sua declaração? A Índia sustentou que, antes de propor o requerimento, Portugal deveria ter permitido passar algum período para que os outros signatários da cláusula facultativa recebessem do Secretário-Geral a notificação da declaração portuguesa. A Corte não aceitou tal alegação. A relação contratual formada entre as partes e a jurisdição obrigatória da Corte daí resultante foram estabelecidas "de pleno direito e sem qualquer convenção especial" em virtude da declaração. Um Estado que aceita a competência da Corte deve prever que um requerimento pode ser feito contra ele perante a Corte por um novo Estado comunicando no mesmo dia a sua aceitação ao Secretário- Geral. A Índia sustentou que a aceitação da competência da Corte entrou em vigor somente quando o Secretário-Geral transmitiu uma cópia da declaração às partes. A Corte afirmou que o Estado declarante deveria se preocupar somente com o depósito de sua declaração perante o Secretário Geral e não com o dever do mesmo ou com a maneira de seu cumprimento. A Corte declarou não poder introduzir na cláusula facultativa a condição de um intervalo depois do depósito da Declaração de Aceitação. Tal condição introduziria um elemento de incerteza no sistema da cláusula facultativa. Como a Índia não havia especificado quais direitos derivados do Estatuto e as declarações que realmente haviam sido violadas pela forma da propositura do requerimento, a Corte não pôde constatar qual direito havia sido de fato violado. Tendo concluído que o requerimento fora proposto de forma não contrária ao Estatuto, e sem qualquer violação a direitos da Índia, a Corte rejeitou a segunda exceção preliminar. A Corte então passou ao exame da quarta exceção preliminar, que também se referia à forma através da qual o requerimento fora feito. A Índia alegou que, com relação à forma segundo a qual o requerimento foi feito, estaria impedida de valer-se por via de reciprocidade da condição da declaração portuguesa, e de excluir da competência da Corte a disputa que fora objeto do requerimento. A Corte mencionou o que havia dito a propósito do exame da segunda exceção, em particular que o Estatuto não prescrevia qualquer intervalo entre o depósito da Declaração de Aceitação e a propositura do requerimento. Na terceira exceção preliminar, que invocava a falta de negociações diplomáticas antes do depósito do requerimento, a Corte considerou que uma parte substancial das trocas de opiniões entre as partes estava relacionada com a questão do acesso aos enclaves. A correspondência e as notas apresentadas à Corte revelaram repetidas reclamações de Portugal no que tange aos obstáculos à passagem, assim como demonstravam que as negociações tinham chegado a um impasse. Supondo que o artigo 36, parágrafo 2º, do Estatuto, ao se referir a disputas de ordem jurídica, requeresse uma definição da disputa através de negociações, tal condição estava suprida. Em sua quinta exceção, a Índia baseou-se na reserva de sua própria Declaração de Aceitação que excluía da jurisdição da Corte disputas que diziam respeito às questões que, pelo direito internacional, eram exclusivamente da jurisdição do governo da Índia, e afirmou que os fatos e as considerações de direito apresentados à Corte não permitiam concluir sobre a existência de um argumento razoavelmente sustentado para dizer que o objeto da disputa estaria fora da competência nacional da Índia. A Corte observou que os fatos invocados pelo governo da Índia em suas conclusões e contestados por Portugal teriam a necessidade, para sua elucidação e conseqüências jurídicas, de um exame da prática das autoridades britânicas, indianas e portuguesas na questão do direito de passagem, mais especificamente para determinar se tal prática demonstrava que as partes tinham visado este direito como uma questão pertencente, de acordo com o direito internacional, exclusivamente à competência nacional da soberania territorial. Todas essas questões, e outras similares, não podiam ser examinadas nesse estágio preliminar sem prejudicar o mérito. Deste modo, a Corte decidiu unir a quinta exceção ao mérito. Por fim, quando da análise da sexta exceção, que invocava a reserva ratione temporis da declaração indiana que limitava a mesma às disputas que surgiram após 5 de fevereiro de 1930, concernentes a situações e fatos posteriores a esta data, a Corte observou que para determinar a data na qual a disputa havia nascido era necessário examinar se esta era somente uma continuação da disputa sobre o direito de passagem que havia ocorrido antes de 1930 ou não. Tendo a Corte ouvido argumentos conflitantes a respeito da natureza da passagem praticada anteriormente, não estava na posição de determinar essas duas questões nesse estágio. A Corte não tinha no momento elementos suficientes para se pronunciar sobre a questão de saber se a disputa era referente às situações ou fatos anteriores a 1930. Em conseqüência, uniu a sexta exceção preliminar ao mérito. 17. (MÉRITO) Julgamento de 12 de abril de 1960 O Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano (Portugal v. Índia) foi submetido à Corte por um requerimento de 22 de dezembro 1955. Neste requerimento, o governo de Portugal sustentou que seu território na Península Indiana era composto por dois enclaves dentro do território indiano, Dadra e NagarAveli. Em função da comunicação entre esses dois enclaves, seja com o Distrito Costeiro de Damao, seja entre eles, foi levantada a questão de um direito de passagem em favor de Portugal no território indiano, com a correspondente obrigação de sujeição da Índia. No requerimento sustentou-se que, em julho de 1954, o governo da Índia proibiu Portugal de exercer o direito de passagem, impossibilitando-o de exercer direitos de soberania sobre os enclaves. Após o requerimento, foram apresentadas pelo governo da Índia seis exceções preliminares. Por uma sentença proferida em 26 de novembro de 1957, a Corte rejeitou as primeiras quatro exceções e anexou a quinta e a sexta ao mérito. Em sua sentença, a Corte: (a) rejeitou a quinta exceção preliminar por 13 votos a 2; (b) rejeitou a sexta exceção preliminar por 11 votos a 4; (c) decidiu, por 11 votos a 4, que Portugal tinha, em 1954, um direito de passagem sobre o território indiano entre os enclaves de Dadra e Nagar-Aveli e o Distrito Costeiro de Damao e entre os dois enclaves, na medida necessária para o exercício da soberania portuguesa sobre estes enclaves, estando naturais, de funcionários civis e de mercadorias em geral; (d) decidiu, por 8 votos a 7, que Portugal não tinha em 1954 tal direito de passagem para as forças armadas, para a polícia armada e para armas e munição; (e) decidiu, por 9 votos a 6, que a Índia não tinha agido contrariamente às obrigações que resultavam do direito de passagem de Portugal com relação às pessoas naturais, funcionários civis e mercadorias em geral; O Presidente e os juízes Basdevant, Badawi, Kojevnikov e Spiropoulos anexaram declarações à sentença da Corte. O juiz Wellington Koo anexou uma opinião individual. Os juízes Winiarski e Badawi anexaram uma opinião dissidente conjunta. Os juízes Armand-Ugon, Moreno Quintana e Sir Percy Spender, e os juízes ad hoc Chagla e Fernandes, anexaram opiniões dissidentes. Em sua sentença, a Corte referiu-se às conclusões depositadas por Portugal, nas quais, primeiramente, requereu-se que fosse julgado e declarado que um direito de passagem existia em favor de Portugal e que este deveria ser respeitado pela Índia. Tal direito foi invocado por Portugal somente na medida necessária para o exercício de sua soberania sobre os enclaves, não alegando que essa passagem estaria acompanhada por qualquer imunidade, e declarando que a mesma permaneceria sujeita à regulamentação e controle indianos. Estes controles deveriam ser exercidos de boa-fé, cabendo à Índia a obrigação de não interromper o trânsito necessário ao exercício da soberania portuguesa. A Corte ponderou sobre que data ela deveria determinar para apreciar se o direito invocado existia ou não. A questão da existência de um direito de passagem foi apresentada à Corte em razão da disputa originada pelos obstáculos indianos à passagem. Assim sendo, o dia anterior ao estabelecimento de obstáculos à passagem deve ser a data na qual a Corte deveria se basear para a apreciação dos argumentos, deixando intactos os argumentos da Índia a respeito da caducidade ulterior do direito de passagem. Portugal pediu então à Corte que decidisse e declarasse que a Índia não estava em conformidade com as obrigações que lhe incumbiam o direito de passagem. Mas a Corte argumentou que nem no requerimento nem nas conclusões finais das partes havia sido solicitado que decidisse se a atitude da Índia em relação àqueles que haviam instigado um golpe à autoridade portuguesa em Dadra e Nagar-Aveli, em julho e agosto de 1954, constituía um não cumprimento da obrigação. De acordo com o direito internacional geral, o governo indiano tem o dever de adotar medidas apropriadas para prevenir a incursão de elementos subversivos no território de outro Estado. Quanto aos fatos futuros, Portugal demandou à Corte que determinasse que a Índia pusesse fim às medidas através das quais se opunha ao exercício do direito de passagem ou, no caso da Corte admitir uma suspensão temporária desse direito, que considerasse que tal suspensão deveria terminar tão logo o curso dos acontecimentos demonstrasse findas as suas razões. Portugal havia anteriormente convidado a Corte a considerar carentes de fundamentação os argumentos da Índia a respeito do direito de adotar a atitude de neutralidade, da aplicação da Carta das Nações Unidas e da existência de um governo local. A Corte, entretanto, considerou que não era parte de sua função jurisdicional declarar, na parte operativa de sua sentença, se esses argumentos eram ou não bem fundamentados. Antes de examinar o mérito, a Corte determinou se possuía competência para tanto, competência esta que a Índia havia expressamente contestado. Em sua quinta exceção preliminar, o governo da Índia baseou-se em sua Declaração de Aceitação da Jurisdição da Corte de 28 de fevereiro de 1940, em que excluía de sua jurisdição disputas relativas a questões que, consoante o direito internacional, faziam parte exclusivamente da jurisdição da Índia. A Corte constatou que no curso dos procedimentos ambas as partes haviam sustentado seus argumentos no plano do direito internacional, e por vezes o declararam expressamente. A quinta exceção não poderia, portanto, ser acolhida. A sexta exceção preliminar se referia à Declaração de 28 de fevereiro de 1940, na qual a Índia havia aceito a jurisdição da Corte "para todas as disputas ocorridas depois de 5 de fevereiro de 1930, que se relacionassem com situações ou fatos posteriores a esta data", sustentou que a disputa não satisfazia nenhuma dessas duas condições. Em relação à primeira condição, a Corte assinalou que a disputa não poderia acontecer até que todos os elementos constitutivos existissem. Dentre esses estavam os obstáculos colocados pela Índia ao exercício do direito de passagem de Portugal, em 1954. Ainda, se somente a parte da disputa relacionada com a reclamação portuguesa em relação ao direito de passagem fosse considerada, alguns incidentes ocorreram antes de 1954, que não levaram as partes a adotar posições de direito claramente definidas, opondo-se uma contra a outra; deste modo, não há fundamento para se afirmar que esta disputa fora iniciada antes de 1954. Quanto à segunda condição, a Corte Permanente de Justiça Internacional havia, em 1938, feito uma distinção entre as situações ou fatos que constituíam uma fonte de direitos alegados por uma das partes e as situações ou fatos que eram geradores da disputa, devendo somente os últimos ser considerados. A disputa submetida à Corte tinha relação com a situação dos enclaves, que levaram à reivindicação de Portugal sobre o direito de passagem, e, ao mesmo tempo, com os fatos de 1954, os quais Portugal apresentou como uma infringência a este direito. Foi desse conjunto que surgiu a disputa e, qualquer que seja a origem desses elementos, certamente nasceu depois de 5 de fevereiro de 1930. A Corte, dessa forma, não analisaria qualquer fato anterior àquela data, e, portanto, a sexta exceção não deveria ser mantida. Conseqüentemente, tinha competência para o julgamento do mérito. No mérito, a Índia contestou, primeiramente, que o direito de passagem reivindicado por Portugal era muito vago e contraditório para habilitar a Corte a julgá-lo através da aplicação das regras jurídicas enumeradas no artigo 38, inciso I do Estatuto. Não havia dúvida de que o exercício rotineiro desse direito levasse a delicadas questões de aplicação, mas isto não era, na visão da Corte, motivo suficiente para concluir que aquele direito não estava suscetível de reconhecimento judicial. Portugal baseou-se no Tratado de Poona de 1779 e nas sanads (decretos) feitos pelo soberano de Maratha em 1783 e 1785, que lhe conferiam soberania sobre os enclaves, bem como o direito de passagem em relação aos mesmos. A Índia objetou que o alegado Tratado de 1779 não foi validamente concluído e que nunca se transformou em lei vinculante para Marathas. A Corte, entretanto, entendeu que os marathas, em nenhum momento, apontaram dúvidas sobre a validade ou o caráter obrigatório do tratado. A Índia posteriormente alegou que o tratado e os dois sanads não operavam no sentido de transferir a soberania sobre as referidas vilas a Portugal, mas simplesmente a concessão de proventos. A Corte não pôde concluir, através do exame dos vários textos do Tratado de 1779, que a linguagem empregada no mesmo intencionava transferir a soberania. Por outro lado, de acordo com as expressões usadas nas duas sanads, fora estabelecido que apenas seria gratuita para os portugueses uma taxa de direito de ocupação denominada jagir ou saranjam, e nunca ocorreu um caso perante a Corte em que tal concessão fosse instituída no sentido de conferir uma cessão de soberania. Poderia, portanto, não ser uma questão de um enclave ou de um direito de passagem com o intuito de exercer soberania sobre os enclaves. A Corte entendeu que a situação estava sujeita a uma mudança com o advento da soberania britânica naquela parte do país no lugar dos marathas: a soberania portuguesa havia sido reconhecida de fato e, por implicação, pelos britânicos e posteriormente reconhecida tacitamente pela Índia. Como conseqüência, as vilas haviam adquirido o caráter de enclaves portugueses em território indiano e, portanto, desenvolveu-se entre os portugueses e o território soberano uma prática de passagem para os enclaves, na qual Portugal baseou-se para estabelecer o direito de passagem ora reivindicado. Alegou-se, em nome da Índia, que nenhum costume local poderia ser estabelecido somente entre dois Estados, mas a Corte não concordou sobre a necessidade do envolvimento de um número superior a dois Estados para que fosse estabelecido um costume local constituído sobre a base de uma prática prolongada. Era ponto pacífico entre as partes que no curso do período britânico e no pós-britânico a passagem de pessoas naturais e funcionários civis não estava sujeita a qualquer restrição, além do controle rotineiro. Com exceção das armas e munições, as mercadorias também tinham livre passagem, com a única reserva, em certas épocas, de regulamentações aduaneiras e de regulamentações e controles necessários para questões de segurança ou tributação. A Corte, portanto, concluiu que em relação a pessoas naturais, funcionários civis e mercadorias em geral existiu uma prática constante e uniforme permitindo a passagem livre entre Damao e os enclaves, considerando, com base em todas as circunstâncias do caso, que esta prática foi aceita pelas partes dando nascimento a um direito e a uma obrigação correspondente. Quanto às forças armadas, polícia armada e armas e munições, a situação era diferente. Parecia que, durante o período britânico e pós-britânico, as forças armadas e a polícia armada portuguesas não haviam passado entre Damao e os enclaves a título de direito e que, depois de 1878, tal passagem poderia apenas ter lugar com autorização prévia dos britânicos e depois da Índia, segundo um acordo recíproco anterior, ou em casos individuais: foi argumentado que a autorização fora sempre acordada, mas não havia nada nos registros para demostrar que a Inglaterra ou a Índia eram obrigadas a autorizar a passagem. Dessa forma, um Tratado de 26 de dezembro de 1878 entre a Grã-Bretanha e Portugal determinou que as forças armadas dos dois governos não deveriam entrar no domínio do outro, exceto em casos específicos ou em virtude de um pedido formal feito pela parte interessada. As correspondências posteriores demonstraram que tal disposição era aplicável à passagem entre Damao e os enclaves: Portugal citou vinte e três ocasiões em que suas forças armadas cruzaram o território britânico entre Damao e os enclaves sem obter permissão, mas, em 1890, o governo de Bombaim enviou uma reclamação sobre o fato de homens armados a serviço do governo português estarem habitualmente passando, sem fazer formalmente a demanda de uma porção de território britânico para a passagem na rota de Damao a Nagar-Aveli, o que significava um descumprimento do tratado. Em 22 de dezembro, o Governador-Geral da Índia Portuguesa respondeu: "As tropas portuguesas nunca atravessaram o território britânico sem autorização prévia", e o Secretário Geral da Índia Portuguesa determinou em 1º de maio de 1891: "Por parte deste governo, medidas serão tomadas para permitir a correta observância (. . .) do tratado". A solicitação de requerimento formal antes da passagem das forças armadas fora novamente salientada em um acordo de 1913. Para a polícia armada, o Tratado de 1878 e o citado acordo de 1913 regulamentaram a passagem sobre uma base de reciprocidade, e um acordo de 1920 determinou que abaixo de um determinado posto a polícia armada não deveria adentrar o território da outra parte sem consentimento prévio. Finalmente, um acordo de 1940 a respeito da passagem da polícia armada portuguesa na rota de Daman a Nagar-Aveli havia determinado que, se o seu número não excedesse a dez, a sua passagem deveria ser avisada às autoridades britânicas com uma antecedência de vinte quatro horas, mas, em caso contrário, "a prática atual deveria ser seguida e o consentimento das autoridades britânicas deveria ser obtido como anteriormente, por via de notificação prévia." Com relação à passagem de armas e munições, o Tratado de 1878 e as regras editadas em virtude da Indian Arms Act de 1878, proibiram a importação de armas, munições ou armamentos militares da Índia Portuguesa, assim como sua exportação para essa região sem licença especial. A prática posterior demonstrou que tal disposição era aplicável ao trânsito entre Damao e os enclaves. No entendimento da Corte, a prática estabelecida entre as partes exigia a permissão das autoridades britânicas ou indianas para a passagem das forças armadas, da polícia armada e de armas e munição. Portanto, não há interesse em determinar se, na ausência da prática que efetivamente prevaleceu, Portugal poderia fundar sua pretensão a um direito de passagem por estas categorias sobre o costume internacional geral ou sobre os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, costumes e princípios que Portugal igualmente invocou. A Corte estava lidando com um caso concreto de características especiais: historicamente o caso remontava a um período e referia-se a uma região na qual as relações entre Estados vizinhos não eram regulamentadas por regras precisamente formuladas, mas sim excessivamente governadas pela prática. Encontrando uma prática claramente estabelecida entre dois Estados, e aceita pelas partes para reger as relações entre elas, a Corte deveria atribuir efeito decisivo àquela prática. A Corte concluíra, portanto, que um direito de passagem em favor de Portugal, envolvendo uma correspondente obrigação da Índia, não fora estabelecido em relação a forças armadas, polícia armada, e armas e munições. Admitindo que Portugal tinha, em 1954, um direito de passagem para as pessoas naturais, funcionários civis e mercadorias em geral, a Corte por fim pesquisou se a Índia havia agido contrariamente à sua obrigação resultante do direito de passagem de Portugal para cada uma dessas categorias. Portugal não havia argumentado que a Índia agiu contrariamente a esta obrigação antes de julho de 1954, mas reclamou que em seguida foi negada a passagem a nacionais portugueses de origem européia, a nativos indianoportugueses a serviço do governo português e a uma delegação que o governo de Damao havia proposto, em julho de 1954, enviar a Nagar-Aveli e Dadra. A Corte concluiu que os acontecimentos de Dadra em 21 e 22 de julho de 1954 resultaram em subversão à autoridade portuguesa naquele enclave, criando tensões no distrito indiano vizinho. A respeito destas tensões, a Corte entendeu que a recusa indiana de permitir a passagem era legitimada pelo seu poder de regulamentação e controle do direito de passagem de Portugal.
Download