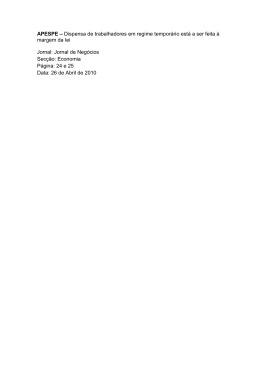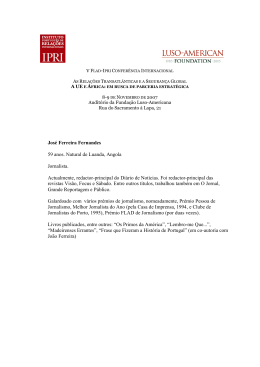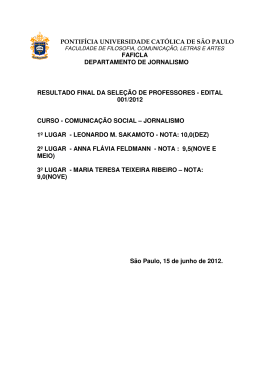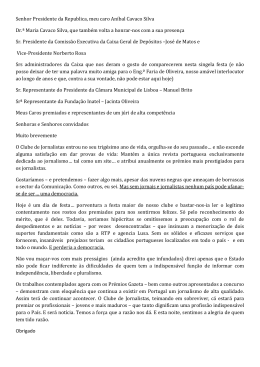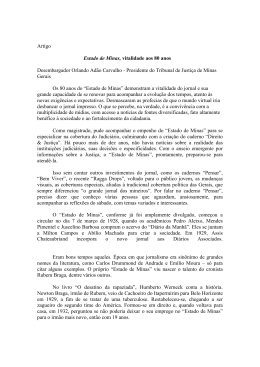Teresa de Sousa O percurso «atípico» de uma geração Teresa de Sousa representa o seu percurso profissional - e o do jornalismo português, com que se identifica de várias formas - como uma travessia entre o tempo excepcional, de improvisação e paixão revolucionária em que ingressou na profissão (os anos pré e pós-25 de Abril) e a actualidade, em que o país e o seu jornalismo se «normalizaram» (palavra sua recorrente). A inteligibilidade, o esclarecimento dos leitores, são para si um desígnio profissional e um prazer que retira da profissão. É muito exigente consigo e com os seus pares neste aspecto, exigência que chega a gerar «anti-corpos» dentro da redacção. Irrita-a particularmente a tendência dos jornalistas presumirem que têm razão e que os outros «são todos estúpidos» e considera que devia haver uma muito maior humildade intelectual. Leitora compulsiva, especialista de política internacional com vários prémios internacionais conquistados, frequentadora assídua de media e think-tanks na Internet, considera manter uma relação difícil com a universidade, onde mesmo assim participa, em aulas e conferências. Pedro Diniz de Sousa Palavras-chave: Lutas estudantis, 25 de Abril, PREC, Jornal Novo, Público, Europa, Relações internacionais, Think-tanks, Internet, Exigência profissional, Normalização Entrada na profissão No pós-25 de Abril, o legado de décadas de censura e a circunstância revolucionária obrigaram candidatos a profissionais e antigos profissionais a inventar a profissão. Ao tempo, ela não existia na sua essência de relativa independência face ao poder político. É natural que Teresa de Sousa, em 1976, ainda militante de movimentos maoistas, não tivesse modelos profissionais. Habituada a ler o Monde no exílio, para ela «não havia referências em Portugal...» Com excepção de um punhado de jornais que remavam contra a maré na imprensa escrita, «Era tudo fascistas, antes do 25 de Abril». Os modelos viriam muitos anos de experiência mais tarde e situar-se-iam na imprensa escrita britânica, no Financial Times e no Guardian, onde encontra «jornalistas excepcionais», «que fazem análises fabulosas». Evita as referências individuais, preferindo adoptar como referência «modelos de jornalismo», nomeadamente de origem anglo-saxónica. O quadro de acesso "normal" à profissão, composto por uma escolha precoce, hesitações, uma preparação académica, a assimilação de um conceito de profissão, a criação de expectativas e finalmente o confronto deste percurso com as práticas profissionais, passou ao lado desta geração de jornalistas. «Quando entrei na profissão, na véspera não pensava ir ser jornalista» e sublinha, «Estou-lhe a falar rigorosamente, na véspera.» Mas nesse dia de 1976, a sua experiência de redacção de notícias estava longe de ser novidade. O protagonismo na crise académica de 1969 na universidade onde tirava economia, o ISCEF (actual Instituto Superior de Economia e Gestão), levou-a a exilar-se em Paris até à revolução. Na capital francesa escreveu regularmente n'O Salto, jornal de extremaesquerda maoista dos emigrantes portugueses. Foram anos em que trabalhou para ter a sua independência, se bem que não precisasse, porque os pais viviam em Lisboa uma situação confortável de «média burguesia instalada» e prestavam alguma ajuda financeira. Trabalhou então como doméstica, babysitter, entre outras profissões: «fazia tudo aquilo que um exilado parisiense faz... fazia...» A escrita no Salto era apenas uma de entre várias actividades de militância política. Retomou a escrita em jornais durante o "PREC", n'A Voz do Trabalhador, órgão teórico do partido em que militava, o maoista PCP(M-L). Não identifica essa actividade militante como jornalismo: «Não, não tinha experiência de jornalismo, porque escrever no Salto ou nesses jornais, não era preciso saber o que era um lead, o que era uma notícia, não sabia nem nunca tinha reflectido sequer sobre isso, sabia escrever purissimplesmente. Sabia agarrar um acontecimento e pô-lo num papel sob a forma duma coisa que podia ser uma notícia, uma análise ou qualquer coisa assim.» Não seria portanto apenas o saber escrever, mas uma actividade politicamente comprometida, que à altura era praticada, como se sabe, por toda a imprensa, incluindo a dita de referência. No rescaldo do "PREC", surgiu a oportunidade de ingressar no Jornal ovo, um jornal não partidário. «Nunca tinha pensado ser jornalista na vida», refere, e foi assim, dum dia para o outro que foi a uma entrevista, foi aceite e começou a trabalhar. Mesmo esta rápida sucessão de tomadas de decisão não foi alheia a motivos políticos. O Jornal ovo era um dos poucos jornais privados que resistira à nacionalização da banca, claramente defensor da democracia de tipo ocidental e «era o único jornal onde o PC não mandava, portanto que as pessoas pensavam que tinha informação que lhes pudesse interessar sem cunho ideológico, ou orientação partidária...» No entanto, «embora fosse um jornal mais normal, mais parecido com o que é o jornal hoje, tinha uma vertente de combate à ideologia comunista muito forte e ao domínio intelectual dos comunistas». Ora o Jornal ovo decidira recrutar pessoas «na própria extrema-esquerda» com o objectivo claro de combater o referido controlo do PCP sobre a imprensa nacionalizada, promovendo uma visão pró-ocidental, que gozava da simpatia também de organizações da esquerda maoista. E será mesmo através dela que Teresa de Sousa receberá a primeira informação acerca da possibilidade de escrever no Jornal ovo. Ao fim de três meses de estágio tornou-se editora da secção Internacional, uma secção «ingrata», num tempo em que o país quase só falava de si: «tudo país, tudo país, (...) aliás o Internacional só tem importância nas páginas dos jornais desde que o Público é fundado, porque antes não tinha qualquer importância (...); vivíamos fechados sobre nós próprios». Na secção Internacional, Teresa de Sousa continuava a defender a visão maoista e anti-soviética, de tal modo que as páginas que dirigia chegaram a ser conhecidas nos meios jornalístico e político, «por graça», como «as páginas amarelas». «Portanto veja como eu não disfarçava, não é?» A ideologização das notícias era generalizada e ela recusa que se critique hoje essa forma de escrever sem uma contextualização muito forte em relação à segunda metade da década de 70 portuguesa. Segue-se a estabilização do regime e também das práticas editoriais, com as redacções progressivamente menos comprometidas com as lutas políticas e ideológicas... «Depois claro, a vida dos jornais normalizou e eu normalizei.» É neste quadro que, no final da década de 70, o Jornal ovo é substituído por A Tarde, onde prossegue como redactora. É portanto uma entrada na profissão impensável nos dias de hoje, como que um produto ocasional das voltas e reviravoltas do "furacão" revolucionário, onde embarcou desde muito antes do 25 de Abril, através de uma militância política convicta... («no dia em que pisei a redacção do Jornal ovo, nunca tinha lido na minha vida um livro a dizer o que é o jornalismo, como é que se faz uma notícia.») Ainda em 1979 entraria para os quadros da RDP, onde durante muitos anos faria rádio, sem nunca abandonar imprensa escrita. As passagens pelo Expresso e pelo Público completam um percurso que a levou a conhecer o mundo inteiro na qualidade de repórter e de analista. Recorda particularmente as reportagens do Golpe de Moscovo em 1990, a unificação alemã ou a Primeira Guerra do Golfo. Mas também as inúmeras viagens a Bruxelas e a muitas outras cidades europeias para fazer a reportagem de cimeiras e outros eventos relativos às questões europeias. Jornalismo e família Por confusa que a ideia soe a muitos jovens de hoje, a actividade política frenética dos anos da revolução não a impediu de ter três filhos e de os criar. É certo que a classe média recorria então com facilidade a uma empregada doméstica interna que cuidava das crianças. Era precisamente o seu caso. Podia ficar no jornal até tarde, porque «tinha uma pessoa em casa para dar de comer às crianças, dar-lhes banho, ver se elas estavam a dormir.» Mas havia também uma forma mais desprendida de constituir família, sendo muito mais reduzido o leque de condições materiais que hoje concebemos como "necessidades básicas": «no meu tempo fazia-se tudo por paixão, agora faz-se tudo por raciocínio». Seja como for, a circunstância de ser mãe de três filhos impediu-a de desfrutar do convívio fora da redacção, prática corrente no Bairro Alto do "PREC", onde pululavam as redacções de jornais e bares frequentados por jornalistas discutindo política até altas horas. Esta boémia passou-lhe ao lado por falta de tempo. «Eu sou um caso completamente atípico», desabafa. Por outro, o ritmo intrinsecamente irregular, inconstante, por vezes frenético da profissão, a que as novas gerações atribuem o efeito de perturbar a vida familiar e as relações com pessoas mais próximas, não teve estas consequências nocivas na vida de Teresa de Sousa - «nunca», sublinha. E explica-se, de forma algo lacónica: «Repare, eu antes de ser jornalista era militante política de uma organização de extrema-esquerda, portanto a regularidade da minha vida já não era propriamente...» A militância política em tempo de ditadura e depois de revolução constituíra uma aprendizagem intensiva de como encaixar a dureza da profissão na vida familiar, uma prova de fogo, uma vacina contra a ordem de perturbações afectivas que hoje sentem os jovens adultos, sujeitos a contratos familiares codificados também em função do tempo. A situação em que a sua vida profissional mais perturbação causou na família foi quando, já ao serviço do Expresso e do Público, se deslocou para zonas de guerra, onde passou por situações de risco. A institucionalização da profissão Do ponto de vista técnico, Teresa de Sousa não se poupa a elogios aos jornalistas de hoje - que conhece bem da redacção do Público -, quando os compara com os dos anos 70. Deontologicamente, a sua ideia é diferente, como veremos. A paixão, o interesse político e intelectual que abundavam nos anos 70 perderam-se, mas ganhou-se em competência profissional: hoje são «muitíssimo mais bem preparados do que eram no meu tempo», têm «um nível cultural mais elevado», embora reconheça que são claramente menos politizados, porque não passaram por uma «experiência desta natureza e portanto são cidadãos como os outros, normais». A paixão deu lugar à objectividade e isso beneficiou muito o jornalismo. Hoje «olham para os factos e para os acontecimentos duma maneira (...) muito mais objectiva, muito menos passional, e acho que isso melhorou extraordinariamente a qualidade do jornalismo em Portugal». Por outro lado, os jornalistas de hoje sabem «definir a profissão, exercer a profissão como outra pessoa qualquer, (...) economista, matemático, arquitecto ou médico». Ou seja, a democratização do regime associada à profusão dos cursos de comunicação social, terão contribuído para uma melhor clarificação dos contornos de uma actividade que ainda hoje vive, como mostraram os estudos de Rémy Rieffel, uma crise de identidade. Reconhecendo as «imensas» dificuldades por que passa a profissão e os profissionais, que atribui ao «mercado», à «concorrência», à «necessidade de captar audiências», não deixa de concluir reafirmando a melhoria «brutal» entre os anos 70 e a actualidade: «a qualidade dos jornais e da comunicação e da informação em Portugal é mil vezes melhor do que era nessa altura». Em relação ao público, queixa-se de que permanecemos um país pouco educado, com uma «elite educada muito restrita», e um universo de leitores de jornais não só muito mais pequeno como menos exigente do que os públicos de «países onde a imprensa tem uma tradição muito maior, os anglo-saxónicos e os nórdicos, todos os países europeus, os da Europa Ocidental desenvolvida». E sustenta que um dos aspectos mais influentes deste desfasamento, é que em Portugal o desenvolvimento do público dos jornais se dá ao mesmo tempo em que surge a televisão, o que baixou consideravelmente a «bitola de avaliação» da imprensa. Nos países alfabetizados há mais tempo, «primeiro as pessoas aprenderam a ler jornais e depois a ver televisão». Teresa de Sousa identifica outros públicos, como aquele que lê os seus artigos e com quem ela por vezes contacta directamente, por e-mail ou telefone. Este seu público é mais cultivado e, principalmente, constituído em parte por membros das classes política e diplomática que sofrem ou beneficiam do impacto político desses artigos. Jornalismo em Portugal: uma profissão chumbada Assume um profundo sentido (auto)crítico em relação à postura dos jornalistas e ao seu enquadramento institucional: «eu tenho um olhar muito crítico sobre os jornais, os jornalistas e a maneira como nós exercemos a profissão, muito crítico.» É, desde logo, uma profissão que proporciona abusos de poder e arrogância face ao outro que é chamado ao palco da notícia. Além do "dizer mal de tudo", encontra na classe outra ideia associada, «muito generalizada no jornalismo português» e ainda mais simplista, segundo a qual «os outros são os maus, nós somos os bons» ou «o jornalista nunca se engana». «Isso para mim é a regra mais perversa que há no jornalismo. Eu sou tão boa, tão má como os outros». Mas é uma regra com implicações directas na redacção das notícias e visível em instâncias como, por exemplo, o direito de resposta. Teresa de Sousa considera que há em Portugal uma interpretação errada deste direito: «há um abuso do direito de resposta, porque não há nenhum universo possível em que estatisticamente o jornalista tenha sempre razão e o outro nunca tenha razão». Perante a publicação de uma resposta ao abrigo desse direito, o jornalista pode ainda ripostar, desde que de forma educada, e isso não costuma acontecer: «a palavra educada é que eu sublinho, porque as respostas, é assim: "O senhor é um malandro, eu é que sei"». Reclama para si uma atitude diferente. Por várias vezes reconheceu erros cometidos por falta de informação. «A primeira coisa que eu faço quando me telefonam a dizer que eu errei, é dizer "Se calhar errei, vamos lá ver se não errei"». Quando, por exemplo, criticou a passividade do grupo parlamentar do PS após as intervenções do PCP e do BE acerca da crise no Líbano, recebeu um telefonema de um deputado do PS fornecendo-lhe o enquadramento em que a intervenção tivera lugar; compreendeu que errara e emendou o erro na crónica seguinte. Não considerou o telefonema como uma pressão, mas antes uma reacção normal num contexto político-mediático em que os jornalistas, insiste, não estão moralmente acima dos outros nem são porta-vozes da verdade. Acha portanto eticamente correcto que os gabinetes ministeriais ou até do Primeiro-Ministro (ou os partidos ou outras organizações) interpelem os jornalistas chamando-lhes a atenção para «que isto não é bem assim, que eu fiz uma má interpretação, ou que falta levar em consideração isto ou falta levar em consideração aquilo». Não vê estas situações como pressões mas como um «diálogo» legítimo entre jornalistas e protagonistas políticos, diálogo esse que no seu caso particular é regular. Cita algumas frases que se enquadram neste diálogo a que se habituou: «Vejam lá como é que tratam a entrevista», «Mas isso vai sair na primeira página?», «Mas se der uma entrevista tem uma referência?» O que no seu entender não é eticamente correcto é a acumulação do exercício do jornalismo com certas profissões, como as de político ou publicitário. «Não se pode ser jornalista e político. Pois não? Eu acho que não.» O riso que acompanha a frase sublinha a inverosimilhança. Por outro lado, os jornalistas não se devem assumir como seres «politicamente amorfos». Os que o fizerem, «estarão a aldrabar», porque ninguém é politicamente amorfo, tem-se convicções, vota-se por altura das eleições, etc. No seu caso pessoal, «toda a gente sabe que eu voto no Partido Socialista, sempre disse isso». No entanto, não concorda que um jornalista milite num partido, principalmente quando os partidos se assumem como «sítios de clientelas e de poder no pior sentido da palavra». Na mesma linha, não crê na objectividade: «A objectividade não existe, a objectividade é uma meta para você descrever os factos, mas você tem que ter a noção que quando está a descrever (...) tem toda a sua cabeça a olhar para eles, não tem só os olhos.» Pedimos-lhe também para situar, em relação à profissão, algumas actividades comunicacionais que estão na fronteira do jornalismo, como os chamados "produtores de conteúdos" ou os jornalistas de publicações empresariais ou institucionais. Como seria de esperar da sua perspectiva rigorosa, ela não os considera propriamente jornalistas. E enfatiza esta questão: «Acho que há um grande problema em Portugal neste momento (...) que tem que ser resolvido». O problema é que «dá-se carteira profissional a tudo e mais alguma coisa». Embora recuse veementemente o corporativismo, acha que a atribuição da carteira devia contemplar critérios deontológicos e custa-lhe ver situações em que alguém obtém uma carteira «porque fez uma brochura, aliás muitas vezes pouco jornalística». A solução para o laxismo em relação à carteira profissional, que conduz a uma «diluição do conceito de jornalista», poderia passar pela Ordem dos Jornalistas, uma vez que «o Sindicato se devia preocupar com isso e infelizmente não se preocupa». Expõe de resto uma visão muito crítica da actuação do Sindicato dos Jornalistas, dum modo geral. Na sua opinião, não acompanhou a tendência individualista das sociedades, com realidades laborais cada vez mais baseadas em contratos individuais e relações individuais de trabalho. Considera que os jornalistas não estão bem enquadrados. «Acho que os problemas da profissão têm muito mais a ver com a forma como ela deve ser exercida do que com a reivindicação salarial ou de condições de trabalho». Embora reconheça que não pensa muito nestas questões, afirma que não se sente representada pelo Sindicato «de maneira nenhuma»; é sindicalizada, continua a pagar as quotas, mas «(...) talvez uma Ordem faça mais sentido, nunca pensei muito no assunto, talvez sim, talvez não, só lhe estou a dizer que este sindicalismo não me representa». O Sindicato «não pode representar uma classe, porque as coisas já não são assim, (...) quer dizer, tem que ter uma concepção mais individualizada, e os jornalistas precisam mais de quem se preocupe com o exercício da profissão». Mais tarde falará de grandes transformações sociais que o justificam: «tivemos um período de grandes transformações, que não são só as geoestratégicas, são transformações das sociedades... (...) as classes deixaram de existir, existem muito mais grupos, pessoas, é tudo muito diferente (...).» Outro aspecto que considera negativo é o facto de os meios não controlarem o sensacionalismo como forma de angariar audiências. Pedimos-lhe uma opinião sobre o recurso a esta prática pelos telejornais e a imprensa escrita e a resposta não surpreende: «encaro isso com um profundo cepticismo e com um profundo espírito crítico (...) ...o jornalismo não pode ir por aí.» Mas num mercado fortemente competitivo e em crise, a viabilidade económica invade os territórios editoriais. Perguntamos-lhe por isso como encara o sensacionalismo enquanto estratégia de sobrevivência. «Encaro mal por duas razões: por uma razão ética e deontológica. Não é assim que a profissão deve ser exercida para que se mantenha uma confiança (...) dos leitores em relação ao produto que compram ou que vêem, tem de haver regras do jogo. (...) quando essas regras do jogo são distorcidas porque convém comercialmente, estamos a alterar a relação de confiança com os leitores». A segunda razão que invoca é o facto de o sensacionalismo, em jornais sem o formato de tablóides, não ter o resultado pretendido comercialmente a médio prazo: ele provoca a ruptura com o «contrato» estabelecido inicialmente entre o jornal e os seus leitores: «os jornais vivem da confiança que estabelecem com os leitores, do contrato que estabelecem com os leitores e os leitores num país normal, civilizado como é Portugal já, europeu, (...) começam também a não comer gato por lebre.» Relações profissionais: afinidades e «anti-corpos» Passamos ao âmbito da sua realidade profissional. Se os jovens jornalistas se queixam normalmente da pressão de ambientes com uma forte competitividade interna, ela não a sente: «com o meu estatuto no jornal eu não ando a competir mais ou menos com ninguém». Enquanto redactora principal, não está dependente do quadro hierárquico da redacção do Público, mas apenas do director: «estou ao lado, sou redactora principal, posso escrever em qualquer secção do jornal». Outros factores facilitam o relacionamento com as chefias do jornal, ao ponto de referir essas relações num tom afectuoso e familiar. Primeiro, o facto de o Público ter uma cultura própria, pouco hierárquica, em que as decisões são tomadas após debates entre todos: «Este jornal distingue-se dos outros; a hierarquia é muito reduzida; não é? Não há o chefe, depois o outro que recebe a instrução e faz. Aqui, de facto toda a gente discute sempre tudo e protesta com tudo, é uma cultura que a gente herdou do Expresso.» Há na redacção do Público «um espírito crítico muito permanente e muito activo», que também era característico do Expresso e que no seu entender é pouco comum na imprensa portuguesa, constituindo uma mais-valia. Quando nos refere, por outro lado, que é «colega do director do jornal desde tempos imemoriais» e que José Manuel Fernandes «entrou para os quadros do Expresso no mesmo dia que eu», apercebemo-nos de um sentimento de pertença a uma família que teve o Expresso como casa-mãe e o Público como o veículo através do qual um grupo de "irmãos" - com um percurso em grande medida comum, marcado por afinidades profundas desde os anos 70 - conseguiu a sua emancipação, concretizando-a num projecto também comum, que significou a ruptura bem sucedida com essa "tutela parental". É lícito relacionarmos a posição confortável de que Teresa de Sousa goza na redacção do Público, não só com o seu elevado estatuto profissional, como com o percurso comum que trilhou com outras figuras destacadas do jornal. Mas o Público é hoje uma «redacção gigantesca», com centenas de jornalistas; e se ela reconhece na generalidade destes colegas uma excelente qualidade profissional, confessa também que o seu feitio muito exigente em termos profissionais cria entre eles alguns «anti-corpos»; «bastantes», acrescenta. É com a voz pausada que esclarece a situação: «um jornalista tem que saber o que está a fazer, o que está a escrever, tem que ter uma atitude moralmente correcta quando faz as coisas, tem que saber escrever bem, tem que explicar bem aos leitores». A clarificação, o esclarecimento é no seu entender uma das principais missões dos jornalistas e muitas vezes não encontra esta preocupação nos colegas: «fazer uma notícia que o leitor leia em casa e diga "Não percebi nada do que disse" é uma coisa que me irrita, isso acontece nos jornais imensas vezes infelizmente.» Em suma, «acho que é uma profissão que exige das pessoas uma atenção constante, de toda a natureza, do rigor, da apresentação, da escrita, da inteligibilidade e também da ética (...), além de estarmos a descrever um facto e a interpretar um facto, temos que ter a noção que o facto envolve pessoas». O desencontro entre esta sua concepção muito exigente e a prática de muitos colegas leva-a a «ter conflitos aqui dentro...» Quando mais tarde regressamos ao tema dos "anti-corpos" na redacção, acrescenta que algumas pessoas a acusam de ser «muito arrogante», o que recusa, considerando que a sua atitude é antes de exigência ética, humana e responsabilidade profissional. Uma ideia que, na sua opinião, fez e continua a fazer escola em Portugal irrita-a particularmente: a de que «"se eu disser mal está bem"», ou seja, o dizer mal como condição suficiente para abordar um assunto no jornal. Ideia que surge associada, adianta, à facilidade de dizer mal de pessoas importantes, quase sempre de forma ligeira. «Diz-se mal de tudo» ou «são todos estúpidos», ironiza, com um sorriso. Práticas profissionais: o valor da inteligibilidade A clarificação, o esclarecimento dos leitores é um dos seus desígnios profissionais e o grande prazer que retira da profissão. Frequentemente recebe contactos de leitores expressando-lhe reconhecimento pela clarificação que as suas análises proporcionaram. A frase «"finalmente percebi" aparece muito no correio que eu recebo» e é motivo de grande satisfação. Volta a este feedback dos leitores por mais de uma vez na entrevista. Quando falamos das conferências para que é convidada, por exemplo: «Mas gosto muito, quando às vezes vou a conferências (...), de ouvir pessoas dizerem-me essa frase que me dizem muitas vezes, a frase talvez que consola mais: "Finalmente eu percebi o que se passava, tive de a ler para perceber", esta frase adoro.» Principalmente quando o feedback positivo parte de pessoas que admira intelectualmente. A inteligibilidade é portanto um valor essencial, que transmite em primeiro lugar aos estagiários e que exige dos seus pares. Quando diz «A primeira característica duma notícia, seja ela uma breve, seja ela uma análise ou um comentário é inteligibilidade», pronuncia sílaba a sílaba esta última palavra. É claro que esclarecer a jusante implica estar muito bem informado a montante, ao nível das fontes, assim como ter bons conhecimentos teóricos. Aproveitamos o facto de a entrevista decorrer em plena crise do Líbano para perguntar qual é a sua metodologia de trabalho, as fontes de conhecimento e de informação, tanto em casos críticos como o de Julho de 2006 como no quotidiano. O nosso diálogo em torno de jornais e revistas de referência, instituições internacionais e think-tanks prolonga-se por um bom bocado. Dele sobressai, claramente, o lugar central, imprescindível, que a Internet ocupa no dia-a-dia como fonte de conhecimento e de informação, mais ainda do que como meio de comunicação. A pertinência da Internet é mais acentuada quando o objecto de análise são questões relativas a países em cujos jornais on-line pode encontrar um maior aprofundamento dos assuntos, e num contexto em que cada dia traz novos desenvolvimentos, novos pontos de vista, que não é prudente ignorar e que só através da Internet conseguem ser seguidos. Se a um cientista social, por exemplo, é suficiente a literatura impressa e a análise empírica, uma vez que a definição do objecto está sujeita a pressupostos teóricos que mudam a um ritmo lento, a um analista de política internacional com o seu estatuto é essencial, não só o conhecimento da actualidade, com toda a bagagem teórica que pressupõe, como o respectivo aprofundamento quotidiano; neste particular a Internet constitui um manancial riquíssimo, a par dos livros que vai lendo e dos jornais impressos que recebe na redacção. De tal modo, que dificilmente imagina a possibilidade de voltar a escrever sem Internet: «Para mim, já é uma impossibilidade, e palavra de honra que não sei, devia-me dar muito mais trabalho... e devia saber muito menos, com certeza...» O seu browser abre, de manhã cedo, com o site da BBC News, «porque assim sei sempre o que é que se está a passar». É frequente consultar então os grandes jornais norte-americanos, o ew York Times e o Washington Post, jornais alemães com sites em inglês, «como o Spiegel e outros» e os jornais ingleses e franceses que não recebe na redacção em versão impressa. Casos do Guardian ou do Figaro. A procura de análises, entrevistas ou dados em bruto pode então passar por vários outros caminhos... Além dos sites de jornais (para temas europeus privilegia os ingleses e os franceses), visita regularmente os sites de think-tanks... Da sua navegação diária fazem parte o Council for International Relations de Washington, o Brookings Institution («clintoniano», informa) o Centre for European Reform e a Chatham House, ambos de Londres ou o Institut Français de Relations Internationales de Paris. Subscreve newsletters emitidas por alguns destes jornais ou think-tanks, informando das novidades editoriais. À medida que designa sites, vai apontado para o écran com entusiasmo: «olhe, está a ver?, tem uma entrevista com uma especialista, vê o que eles me mandam? (...) ...tem o American Entreprise Institute que lhe diz que... (...) Depois tem aqui... Vê a utilidade disto? Isto é fantástico... (...) é maravilhoso...» E prossegue: «Por exemplo, aqui tinha... Israel, temas da actualidade, o Castro, já está aqui, o nuclear iraniano tem sempre «Reflexões sobre», a NATO acabou de tomar conta de todo o território do Afeganistão, já tem aqui «Special Report», não está a ver?» Outra mais-valia fundamental da World Wide Web é o acesso directo aos documentos oficiais - discursos, declarações oficiais, relatórios, leis, etc. Ele significa o fim da dependência das agências noticiosas, que se faz sentir, por exemplo, pela selecção/omissão de partes desses documentos. Agora, nos sites dos gabinetes governamentais, das instituições internacionais ou de organizações nãogovernamentais, essa documentação é disponibilizada pouco depois de ter sido produzida, permitindo a recolha em primeira-mão. Como conclusão da breve visita guiada a este circuito ciberjornalístico, adverte: «Eu e as outras pessoas aqui no jornal, não sou a única que faz isto.» Também usa constantemente o e-mail, como é normal no meio, para combinar as entrevistas e trocar impressões com especialistas. Isto apesar dos efeitos colaterais do e-mail que todos nós conhecemos, como «a oferta de Viagra, todas as manhãs». Seria aliás impossível beneficiar do contacto dos think tanks sem estar muito familiarizada com a cultura do e-mail, porque «eles vivem do e-mail». As suas fontes de conhecimento passam pela leitura de livros e revistas. Em primeiro lugar, os livros de História, com os quais aprende «muito muito muito muito». Considera-se uma «compradora compulsiva» de livros e, como muita gente nos dias que correm, dá por si a comprar livros que depois não terá tempo para ler. Venera em particular as biografias. Já leu dezenas de biografias de figuras da política mundial do século XX e portuguesas também. Depois de referir um conjunto de exemplos - Jean Monnet, Charles de Gaulle, Churchill, Adenauer, Kohl ou Mitterand -, assegura que aprendeu muito mais da política europeia a lê-las do que a ler «não sei quantos ensaios», com a vantagem de ser uma leitura muito mais agradável. Aproveita as férias e os períodos de lazer para as leituras, que em boa parte coincidem com a temática da profissão. Por vezes, «infelizmente» não consegue distinguir a profissão do lazer: «até nas férias tenho de me levantar e comprar o Financial Times...» Quanto a revistas, principalmente as anglo-saxónicas, que recebe no jornal: Newsweek, Time, Economist; e também duas revistas que considera muito bem feitas e muito bem escritas: o Spectator e o Prospect - «Uma maravilha». Relação difícil com a universidade Como especialista de temas europeus, Teresa de Sousa tem uma relação intensa com o meio académico, proferindo conferências e sendo convidada para leccionar disciplinas de cursos superiores. Mas interiormente, intelectualmente, é uma relação difícil. Nas suas palavras, «Eu tenho uma relação muito... esquizofrénica com o meio académico, na minha cabeça». Em relação ao meio nacional, queixa-se da falta de produção científica em relação a temas europeus e também da sua reduzida dimensão, na área das relações internacionais. Além disso é uma área que, até há bem pouco tempo, ainda nas suas palavras, se manteve centrada nas relações de Portugal com as antigas colónias, quase ignorando a realidade europeia. Este panorama terá mudado nos últimos anos, com o aparecimento de institutos de investigação ligados às universidades, como o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais ou o Instituto Português de Relações Internacionais, cujos estudos e publicações acompanha regularmente: «já começa a haver, o Minho tem uma investigação sobre as questões europeias muito razoável, a Universidade Nova tem uma investigação sobre as coisas europeias muito razoável, já começa a haver, mas levou tempo para haver, se quer que lhe diga...» Por outro lado, lemos uma tensão geracional nesta dificuldade de lidar com a academia. Se o acesso à carreira de jornalista está hoje muito ligado à licenciatura na área, quando Teresa de Sousa entrou para o Jornal ovo, não havia em Portugal cursos superiores de jornalismo. Como muitas pessoas da sua geração, viu a conclusão do seu curso universitário (de Economia, em 1969, no ISCEF, actual Instituto Superior de Economia e Gestão) interrompido pelas circunstâncias da época, embora mais recentemente tenha concluído uma pós-graduação. Portanto, tanto a aprendizagem do ofício de jornalista como a aprendizagem teórica de ciência política, relações internacionais e temas europeus passaram menos pelos cursos superiores e mais por um longo percurso de leituras, de dedicação à teoria, mas acima de tudo, e em ambos os casos, pelos anos de juventude marcados por uma prática política militante, num quotidiano profundamente politizado, de que a teoria era a justificação intelectual. A acção política no terreno (e não nos bastidores dos partidos de cartel que emergiriam no regime) constituiu o germe do seu percurso de jornalista. Como reconhece, nos primeiros anos de redacção, «eu tinha de diferente das outras pessoas, da maior parte das pessoas ali, para aí cinco ou seis anos de combate político intenso e de compreensão ideológica e política da realidade, tinha esse trunfo. E portanto olhava para o mundo, olhava para os acontecimentos e tinha capacidade para os interpretar, capacidade política para os interpretar.» Ou seja, é um percurso que não seguiu os padrões das gerações mais novas, socializadas no contexto institucional da democracia política e da profissão ligada à licenciatura. Hoje, nem os jornalistas nem os académicos têm o privilégio de encontrar o seu caminho profissional na entrega à realidade exterior e a causas políticas. Teresa de Sousa, como certamente muitos colegas da sua geração, não beneficiou de todo o enquadramento institucional com que os actuais jornalistas, académicos e políticos acedem, sem sobressaltos, às suas profissões. Prós e contras do estatuto proeminente Interessou-nos saber como gere o facto de ser uma opinion maker em assuntos europeus e portanto uma referência influente na cena política. Como se reflecte esse estatuto nas práticas profissionais, na relação com os políticos, na relação com a escrita? A capacidade de influência das suas análises produz por vezes polémicas e desavenças com figuras públicas, chegando a afectar relações de amizade. É com tristeza abafada que nos fala do caso de Freitas do Amaral, personalidade por quem tem enorme admiração e com quem tinha uma relação de amizade, até ao tempo em que este, então ministro da defesa, leu alguns artigos de Teresa de Sousa muito críticos da sua actuação e que davam a entender que o professor «não podia chefiar a diplomacia portuguesa». A partir daí, «ele agora quase que não me...» O episódio ilustra o «preço que a gente às vezes paga e custa-nos muito a pagar», um preço mais elevado quando se tem maior capacidade de influência. É «o outro lado da profissão», o ter amigos no campo político que, por força das circunstâncias, se critica publicamente. Uma situação eticamente difícil, tanto a nível pessoal como profissional e da qual não se sai sem máculas, como reconhece: «Há pessoas que eu respeito imenso, de quem sou amiga que são políticos em Portugal de há muitos anos e que eu acho que são óptimos (...), e que quando preciso de os criticar sofro imenso e se calhar até critico menos, porque eu sou também como os outros, sou humana, sou feita de carne e osso, às vezes devia criticar mais e critico menos, está a perceber?» Quando foi condecorada com a Ordem de Mérito do Estado Francês, também houve um "outro lado". A cerimónia calhou numa semana em que a jornalista escrevia «todos os dias» artigos muito críticos em relação à França, de tal modo que o embaixador ironizou: "Vou dar uma condecoração à pessoa que mais mal da França diz neste momento em Portugal". Teve a seguir que justificar perante a audiência «porque é que dizia mal da França». Mas este episódio acaba por ser feliz, ao simbolizar a natureza da sua especialidade profissional: quando exercida com seriedade, sem concessões, não são as fricções que possa provocar que lhe retiram o mérito. A capacidade de influenciar e suscitar reacções na alta política é também gratificante. «Toda a gente gosta de ter influência na sociedade, não é?» Se a gratifica saber que leitores anónimos ficaram esclarecidos, compreenderam a realidade pelas suas análises, agrada-a também o facto elas serem lidas regularmente por figuras da alta política. Quando é contactada directamente por estas a propósito do que escreveu, sente-o como «flattering», «lisonjeiro», mesmo quando os comentários são de irritação ou discordância: «sou humana». Uma euro-optimista Perguntamos-lhe se partilha do cepticismo, comum entre os analistas, políticos em relação à ideia de Europa, que chega a traduzir-se no uso do nome do continente entre aspas. «Não, não, não, pelo amor de Deus! Eu sou euro-optimista absoluta.» E justifica-o: «Há uma identidade política que a Europa decidiu construir a partir da sua própria experiência histórica e a identidade europeia é uma identidade política (...): construída a partir de valores políticos, de princípios políticos. Não de valores religiosos ou de valores culturais ou de valores étnicos: valores políticos. A Europa disse assim: "A nossa identidade tem de ser aquilo que a gente tem de melhor; o que é que a gente tem de melhor? Os direitos humanos, a liberdade, a democracia e a tolerância."» Será então uma identidade «muito forte» construída a partir destes valores políticos. Mas o que dizer da fragilidade geoestratégica da Europa face a outros pólos de poder? Teresa de Sousa explica-a pela herança das duas guerras mundiais, que deixaram o continente economicamente e moralmente devastado. No pós-guerra, «os Americanos apostaram a sério e forçaram a unificação política da Europa. A gente agora é que pensa que foi uma ideia nossa, que somos muito espertos e eles é que são os burros, mas não é nada assim.» A grande força estratégica da Europa residirá precisamente na diversidade das suas nações e no facto de elas constantemente competirem entre si... «A Europa tornou-se a maior potência durante cinco séculos, não é, e dominou o mundo durante cinco séculos, porque era diversa, porque era competitiva, porque era conflituosa... Isso dá-lhe um dinamismo muito grande». Assume-se de esquerda, embora considere que, em muitos assuntos, a direita tenha a razão do seu lado. A ligação à esquerda é por vezes uma motivação afectiva: «a minha afectividade, a minha emoção torna muito difícil votar à direita». Mário Soares é a sua grande referência política. Além de serem amigos, considera-o alguém com capacidade para «ver mais além do que a gente vê», mesmo agora com os seus 82 anos e apesar dos «ataques de esquerdismo». Foi sempre nele que votou quando se candidatou à presidência, inclusive em 2006 («nunca deixaria de votar no Dr. Soares»). A forte ligação política a Mário Soares revela-se, por exemplo, quando escolhe quase instintivamente a sua figura para caracterizar numa frase a imprensa do pós-25 de Abril alegadamente dominada pelo PCP: «Quem lá escrevia tinha que dizer que o Dr. Soares era fascista». De resto, é uma admiração perfeitamente assumida. Soares é «o político português que mais admiro» ou «uma pessoa completamente... acima daquilo que alguma vez este país teve», em termos políticos mas também humanos. Viagens e lazer Já vimos que as viagens acompanharam a vida adulta de Teresa de Sousa. Além do exílio em Paris, correu a Europa e o mundo como repórter. O jornalismo e as conferências para que é convidada levaram-na a conhecer, por exemplo, «o Brasil todo», o Japão, a China e a Coreia. Além disso, as viagens de férias. Quando os seus filhos dependiam de si, viajava com eles regularmente, em Agosto, de «carro ou de avião, depende das distâncias, pela Europa». Depois de tantas viagens e tantos destinos, considera-se agora «comodista» e sem vontade de se deslocar a sítios distantes: «são longe, umas viagens muito grandes, uma chatice. Agora gosto de viajar o mundo ocidental, a Europa.» A sua ligação a Paris tornou-se vitalícia. É uma cidade onde sente necessidade de regressar com regularidade: «de vez em quando preciso de ir a Paris carregar baterias». Como vimos, uma parte das suas leituras no tempo de lazer relacionam-se com assuntos políticos e europeus. Mas só uma parte. Nos jornais e revistas interessa-se pelas secções de sociedade e de cultura, por exemplo. Lê romances, mais de escritores estrangeiros do que portugueses. Diz-nos que leu de um fôlego o último romance de Salman Rushdie, Shalimar, o Palhaço. E «quando quero descansar leio policiais que adoro...» Aprecia cinema, teatro e música (brasileira, muito especialmente), mas a falta de tempo afasta-a das salas de espectáculos. Agora aluga DVDs, que vê em casa num écran de plasma. Quanto ao teatro, prefere ir vê-lo a Inglaterra, onde a sua filha vive: «sempre que posso vou ver uma peça de teatro em Inglaterra, porque aquele teatro é maravilhoso, é muito bom, aqui vou pouco, vou de vez em quando, mas não muito, gosto mais de cinema do que de teatro...» Não tem ido a concertos de música embora tencione aproveitar a próxima vinda a Portugal, ainda em 2006, de Chico Buarque. «Adorava ter ido ontem ao Caetano, que adoro».
Download