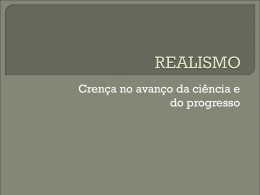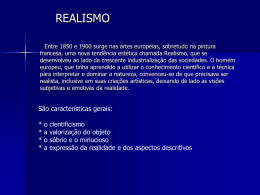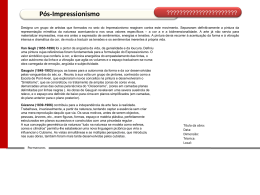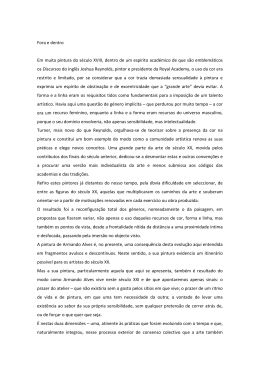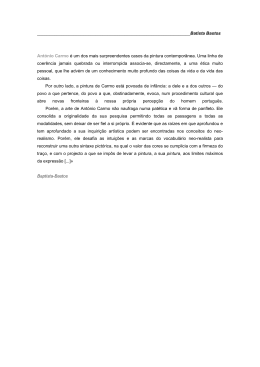Onde há verde, é preciso por uma imagem. Ver cd anexo. Maria Tomaselli - O lugar do nomadismo Márcia Tiburi Museu Brasil, quando a história começa pelo fim Maria Tomaselli tornou-se artista na contramão de uma tendência bastante geral entre artistas brasileiros de buscarem no exterior o fundamento de sua formação. Ela chegou ao Brasil em 65, livre do pensamento colonizado de que o que estava fora daqui era o melhor. Assim, sem comprar a idéia de que o Brasil deveria ser superado ou reinventado, ela viveu o lugar da chegada como o outro que se fez próprio. Como casa onde se habita. Gostaria de explorar a idéia de que o Brasil foi e é a casa de Tomaselli. A casa é o lugar de referência, o lugar ao qual cada um pertence, onde se encontra o aconchego. Onde nos nos mimetizamos. Se a casa é a imagem de uma referência, Maria Tomaselli, contudo, nunca deixou de ter a Áustria e a pequena cidade tirolesa de Innsbruck como referência. Não é possível aplicar à análise de uma obra o que nos revela a condição de um lugar, como se Paris estivesse em Matisse, como se Porto Alegre estivesse no que Iberê Camargo pintou. Não há matemática da obra que resolva este problema. Não me refiro, quando falo destes lugares, a uma geografia forçada, nem muito menos a uma história que pudesse ser capturada simplesmente na obra. Refiro-me a imagens intuitivas que soam como reminiscências, desejos e impressões que vem morar na pintura e, morando nela, vem dizer a vida do artista, mas indo além, a experiência que dá vida à obra. Assim, gostaria de falar de uma casa, como se fala da casa de Ulisses, e a viagem que o levou ao seu locus tão interior quanto exterior, tão pessoal como universal. Assim é que não há uma única casa, a casa onde se está rememora ou nega a casa de onde se veio. Tomando a casa como uma metáfora podemos compreender a relação da artista com o lugar, composto de tempo e espaço. Há uma casa anterior e uma nova casa, assim como uma casa interior e uma casa exterior. Comecemos por pensar nesta casa exterior onde ela vive hoje e onde desenvolveu sua arte. Pensemos, em primeiro lugar no lugar Brasil e na arte brasileira, aquela que nasceu com o Brasil e sua história como colônia. Para muitos, este é o aspecto mais essencial da cultura brasileira e não apenas da arte. Uma interpretação convencional que captura facilmente pelo seu forte poder explicativo. Não é possível assumir hoje, após tantas pesquisas antropológicas e sociológicas que nos ajudam a entender a específica condição brasileira – moderna, pós, ou mesmo extra-moderna - , que o Brasil seja mais colônia que experimento, mais simulacro do que hibridação. A pergunta “o que é o Brasil?”, ao não ter consistência fora do campo jurídico, nos serve hoje apenas para sinalizar uma busca, não pela identidade pressuposta que acoberta a busca legítima, mas pela experiência histórica que agrega também as fantasias, a história do imaginário sobre um objeto e uma relação particular com o conceito ou a idéia de algo como o “Brasil”. A aparição do imaginário do Brasil na arte de Maria Tomaselli que vai desde as obras com temáticas indígenas até as gravuras da oficina Guaianases (imagens), revela-nos o mistério que se coloca como o que não se pode desvendar, quem sabe proteger contra as angústias de explicação. Mas não penso que possamos simplesmente anotar os conteúdos ou os temas “brasileiros” na gravura e na pintura de Maria Tomaselli para entender a relação da artista com o Brasil. A gramatura da obra é feita de camadas sutis que podemos definir pela idéia do espírito. Assim me parece mais interessante entender a artista estrangeira no Brasil que, na contramão do anseio geral pelo saber estrangeiro e pelo modo de ser e de se fazer da arte internacional, se dispõe a viver no Brasil quando todos os artistas brasileiros queriam viver no estrangeiro, a antiga forma de adquirir a distinção como artistas importantes. Assim é que o sistema das artes no Brasil criou uma teoria do artista brasileiro – aquele que é ungido fora do Brasil como artista - que deriva de uma teoria do Brasil como derivado do estrangeiro, como colônia que apenas deixou de ser – e apenas relativamente - no campo das artes em meados do século XX. Saber que o Brasil também é feito das teorias que criamos sobre ele diminui a prepotência do jogo em que está inscrito o discurso das definições. A arte talvez nos ensine mais sobre o Brasil e ao Brasil do que o Brasil ensina sobre e à arte. A arte feita da imaginação assumida, talvez seja algo mais concreto do que o “Brasil” que não assume seu momento imaginário. Por isso, importa apenas entender o objeto Brasil como algo experimentado na vida de uma artista como Maria Tomaselli. O Brasil de Tomaselli é seu, mas que traço particular ele veio a ter? O mesmo se pode dizer da história da arte. Uma história da arte conseqüente – que respeite seu objeto pela autocrítica sempre necessária - precisa levar aquela primeira condição de colônia em conta, mas também a história da construção de um outro mundo, que nasce na contramão, como sobra, ao mesmo que esperança de uma relação viva com a alteridade real. Precisa, sobretudo, voltar-se criticamente à fantasia de que haja uma definição de Brasil. Voltar-se à fantasia de que haja uma arte brasileira única que devém da fantasia da história, da fantasia criada pelas interpretações. O combate ao espírito fantasista não deve ser acobertamento da realidade da fantasia. A história da arte persiste porque ainda podemos ter o nosso museu do imaginário. O historiador Hans Belting diz que se esgotou o modelo de uma cultura histórica, que teve fim a tradição que serviu de modelo até aqui, aquela que definia por “enquadramento” a arte como coisa de museu (2006. p. 25). Mas ao mesmo tempo, a idéia de museu persiste renovada. Me parece que a melhor definição de algo como “Brasil” seja hoje a de um “Museu”. Maria Tomaselli tem a ver com isso. O que vem a ser um museu hoje não é o mesmo que significou no passado. O Museu contemporâneo não é mais lugar apenas de memória – nem do exotismo da memória que fez do museu um mero lugar de guardados. Museu é lugar de experiência de contemplação. É mediação, pois a cultura na estrutura digital que a caracteriza exige hoje esta nova relação com as coisas. É espaço semiótico em que a sobra da cultura requer reinterpretação e em que a cultura presente pode ser conhecida[1]. Maria Tomaselli encontrou o Brasil por diversos caminhos em sua experiência. Mas é curioso que também tenha descoberto o Brasil primitivo, aquele Brasil pré-industrial, como imaginário indígena na exposição Hiléia Amazônica dentro do MASP. O Museu para além da fantasia nacional e internacional, para além de um registro jurídico foi para Maria Tomaselli uma forma de descobrir o Brasil que julgo importante para entender o cenário, a iconografia e a simbólica de alguns aspectos da obra de Maria Tomaselli, mormente a figura da casa sobre a qual dedicarei nosso tempo neste texto. No entanto, gostaria ainda de me deter por mais um tempo na questão do Museu Brasil. Questão delicada, pois somos carentes de uma tradição que caiba em um museu. Temos, neste território chamado Brasil, que nos haver com uma modernidade que nunca se contrapôs a nada, como se aqui uma pós-modernidade existisse antes da ruptura com a própria modernidade. Estas diferenciações são, sem dúvida, capturadas em um contexto geral do qual fazemos parte apenas como resto, ou como sobra da história. Mas é mais correto dizer que aqui começamos as coisas pelo fim, do mesmo modo como um dia Tomaselli começou a pintar, nas ruas dos morros de Porto Alegre, antes de ter professores e longe dos tradicionais cursos de artes das academias. Ela teve mais sorte – este misto de paixão e virtude - do que os brasileiros que pondo o carro na frente dos bois quando aqui tudo começa pelo fim, raramente se dão bem. Este modo de começar as coisas pelo fim, que para muitos pode representar a chance de que nada aconteça, talvez seja o melhor lugar para se ocupar no cenário da crise da história em que seu fim está sempre em jogo inaugurando uma nova “originariedade”: seguimos vivendo, ainda que não seja mais possível viver, seguimos narrando, ainda que não seja mais e possível narrar, seguimos fazendo arte embora ela tenha chegado ao fim, e seu nome contemporâneo ou moderno, pré ou pós talvez não venha ao caso. Maria Tomaselli segue pintando desde os tempos em que o sistema das artes quase desclassificou a pintura. Assim, a questão do Museu Brasil precisa ser avaliada desde que nossa história começa pelo fim. Do avesso como uma coisa feita para ver do avesso, como memória, memento, morte. É neste lugar invertido chamado Brasil - que começa a parte mais essencial da história de Maria Tomaselli, uma história que precisa ser pensada, portanto, dentro do contexto da pós-história. Talvez aquilo mesmo que possamos chamar sua história contra a idéia de uma pré-história que antecede a chance de traçarmos sobre ela uma narrativa (ainda que se pretenda anti-narrativa, ou o menos narrativa possível porquanto tente escapar das artimanhas do mero discurso) à medida que a pensaremos como uma artista brasileira, embora não o seja exatamente e, por isso, talvez o seja mais, por ser estrangeira, escapando sempre do sentido estrito de cada uma destas classificações. É esta báscula que cabe ter em mente na reflexão sobre Maria Tomaselli. A história de sua arte não é a história do Brasil, assim como a história da arte brasileira não seria a sua senão como arte na história de um determinado Brasil – assim como muitos falam de um Deus pessoal, podemos falar de um Brasil pessoal? – que nasce de seu encontro com o estranho. Não se trata, neste texto, de mero gosto pelo paroxismo, mas de entrega à aventura dialética que permite ver o outro lado daquilo que sempre parece mais evidente. Eis o teor da obra de Maria Tomaselli, algo que se apresenta na gramatura de sua arte como veremos. Buscar compreendê-la, portanto, é algo que exige equilíbrio sobre uma corda que separa mundos enquanto os une como um fio delicadamente tenso. Falaremos, portanto, de certos aspectos históricos da obra e da vida da artista, mesmo que não se possa falar em sentido estrito de história quando se põem em cena argumentos no contexto do “fim da história” que aqui também adquire seu sentido mesmo que seja o de que as coisas não acabam, mas começam pelo fim. Trata-se, como foi dito, de tentar compreender a vida da artista a partir de um ensaio, mais do que de uma narrativa capaz de criar uma história para a artista que, em si mesma, prescinde disso tudo. O objeto – a arte e a própria vida - não se esgotam em nenhum ensaio, em nenhuma narrativa, que não passa do eterno trabalho de Sísifo de quem – para além da “crítica” - queira ver melhor a arte promovendo apenas sua hermenêutica. A sensação de que as coisas começam pelo fim, de algo que ainda não aconteceu, pois não chegamos à origem dos fatos, como afirmou Giorgio Agamben (2005, p. 163) sobre a cultura italiana, parece ainda mais radical no Brasil. Também, ainda seguindo uma idéia de Agamben, possamos dizer que daí advenha a nossa própria fragilidade intelectual, o medo de sermos “varridos do mapa”, pois somos náufragos que nunca chegamos a ter um navio. Vantagem, diz o filósofo analisando os italianos, é que desde sempre já fomos varridos, náufragos reais, “não tememos as correntes e podemos até mandar sinais” à terra firme. O que ele diz da Itália vale para o Brasil e cada um dos seus brasileiros que podem se encontrar em sua perdição. Até porque Brasil é lugar que se recria a cada vez que o interpretamos e atuamos nele. Maria Tomaselli partilha com os brasileiros este lugar onde cada um se perdendo pode se encontrar, espaço próprio para odisséias, viagens na exterioridade que devém, em seu caso, pela pintura, em interioridade. Sua condição é, hoje, a da estrangeria-brasileira - o cerne categorial que aqui tentarei interpretar (haverá algum brasileiro, fora os indígenas que não seja estrangeiro?). Também ela manda seus sinais para cá e para lá. Sua condição de estrangeira-brasileira não é da náufraga, nem a da imigrante, nem a da fugitiva, nem simplesmente a da escolha, mas muito mais a de quem, responsável e alegremente, assumiu a aventura. Nesta diferença ela gera uma semelhança - que gera a diferença - que faz com que se associe por um fio aos que aqui vivem. Se somos náufragos, ela vem ser náufraga conosco, mas sabe, ao contrário, pela arte, visar os efeitos do naufrágio e sair dele sem a sensação de catástrofe. Ela é quem aproveita o campo aberto para apreciar a paisagem devastada. O novo arranjo, ela o compõe pela arte. Não a composição de quem se maravilha com a natureza, mas com a possibilidade da nova casa por construir e habitar na clareira descoberta ou no labirinto em que, pintando, gravando, instalando, esculpindo, ela realiza a passagem pela exterioridade em seu devir em interioridade. E o contrário. Nós, na posição de náufragos-nativos - chegamos antes e confundimo-nos com o que de nós já estava presente - não temos uma boa percepção, somos peixes que não sabemos da água, falta-nos o estranhamento que nos tornaria insubmissos ao familiar. Isto significa que fomos devorados pelo monstro, ela não, pois tem a arte como arco e flecha. Devorados, perdemos a chance de ver, ela não, pois tem a pintura como rede. De certo, aprendeu a ser índia. A artista vive assim, o contrário do que vivemos, nós, não artistas. Moderna ou pós-histórica, irá, pelo fio da arte, fotografar seus sinais. As tintas, materiais sutis, são seu aparelho fotográfico pelo qual recupera o que não vemos. Para nós, este Brasil familiar sempre nos parece estranho, apresentando-se como uma falta de ser, como coisa incompleta que vai buscar sua potência no outro, no estrangeiro, naquilo que, estando disponível à visão ou a qualquer de nossos sentidos, venha nos completar. Para ela o familiar advirá do estranho, o estranho será estrangeiro, não o que vem completar, mas o faltar que alegra. A condição brasileira de uma estrangeira como ela, remete a camadas de experiência perdidas para brasileiros-brasileiros como nós - e que hoje, observando um estrangeiro em sua condição brasileira podem ser, em certa medida, recuperada. Para seguir a dialética bem conhecida da artista que se formou em filosofia em sua juventude, não se deve deixar de lado a consideração de que ao assumir aquilo que podemos chamar aqui um ponto de vista no Brasil – estar aqui, mesmo no exílio, quanto mais na aventura -, sua ação desenvolveu-se, ainda que na contramão, com certa afinidade àqueles artistas aqui nascidos que foram buscar fora do Brasil o estranhamento de que talvez necessite toda obra. Todo artista, afinal, não é um estrangeiro – quase um extra-terrestre - em seu contexto social? A diferença de Tomaselli em relação à busca - norma da formação de um grande artista - é que sua busca marcada em grande medida pelo acaso. Enquanto a questão sempre foi a de uma formação respeitável no cenário, num certo sentido o alcance de um título, de uma distinção que inscrevesse o artista em uma linhagem nobre que teria lugar na magnífica instituição da história da arte, coisa que não podemos dizer sem a ironia que se tornou um clássico na crítica de Harold Rosemberg (2004), ela se lançou na experimentação e na aventura que, mais comumente, no contexto capitalista, costuma-se dizer que não levam a lugar nenhum. Esta marca de vida em passagem, em passeio, revela hoje o percurso – que se refaz a cada ação – de um nomadismo profícuo. É assim que podemos dizer que o outro da arte, o lugar do estranhamento, o abismo ao qual a arte olha de frente, diz-se em Maria Tomaselli de muitos modos, como o terreno das possibilidades da arte, em que a pintura devém filosofia, fundamento da criação que orienta toda a criação possível. O que podemos fazer, no entanto, com o objetivo de compreender, ou seja, lançar luz para tornar visível a outros, algumas percepções sobre a obra de Maria Tomaselli, seu lugar em relação a outros lugares – o da história, da filosofia e da crítica -, é apenas levantar aspectos, sem a pretensão de definir, tanger ou atingir sua obra, mas tão-somente concernir com a delicadeza possível às palavras algo sobre a vida da arte e o modo de experimentá-la. Eis o jogo que é preciso compreender. Ainda sobre sua condição como estrangeira/brasileira a experiência de Maria Tomaselli foi de certo modo privilegiada, não o privilégio da classe social, da condição européia, da prerrogativa ou da vantagem, mas o privilégio da liberdade, da faculdade de se deixar ser, da autorização que cada artista deve dar a si mesmo – como um condão - para seguir com seus projetos e que muitas vezes passa pela insegurança que leva à academia ou a outros caminhos confusos de formação, sendo que o único caminho do artista deve ser necessariamente um caminho do gênio, usado aqui no sentido exposto por Giorgio Agamben em Profanações (2007), a saber, daquele que permite gerar, ao qual devemos nos abandonar, a cujas exigências devemos nos sujeitar. As diversas mudanças de cidade em um país tão diverso como o Brasil que poderiam parecer vicissitudes da vida para alguém que não fosse artista ou mesmo para um artista com mais necessidade de fixação ou com menos gosto por situações e pessoas concretas, foram para ela a sorte da experimentação e do conhecimento. Para Maria Tomaselli, o Brasil é, na prática, o lugar do nomadismo. Este Brasil feito de centro, do eixo real-abstrato São Paulo-Rio de Janeiro, de nordeste e de sul, este Brasil dos indígenas intangíveis, não pode ser esquecido quando se trata de pensar a sua obra. Este Brasil mais que buscado, vivido em sua alegria trágica, é um dos elementos ideais a partir dos quais podemos construir uma constelação capaz tanto de avaliar uma relação da artista com algo chamado arte brasileira quanto reescrever o que seria a sua história. Maria Tomaselli se tornou brasileira – riscou seus traços no corpus da arte brasileira - sem precisar tornar-se estrangeira como era exigido em termos de formação dos brasileiros. Maria Tomaselli desenvolveu uma relação com o Brasil para além de sua condição ineliminável como estrangeira que sempre viu o estrangeiro do ponto de vista do reconhecimento. Ela o viveu em relação ao Brasil como em uma Aufhebung, a palavra tão importante para a filosofia que é a sua formação primeira e que define o tornar-se outro mantendo-se “mesmo”. É certo que, considerando esta relação como dialética, a qualidade da alteridade e da mesmidade é qualitativamente outra, não emperrada. É móvel e viva. Ela desenvolveu, pois, uma relação com o estrangeiro que não passou pelo exótico com que acostumamos a vê-lo, nós mesmos que aqui vivemos em centros urbanos e que fantasiamos um Brasil indígena, caboclo e carnavalesco; uma relação que se deu na realidade concretíssima com o tempo urbano, inclusive o tempo do “museu” que lhe deu a conhecer o imaginário indígena, mas também o tempo das cidades nas quais ela morava e que a fizeram sempre procurar artistas com quem trabalhar, um ateliê onde aprender e onde ser podia trabalhar junto como quem acredita que o fio vermelho que sustenta a vida é o mesmo que põe um artista a agir dentro de um mundo – administrado e burocrático - que não combina com seu próprio projeto – lúdico e descomprometido. A Casa/Pintura A relação entre Maria Tomaselli e o Brasil é a da imersão, conquista de uma morada. Há uma metonímia na relação com o Brasil. A pintura é morada, mas lugar que se constrói a cada vez que se pinta um quadro. A casa do estrangeiro é a da origem deixada como em A Caverna de Platão (imagem...) – o que faz de cada ser humano estrangeiro em algum grau. A casa deixada é também a casa lembrada, depois dela vem a casa desejada e a casa alcançada. A casa como tal é tanto o lugar que se deixa, ao qual se pode retornar, quanto o lugar ao qual se chega, o lugar que se encontra para habitar. É a saudade e a referência, ou o que se precisa deixar para poder ir a outro lugar. A pintura só é casa que se encontra na passagem, pelo caminho, na viagem. Devir e metáfora, possibilidade e trânsito ao mesmo tempo. A casa de Maria Tomaselli é o lugar onde ela é e se fez outra. Exterioridade como interioridade, que reverte em seu contrário na objetivação - subjetiva – da obra de arte. Do outro lado, a habitação estrangeira que se torna própria por aquilo que contém é contida pela coisa que traz dentro. Falo aqui da trajetória pessoal, mas devo casá-la com o fato da obra, no quanto a obra é fruto de uma condição pessoal, metáfora da experiência. Podemos dizer que a história da casa como figura – no seu sentido mais original de fingere, figulus, fictor e effigies, ou seja “forma plástica”[2] - é uma das mais importantes metáforas da obra de Maria Tomaselli. A pintura que se torna morada, tem a casa como um ícone auto-reflexivo pelo qual a artista – e a arte – referem-se a si mesmas. Um ícone que marca o momento da reflexão, mais que ícone, também símbolo, em que a auto-referência dentro do todo - que nega a auto-referência - se mantém declarada. Refiro-me a obras em que o tema da casa é totalmente evidente como as três Ocas do final da década de 80 (imagens ...) e a Quarta Casa exposta na Bienal do Mercosul de 1999 (imagens...) , mas também às diversas aparições do ícone da casa nas pinturas e gravuras (imagens...). A rigor, as instalações tridimensionais como as Ocas não deixam de ser pintura expandida como veremos. Que a reflexão sobre os meios da arte tornou-se mais importante do que a sua representação[3] já era preocupação de Maria Tomaselli no começo dos anos 70. A auto-reflexão da artista que sempre sustentou seu processo, seus conteúdos e suas investidas mais conceituais na pintura, apresenta a pintura, ela mesma, como o cerne da coisa que chamamos até hoje de arte. A casa é um ícone da pintura dentro da pintura e da arte dentro da vida como lugar onde habitar. Mas a arte não é um lugar abstrato na vida de uma artista como Maria Tomaselli, ela é a pintura e suas ressonâncias. A pintura é representação enquanto encenação da autoreflexão, portanto, não é representação por si só. A arte em Maria Tomaselli se faz médium-de-reflexão como diziam os críticos românticos do século XIX retomados por Walter Benjamin[4]. Neste sentido, a própria obra contém sua crítica. A própria obra se enuncia em suas categorias. O meio da reflexão está certamente, como mostraram os teóricos da hermenêutica contemporânea, mais apto a “apresentar” do que a “representar”. A pintura como arte já não é o desejo de simplesmente fotografar a realidade desde as afirmações pictoriais dos impressionistas. A persistência nuclear da pintura na obra de Maria Tomaselli, no entanto, é também persistência da mímesis, não como representação, mas como relação com o real, sendo que não é a pintura que representará o real, mas a ele se ligará em seu instante sutil como nas pinturas sobre lona feitas nos anos recentes (imagem...) em que a matéria viva da lona em sua semelhança com a tela é recuperada, do mesmo modo quando o potencial de tela das roupas na Oca Hannover (imagem...) e das calças jeans na Oca Innocenti (imagem...). A pintura veio a ser parte do real ao qual a própria pintura pode se referir, ao sair de si e voltar a si para “autorefletir-se”. A pintura não é conceito, embora seja aparição do conceito da própria tela que se expande ao procurar-se fora de sua branca forma habitual. Mais amplamente, no entanto, a pintura é “pensamento” que não se esgota em si, mas que aparece como uma imagem/pensamento, e mais amplamente ainda, “aparição” que faz pensar no que é a pintura que pode estar viva para além do que o artista faz, naquilo que a artista pode ver e/ou mostrar. Assim é que a artista vem morar na pintura enquanto busca expandi-la. A expansão é metonímica. Ela se renova como um padrão jamais repetido, sempre rememorado. A pintura é o território que se marca dentro do estrangeiro como um rastro sempre a redefinir-se, porque esta condição estrangeira – sem casa em busca de casa - a tornou possível. Desde as primeiras pinturas até as mais recentes, é a casa que nela vem construir um lugar. A casa torna-se figura na pintura, até chegar a ser a figura da pintura, sua forma própria que se expande e retorna a si, faz-se bidimensional, tridimensional, territorial (espaço de tela) e extraterritorial (tela que se questiona como tela). A figuração da casa é prefiguração: forma que é sentido. Em primeiro lugar, a casa é signo. No plano da pintura em sua superfície bidimensional que caracterizou e continua a caracterizar a obra de Maria Tomaselli, a casa é o que se encontra no meio do caminho do olhar que passeia pelos planos da paisagem metafísica da pintura de luz e cor. Casa - casas, casinhas palafitiformes, prédios - que é coisa mostrada, coisa que implica em si o desejo de ver, lugar que faz de nós viajantes, transeuntes, a pensar “o que há lá dentro”, diante do qual podemos parar, convite a contemplar, ouvir a história que se vai narrar na mente do espectador, ou mero fascínio do que sendo construção nunca seria casa como no Batistério de Parma (imagem...) que passou a habitar as narrativas de Tomaselli a partir do ano 2000, uma nova imagem do estrangeiro no espaço, um estrangeiro que marca um retorno na espiral da vida, afinal Tomaselli tem ascendência italiana, mas sobretudo a espiral do tempo, é o século tecnológico que surge deixando rastros de sua própria passagem, o tempo no qual um dia moramos. Estaria ela fascinada com um novo século que não dá mais tempo à contemplação, mas guarda os resquícios desta velha prática? Mas se somos diante das telas com as casas, viajantes chamados pela curiosidade, ela oferecerá uma resposta abrindo a porta como em A Quarta Casa, para logo, lá dentro, lançar-nos de novo a pergunta por meio do que a pintura sinaliza. A obra é de uma ironia que não nos trai, mas nos renova como espectadores de uma obra, nos faz ver que somos sujeitos que vêem. A pergunta que é a pintura se mantém, aproximando-nos da resposta como na escultura da casa (imagem...) que, fazendo a resposta mais próxima, no entanto, não a destitui. Por fim, retira a casa como se a tivéssemos penetrado, para manter o sentido da casa como habitat metafísico: convida-nos às cadeiras inacessíveis (imagem...). Pensemos nas cadeiras que não são sentáveis, o que esperam de nós, que fantasmas suscitam? O batistério de Parma é uma analogia do Brasil em que ela é estrangeira, está dentro enquanto está fora. Uma analogia da morada na qual se habita sem que se a possa habitar; é, por fim, a condição da arte e, nela, sobretudo da pintura, coisa a ser contemplada em tempos em que a contemplação inexiste por inexistir exatamente o tempo que a fazia nascer. A casa é o que se dá a ver, e que se amplia ao tornar-se ela mesma um olho, o signo – quase um anti-signo com o qual não sabemos o que fazer - que vemos porque antes nos olha[5], foge de sua dupla dimensão para em algum momento retornar a ela, não sem antes fazer a viagem de sua potencialidade, espalhando-se na virtude dos planos e superfícies, ampliando-se para além dos dados, lançando-se em limites que deixam de ser limites para se tornarem contorno, e mais, espaço, projeto, linha ao fundo, tridimensionalidade, casa nova, tamanho de nosso corpo, maior que ele, menor que ele, de qualquer modo relacionado a nosso corpo humano e que, escultura, chama o tato, pede que abra a janela, a janelinha, o plano, o lúdico, porta, tramela do desejo de que algo outro se anuncie, olhar por dentro (imagem...), espiar na condição de clandestino/convidado, um lugar que não nos pertencendo, pertence, no entanto, ao nosso olhar. Pendure como quiser 1 colchas da dona dalva 2 litos na guaianases quatro cantos 3 cartas surpresa 4 clarquianas 5 pendure como quiser e 6 ocas 7 pinturas para ver de qq lado (aquelas coloridas, o magnólia), 8 vários trípticos (que não tem nome) para combinar os lados A história de Maria Tomaselli é a da insatisfação alegre com as possibilidades da pintura. O plano tentado e alcançado esgotou possibilidades, ao mesmo tempo que as mantinha. Aufhebung do plano no plano como via da pintura. Em um trecho de seus diários do ano de 1990 ao rememorar o que teria sido a pintura até ali, ela questiona a “inserção do trabalho no circuito da fruição”, o “espectador imóvel”. Afirma ter aumentado os tamanhos para trazer o espectador para dentro. Mais de uma década depois, em 1984 declara que gostaria que o espectador pudesse tocar com a mão. Reclama seu “gesto ativo”. Desta época, explica ela mesma, é a série Pendure como quiser (imagem...). No mesmo sentido, a série As Cartas surpresa que eram pinturas enviadas em envelopes aos familiares e amigos na Áustria (imagem...) deram origem às Clarquianas (imagem...) surgem das litografias dos “Quatro cantos” que, segundo Tomaselli, resultaram da necessidade de desenhar em grandes pedras imóveis no período de Olinda. Sempre na intenção de transformar o quadro estático em algo móvel, Tomaselli repetiu a experiência com o quadro Magnólia (imagem) em uma série de pinturas em preto e branco de 2002. No mesmo sentido, o tríptico de diversas possibilidades de combinação é um vôo radical nas potências do plano (imagem...). A viagem na possibilidade do plano da pintura é desorbitação. Segundo Maria Tomaselli escreveu em um de seus diários, eis que estamos diante de “Pintura Penetrável, espaço de exploração tátil e de descobertas visuais”. As três ocas dos anos 80 tinham um projeto: ser trabalho coletivo, primeiro os artistas amigos, em a Oca Maloca (imagem...), logo o público mais próximo dos circuito de arte, em a Oca/Hannover (imagem), logo a Oca de Todos nós (imagem), que agregava público em geral, mesmo o não relacionado a nenhum circuito de arte. A pintura sempre foi a casa que deveria agregar a todos pela potência material do plano. Assim é que cada uma das três agrega a pintura e a instalação, cada uma faz torcer o espectador em artista e o artista em objeto da pintura, em todas elas o artista (seja a própria Tomaselli, sejam os outros que participaram da primeira Oca) se torna mais um ao lado dos outros que vem contribuir com a obra como um novo lugar de contemplação que devém ação. Como a pintura que devém espaço agregador. Também este é o sentido da casa. A pintora deixa sua condição de absoluta atividade para promover a desabsolutização da passividade do espectador da pintura, pretendendo agregar o pintor potencial que é o público, aquele que, do ponto de vista de uma estética da recepção, produz a obra ao recebê-la, ao aceitá-la. É neste ponto que podemos entender a casa que se fez oca. Casa da pintora que se fez na pintura e que se tornaria uma experiência comum, experiência da vida inteira dada em um ciclo que se completa como em uma double bind. Assim podemos entender o que Maria Tomaselli quis dizer ao declarar que “toda pintura tem seu lado avesso”. Seria a vida e seu modo de mostrá-la? Que todo plano teria outras dimensões, que o que se vê pode ser visto de muitos modos, que a superfície tem fundura, que o plano é espesso. Assim Tomaselli trata o quadro, lugar metafísico, ao mesmo tempo que espaço tradicional de sustentação da perspectiva, de um ponto de vista invertido, como negatividade metafísica, espelho do olho, superfície que não se contenta em aparecer, mas que quer acordar quem a contempla, permitir experiência, trazer atenção à arte como um lugar de invenção do olhar por meio de uma autoreferencialidade crítica do espaço da pintura. Estaria ela preocupada com a reflexão do outro, com o pensamento como gesto filosófico que nasce do olhar, máquina metafísica que se dirige a um mundo sempre de superfícies, um mundo feito tela que podemos ver? Assim é que as Ocas, como casas, são tentativas bem realizadas de tornar problemático o espaço tradicional da pintura que acaba por fazer reviver a pintura como algo mais que a repetição da estamparia na qual pode acabar um estilo. O que pode a pintura? O que pode um quadro? É pergunta no tom spinoziano de nosso começo de século - que podemos colocar em cena quando pensamos na ação inconformada de Maria Tomaselli ao interferir naquilo que Leo Steinberg chamou a “forma simbólica do espaço”[6]. As casas, das imagens nos quadros às ocas, são citações de um tema, um ícone, e como tal, uma chave que não deixa de ser mistério – potência de abrir e fechar - sempre posto na construção de uma obra. A casa é potência, o que justifica a viagem da artista constituída materialmente como obra. Quando pensamos em um romance como Moby Dick, vemos que todos os personagens giram em torno de um eixo principal, não apenas a busca pelo monstro aquático que reduz a vida do Capitão Ahab a ódio, mas o lugar de sua possibilidade torna principal o suporte: é o Pequod, o navio, a figura mais descrita, o elemento que mais aparecendo na narrativa nos faz pensar que ele é o principal personagem, mais até do que a baleia. O navio, ainda que seja como a tela na qual se desenvolve a narrativa, a descrição, o enredo, é maior que o enredo ainda que dependa dele. As casas são, assim, citações de uma escritura que se desenvolve no tempo da narrativa pictorial – a grande pintura - em que o que é dito não é outra coisa do que o que está à mostra como experiência possível, intraduzível, mais símbolo do que alegoria, mais a coisa em si mesma do que uma alusão. Assim é que as pequenas pinturas de Maria Tomaselli, de dimensões que chegam ao tamanho de uma pastilha (imagem...), são como as pinturas enormes, umbigos dos grandes quadros que se fazem inteiros, como se qualquer dimensão estivesse contida em qualquer dimensão, como se o todo estivesse inserido no uno, se o universal estivesse no particular. Mas nem tudo se mostra. O outro, dito em camadas, é o próprio quadro que está ali, guardado, explícito ou implícito como camada que ficou não para trás, mas por trás. A pintura é o desfile textual de um palimpsesto que não podemos decifrar, cujos sinais se deixam ver e desejam nossa imaginação, guarda analogamente à vida, a história de suas cenas que, fixadas, não apenas se fixam, mas se movem enquanto se re-produzem, re-fazem, re-nascem. A idéia de que a pintura é movimento tem este preciso significado: passagem e paragem. Curioso a este respeito é a montagem fotográfica do auto-retrato da artista dentro de um carro velho e abandonado e que está na entrada do site que ela mesma construiu e alimenta (imagem...). Uma representação atual do estado da arte que ela nos oferece com seu bom humor de sempre? Por isso, talvez, depois de passear pela tela branca, de expandir os planos, de desorbitar as superfícies, o local da sutilíssima ação da pintura seja a lona de caminhão (imagem...), pintura viva, material que testemunha em sua materialidade o rastro da vida itinerante, uma imagem da própria artista, de toda a busca da artista e que vem a dizer-se como continuação infinita no infinito da obra. Bibliografia Adorno, Theodor. Teoria Estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, s/d. Agamben, Giorgio. Profanações. Tradução Selvino Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007. ___.Programa para uma revista. In Infância e História. Destruição da Experiência e Origem da História. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Ed. Da UFMG, 2005. Aristóteles. Poética. Ed. Bilíngüe. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Ars Poética, 1992. Auerbach, Erich. Figura. Trad. Duda Machado. São Paulo: Ática, 1997. Belting, Hans. O Fim da História da Arte. Uma revisão dez anos depois. Tradução Rodnei Nascimento. São Paulo: Cosac Naify, 2006. Benjamin, Walter. O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão. Trad. Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: EDUSP, Iluminuras, 1993. Danto, Arthur. Após o Fim da Arte. A Arte Contemporânea e os Limites da História. Trad. Saulo Krieger. São Paulo: EDUSP, Odysseus, 2006. ___. A Transfiguração do Lugar-Comum. Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2005. Didi, Huberman, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998. Durand, José Carlos. Arte, Privilégio e Distinção. Artes Plásticas, Arquitetura e classes dirigentes no Brasil, 1855/1985. São Paulo: Perspectiva: Ed. da Universidade de São Paulo, 1989. Hall, Stuart. Da Diáspora, identidades e mediações culturais. Org Liv Sovik. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. Lichtenstein, Jacqueline. La Couleur eloqüente. Paris: Flammarion, 1999. Rosenberg, Harold. Objeto Ansioso. Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. Steinberg, Leo. Outros Critérios. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac Naify, 2008. Goethe, J. W. Doutrina das Cores. Trad. Marco Gianotti. São Paulo: Nova Alexandria, 1993. Zumthor, Paul. Performance, recepção, leitura. Trad. Jerusa Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosacnaify, 2007. Quanto à memória da arte, talvez o museu não seja mais do que parte da infra-estrutura geral da própria instituição “arte” que cedo ou tarde terá que se haver com o fim da arte e com a arte depois do fim da arte (DANTO: 2006, p. 21). [1] [2] AUERBACH, [3] 1997, p.13. Questões posta por filósofos da arte como Greenberg e, mais tarde, Arthur Danto (2006, p.9). [4] W. Benjamin fundou a sua noção de crítica de arte nesta idéia. 1993, p. 71. [5] DIDI-HUBERMAN, 1998. [6] STEINBERG, 2008, p.104.
Download