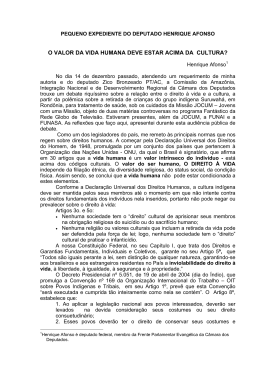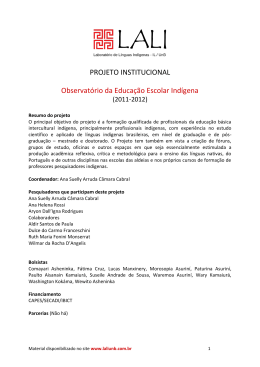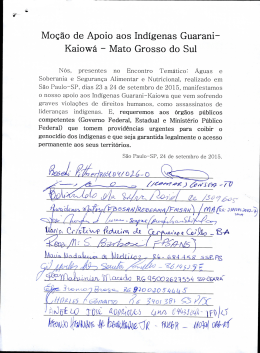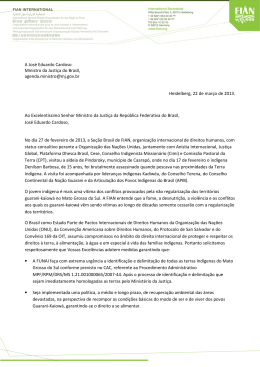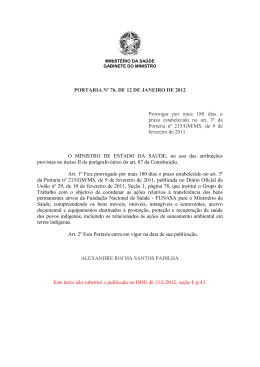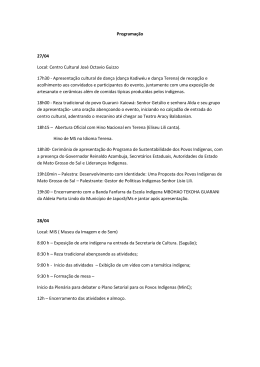ISSN 0102-0625 Ano XXVIII • N0 294 • Brasília-DF • Abril - 2007 R$ 3,00 Javaé agronegócio e invasores ameaçam a vida DESTE rio e de seus povos Páginas 4 e 5 Mobilização pela vida do São Francisco e contra a Transposição Criança da Aldeia Txoudé no rio Javaé – Foto: Kariny Teixeira – Cimi GO/TO Páginas 8 e 9 Povo Potiguara retoma terras na Paraíba Página 11 Opinião Porantinadas A LUTA E O SONHO AMADURECEM O Cimi e seus 35 anos P é na estrada. Talvez essa pudesse ser a melhor imagem do Cimi caminhante, com a radicalidade e certeza na frente, fazendo a história avançar. A luta, o sonho, a ternura e a beleza do Brasil de todos os povos como obstinação. Os povos indígenas como inspiração e razão de nossa mística militante. O testemunho guerreiro e aguerrido dos que tombaram na luta. Um caminho com muitas pedras, em cujas margens semeamos alimentos, flores e esperança. Ficaram marcos fortes como Y-Juca-Pirama, o índio aquele que deve morrer, vários artigos na Constituição de 1988, centenas de terras demarcadas, inúmeros jeitos das comunidades/aldeias e povos se unirem, articularem, organizarem para lutar pelos seus direitos. Porantim na luta. Em forma de memória, arma e remo fomos criando nossas ferramentas. Não hesitamos em denunciar profeticamente as violações dos direitos históricos, sagrados, consuetudinários e constitucionais dos primeiros habitantes deste continente. Buscamos criativamente espaços e formas de visibilidade à dura re- alidade enfrentada pelos povos indígenas – Semana dos Povos Indígenas, Campanha da Fraternidade, Assembléias Indígenas, Cursos de Formação e Informação, Encontros desde o nível local até continental. Alimentamos nossa utopia com a Missa da Terra Sem Males, com inúmeros cantos e encantos. Lutamos por um Brasil para todos, a partir dos mais espoliados, discriminados e oprimidos: os povos indígenas. E isso exige um compromisso radical com a transformação social, política, econômica e religiosa. Pela ditadura militar fomos acusados de subversivos e comunistas; pelos conservadores, de agitadores e radicais; pelos negociadores, de instransigentes e isolacionistas. Porém não nos deixamos intimidar em nossa missão, de santos e pecadores. Não deixamos de acreditar e nos engajar na construção de um outro Brasil e mundo possíveis e necessários, porém jamais sem a participação e contribuição importante dos povos indígenas. Sentimos que amadurecemos ao fazer caminho. Os cabelos brancos, como entre Limpeza pós-Bush os povos indígenas, não significam acomodação, mas sabedoria para enfrentar com ousadia e radicalidade a luta pela liberdade e pela vida. Ao olharmos para o caminho andado nesses 35 anos, de uma coisa temos certeza: amamos profundamente essa causa, procuramos, a partir de nossa fé, ser coerentes em nosso compromisso e testemunho. Isso significou muitas vezes remar contra a correnteza, quebrar correntes, mostrar os dentes, mas principalmente sorrir, construir felicidade, amadurecer entre a luta e o sonho. Não poderia deixar de dedicar essa memória dos 35 anos aos povos indígenas que tanto nos ensinaram e inspiraram, aos que deram a vida pela causa, indígenas e missionários, aos que com tanta abnegação e generosidade dão seu testemunho radical e solidário junto aos povos indígenas. Temos uma multidão de pessoas queridas que poderíamos lembrar com muita gratidão, mas que a história e nossa memória haverão de lembrar sempre. Egon Heck Cimi/MS MARIOSAN O ambiente ficou carregado depois que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visitou a pirâmide Iximche, na Guatemala, em 14 de março. Para limpar espiritualmente o lugar, dois sacerdotes maya fizeram uma purificação com velas e um tambor cerimonial. “Não, senhor Bush, o senhor não pode pisar e degradar a memória de nossos ancestrais”, disse o líder maya Rodolfo Pocop em uma entrevista coletiva. Os Estados Unidos apoiaram o governo militar durante a guerra civil entre 1960 e 1996, quando vilarejos dos maya foram destruídos e quase 250 mil pessoas morreram. Heróis de Lula: usineiros Lula atendeu os interesses dos usineiros do Brasil ao fechar acordos com George Bush para aumentar a produção de biodiesel e álcool etanol. Mas, não era suficiente. O presidente quis demonstrar todo seu apreço pelos usineiros de cana que, segundo o próprio Lula, há dez anos, eram “bandidos do agronegócio”. Disse Lula: “Estão virando heróis nacionais”. O presidente também lembrou que eles são heróis, por que há políticas no governo que vão garantir o suprimento de álcool ao mercado internacional. Só não lembrou que essa produção é feita à base da morte de centenas de bóias-frias, que trabalham em condições semi-escravas nos canaviais por todo o país. Heróis 2: ministros Outros que entram na categoria de “heróis de Lula” são os ministros. Ao dar posse a novos integrantes de seu ministério, o presidente disse que eles eram “heróis” por aceitarem receber tão pouco: em torno de R$ 7 e 8 mil reais. “Alguns pagam para serem ministros”, disse Lula. Mas o heroísmo vai diminuir. Foi aprovado um aumento no salário dos ministros, que será de quase R$ 11 mil. Será que ainda é pouco? ISSN 0102-0625 Redação e Administração: Faça sua assinatura SDS - Ed. Venâncio III, sala 310 pela internet: (61) 3349-5274 CEP 70.393-902 - Brasília-DF [email protected] Tel: (61) 2106-1650 Edição fechada em 02/04/2007 Revisão: Dom Erwin Kräutler Fax: (61) 2106-1651 Preços: Conselho DE REDAÇÃO Leda Bosi PRESIDENTE Publicação do Conselho Indigenista Missionário Caixa Postal 03.679 Antônio C. Queiroz Ass. anual:R$ 40,00 Impressão: (Cimi), organismo vinculado à Conferência CEP: 70.089-970 - Brasília-DF Benedito Prezia Paulo Maldos Gráfica Teixeira Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). E-mail: [email protected] Ass. de apoio:R$ 60,00 Egon Heck Assessor Político (61) 3336-4040 Cimi Internet: www.cimi.org.br Nello Ruffaldi América latina: US$ 25,00 APOIADORES Marcy Picanço Registro nº 4, Paulo Guimarães Administração: Outros Países: US$ 40,00 EDITORA Paulo Maldos Port. 48.920, Dadir de Jesus Costa Paulo Suess RP 44458/SP Cartório do 2º Ofício UNIÃO EUROPÉIA de Registro Civil - Brasília Permitimos a reprodução de nossas matérias e artigos, desde que citada a fonte. As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores. Abril-2007 Na língua da nação indígena Sateré-Mawé, PORANTIM significa remo, arma, memória. Priscila D. Carvalho Editora RP 4604/02 DF Editoração eletrônica: Licurgo S. Botelho Desenvolvimento Foto: Flávio Cannalonga Conjuntura Paulo Maldos Assessor Político do Cimi O presidente Luis Inácio Lula da Silva iniciou seu segundo mandato colocando ênfase no esforço pelo desenvolvimento econômico. Esta seria a marca de seu atual governo. Para tanto, deu ordens para que ministros, particularmente a da Casa Civil, Dilma Roussef, e o da Fazenda, Guido Mantega, se dedicassem à concretização de um pacote desenvolvimentista, que veio a ser chamado de PAC – Plano de Aceleração do Crescimento. Depois de anunciar tal Plano, ainda em janeiro de 2007, Lula se dedicou a montar seu Ministério. Nele, coube uma boa fatia ao PMDB, partido tradicionalmente vinculado às oligarquias regionais e correia de transmissão de grandes interesses econômicos, como empreiteiras e outras empresas de grande porte. O perfil do Ministério, tal como ficou definido, tornou-se uma espécie de contraface política da decisão de cunho econômico consubstanciada no PAC e no discurso desenvolvimentista. A questão central que se coloca aqui é: qual desenvolvimento se busca? Para quem? Com quais objetivos? Com quais métodos? Com participação de quem? Com benefícios para quem? O PAC já nasceu revelando a radicalidade da sua matriz ideológica: sem nenhuma participação da área social do governo federal, ou mesmo da área ambiental, o que seria óbvio numa visão de desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental. Não teve também participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário – que seria fundamental numa perspectiva da Reforma Agrária como alavanca para a inclusão de milhões de famílias do campo ao processo de desenvolvimento do país. Por último, mas não menos importante, o PAC não teve ouvidos para os impactos de seus projetos nos territórios indígenas e quilombolas nem para os “efeitos colaterais” na vida das comunidades que neles vivem. Ou seja, o PAC obedece a um modelo de desenvolvimento de corte totalmente econômico, refletindo direta e exclusivamente os interesses do grande poder econômico. As análises do PAC, feitas por especialistas, vão desde enaltecer sua importância e futuras vantagens, passam por valorizar tal Fotos: Arquivo Cimi Explorar ou emancipar? plano como uma carta de boas intenções bem arrumada, mas ainda sem substância, e vão até negar qualquer importância, qualificando-o como um ajuntamento de projetos das iniciativas privada e estatal já existentes. A crítica necessária Com que postura devemos construir nossa análise crítica desta iniciativa do governo Lula? Em primeiro lugar, comprometidos com os setores populares e os povos indígenas. Em segundo lugar, com uma visão de conjunto do PAC e buscando compreender sua essência econômica. Economia é política concentrada, segundo uma máxima marxista. Ou seja, o processo econômico desenvolvido em eventual PAC revela toda uma visão política sobre a sociedade brasileira. O PAC, como foi apresentado, revela um capitalismo concentrador e dependente, de nenhum modo se propõe democratizante e, muito menos, transformador. É um plano que objetiva reproduzir a sociedade brasileira em suas desigualdades sociais, projetando no futuro o mesmo país injusto e excludente, que conhecemos há mais de 500 anos. Neste “plano estratégico” estão reservados 11 bilhões de reais para a transposição do rio São Francisco, projeto repudiado pelos trabalhadores rurais, ribeirinhos, quilombolas e povos indígenas a serem atingidos e com os quais não houve um debate sobre seus impactos negativos e sobre alternativas social e ambientalmente sustentáveis. O governo Lula se comprometeu a debater com a sociedade nacional e com aqueles diretamente afetados pela obra, mas isto foi esquecido, sendo mantido o projeto original, de cunho autoritário, elitista e tecnocrático. Neste “plano estratégico” estão também reservados 275 bilhões de reais para obras de energia, vinculadas a petróleo e hidrelétricas. Entre estas, as usinas de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará; Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, em Rondônia. Prazos previstos para o licenciamento destas usinas já foram revistos diversas vezes, em função de falhas nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e questionamentos feitos pelo Ministério Público. Tais hidrelétricas atingem diretamente comunidades tradicionais, ribeirinhos e povos indígenas, mas estes não são considerados pelos projetos, mas vistos apenas como “entraves”, como disse o presidente Lula para representantes do agronegócio. Fora da órbita direta do PAC, mas como parte da mesma concepção capitalista e mercantil de desenvolvimento, temos o empenho do atual governo em aprovar um projeto de lei sobre mineração em terras indígenas, separado do Estatuto dos Povos Indígenas. Tal empenho revela, uma vez mais, o interesse do governo federal e das grandes empresas de mineração em saquear as riquezas existentes nas terras indígenas e não em respeitar os direitos históricos destes povos sobre seu patrimônio. O Abril Indígena vai discutir o desenvolvimento que interessa aos povos. Nas imagens, grandes obras que, em nome do progresso, afetam terras indígenas e devassam a natureza Modelo alternativo de desenvolvimento Qual seria o modelo de desenvolvimento que poderíamos propor e defender, a partir do compromisso com os setores populares e com os povos indígenas? No fundamental, o modelo teria que; 1.considerar as experiências históricas e as propostas dos setores populares e dos povos indígenas, no que diz respeito à melhoria de suas condições de existência; 2.partir da premissa básica do respeito integral aos direitos dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e ribeirinhos aos seus territórios, ao seu patrimônio e a suas formas de produção e de relacionamento com a natureza; 3.pressupor a participação organizada destes setores na própria concepção do modelo de desenvolvimento, na sua implementação, acompanhamento, avaliação sistemática, possíveis mudanças e eventual redirecionamento e 4.contemplar, em sua matriz ideológica, a junção do saber tradicional dos setores populares e dos povos indígenas com o saber científico, na busca por um desenvolvimento centrado na integralidade das pessoas, das comunidades e da natureza, projetando um país politicamente democrático, economicamente justo, socialmente eqüitativo e solidário, culturalmente plural e ambientalmente sustentável. Aos setores populares e aos povos indígenas interessa um modelo de desenvolvimento que signifique sua real emancipação econômica, social e política, baseada em seu protagonismo e numa concepção radicalmente democrática de sociedade e de controle sobre o Estado e suas instituições. Abril-2007 Março-2007 A realidade que ninguém quer ver Fotos: Kariny Teixeira e Wellington Antenor Ilha do Bananal Avanço do agronegócio, uso irregular dos rios e invasores ameaçam as terras indígenas e a biodiversidade da região Cimi- Regional GO/TO ontam os Javaé e os Karajá que os aruanãs eram peixes que viviam nos lagos profundos. Um dia Hariwa, um jovem Aruanã, nadou mais distante e encontrou um raio de luz. Koboi dizia que todos deviam evitar este raio porque ele levava ao sofrimento, ao perigo e à morte. Mas, naquele dia Hariwa sonhou com estranhas regiões e ao acordar retornou ao raio de luz. Ao chegar na superfície, ficou fascinado com o ambiente cheio de luz e calor, com árvores frutíferas, lagos, pássaros... O jovem nadou por um riacho e chegou ao rio. Lá, encontrou uma praia. Depois Hariwa voltou para água virando novamente aruanã. Ao ouvir o relato da viagem do jovem, Koboi ficou indignado e lembrou que Kynyxiwe iria lhes retirar a imortalidade e que iriam conhecer a morte, o sofrimento e o perigo. Mesmo assim, um grupo de aruanãs resolveu subir à superfície, transformandose em gente. Transformaram-se em Javaé e Karajá e passaram a viver naquela linda terra, chamada hoje de Ilha do Bananal. Banhada pelos rios Araguaia e Javaé, a maior ilha fluvial do mundo tem cerca de 2 milhões de hectares e fica no Tocantins, fazendo divisa com o Pará, Mato Grosso e Goiás. É habitada pelos povos Karajá, Javaé, Avá-Canoeiro e por um povo sem contato chamado de ‘Cara Preta’. Por muito tempo, foram preservadas na Ilha, localizada na faixa de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, as riquezas naturais e a expressiva cultura dos Javaé e Karajá, com seus rituais de Aruanã e Hetohokã, e suas elaboradas pinturas corporais. No entanto, a biodiversidade da Ilha e a integridade física e cultural de seus habitantes tradicionais estão ameaçados pela devastadora expansão do agronegócio e pela presença de grandes fazendeiros que ainda permanecem dentro do Parque Indígena do Araguaia. C Agronegócio devasta Abril-2007 Ao norte da Ilha, na margem esquerda do rio Javaé, estão a terra indígena Ynawebohonã (Boto Velho) e o Parque Nacional do Araguaia (área de preservação ambiental). Na margem direita, a Fazenda Dois Rios que, após investimento de 32 milhões de dólares, Ilha do Bananal está invadida por criadores de gado e ameaçada por grandes plantações. Canalização do rio Javaé para irrigação afeta terra indígena e não foi aprovada pelo Ibama colhe sua primeira safra de arroz, plantada em 7.600 hectares. A previsão é que a plantação atinja 20.000 ha em quatro anos. Este é um dos empreendimentos que se consolidou na região nos últimos anos. O agronegócio, atraído pelos incentivos fiscais, localização estratégica e qualidade das terras, invadiu o estado do Tocantins, expulsando posseiros e pequenos agricultores de suas propriedades. A monocultura da soja e do arroz impõe suas regras e atropela leis que, ao contrário dela, estão a serviço de todos. Ou deveriam estar. Por toda a costa da Ilha, encontram-se projetos de monocultura que usam indiscriminadamente e, muitas vezes, irregularmente as águas dos rios Javaé e Formoso para irrigar sua produção. A Fazenda Dois Rios, que tem investidores brasileiros e norte-americanos, é um projeto totalmente irregular. Seu licenciamento é de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), pois impacta uma unidade de conservação ambiental e duas terras indígenas. Além dos Javaé em Ynawebohonã, a plantação também afetará os Krahô-Kanela. Porém o Ibama recusou-se a emitir o licenciamento, delegando-o para o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), órgão que foi acusado, em março, de práticas ilícitas, o que levou a exoneração do seu presidente. O projeto assusta pela grandiosidade de sua abrangência e de seus impactos. A Fazenda Dois Rios, como o nome diz, se localiza na confluência dos rios Formoso e Javaé. Seus Gestão Compartilhada A relação entre o Ibama e a comunidade indígena na Ilha do Bananal sempre teve um ponto de tensão: a sobreposição de unidade de conservação ambiental em terra indígena. Os Javaé constantemente denunciavam que eram proibidos pelo órgão ambiental de exercerem suas atividades culturais, como a pesca, a caça e a coleta de matérias primas. Em 2006, a Terra Ynawebohonã foi homologada, mas o dilema não terminou, pois o Decreto de homologação estabeleceu a ‘gestão compartilhada da área’. Na prática, ainda não ficou claro como isto funciona. Assim, permanece o temor dos Javaé de terem cerceados seu direito de usufruto do território. Ao mesmo tempo, questionam a omissão deste órgão diante de projetos hidroagrícolas que afetam as terras indígenas e o Parque Nacional do Araguaia. A Funai também se omite, assumindo um papel de cobrar do Ibama atitudes concretas referentes à fiscalização do território indígena, como se este não fosse seu papel. proprietários já construíram dois grandes canais de irrigação interligando os rios acima mencionados – o que, certamente, alterará todo o ecossistema local, causando impactos ambientais irreversíveis, além dos impactos culturais sobre as comunidades indígenas. Em agosto de 2006, os Javaé denunciaram a situação ao Ministério Público Federal e solicitaram que se investigassem os licenciamentos dos projetos hidroagrícolas no entorno da Ilha do Bananal, entre estes, o da Fazenda Dois Rios. No documento, os indígenas ressaltam a importância dos rios Javaé e Araguaia e a inconstitucionalidade destes projetos, que afetam diretamente sua organização sócio-cultural e econômica: “A Constituição garante que o povo indígena viva de acordo com seus costumes e tradições; e, faz parte da tradição do povo Javaé a relação direta com o rio, que é a fonte da nossa alimentação e da nossa história mítica (...) Como estamos num processo de buscar a viabilidade de projetos econômicos sustentáveis para nosso povo, precisamos garantir a integridade do rio e da terra indígena.” O rio Javaé, mesmo sendo central para a vida do povo, ficou de fora da área demarcada. No rastro de destruição do agronegócio, vem o discurso da necessidade de investimentos em infra-estrutura para o transporte da produção. Assim, reacende a discussão em torno da Hidrovia Araguaia-Tocantins, da construção de estradas cortando a terra indígena, da ampliação da Ferrovia Norte-Sul... Os indígenas têm consciência dessa amplitude e denunciam: “Estes projetos pressionam a construção e pavimentação de estradas para transporte dos grãos, o que vem ameaçar nossa terra, pois já existe campanha no estado do Mato Grosso pela construção da Transaraguaia, ligando este estado ao Tocantins, cortando a Ilha do Bananal; o que está causando conflito entre indígenas, pois uns são convencidos a aceitar e outros, não.” Diante de tantas irregularidades, o Ministério Público Federal do Tocantins entrará, em abril, com uma Ação Civil Pública solicitando que o Ibama assuma o licenciamento e que haja audiências com as comunidades da região. Também solicitará que o Congresso Nacional seja ouvido antes da aprovação dos projetos de aproveitamento de recurso hídrico (irrigação), pois há terras indígenas afetadas. R Demarcado há 30 anos, Parque Indígena do Araguaia continua invadido isso com o conhecimento da Funai. Este grupo chegou a apreender um arsenal de armas em uma das fazendas. A partir de então, a Funai, junto com a Polícia Federal, orientou os indígenas a esperarem a justiça concluir a desocupação, pois estariam correndo risco. As lideranças, no entanto, não acreditam na disposição da Funai: “Nós queríamos tirar os fazendeiros... tinha muito armamento pesado lá dentro... a Funai disse que tomava conta, que não precisava de índio tirar fazendeiro (...) Nós queremos a terra. Já fizemos várias reuniões sobre os fazendeiros... o procurador garantiu que ninguém tira nossa terra, mas os fazendeiros estão investindo na estrutura... A Funai não fala nada, só diz que a justiça é demorada” Criação de gado aumenta no Parque, enquanto processo de desintrusão está parado N a parte sul da Ilha do Bananal, vivem os Javaé e os Karajá, no Parque Indígena do Araguaia, demarcado na década de 1970. Entretanto, até hoje permanecem lá 211 fazendeiros invasores com seus rebanhos de gado bovino. O processo de desocupação do Parque já dura mais de 10 anos. Há dois anos, um processo que contesta a desocupação aguarda julgamento no TRF1. A invasão do Parque por não indígenas começou na década de 1950. As extensas planícies com pastagem nativa atraíram os criadores de gado. A intensa ocupação levou a criação de dois povoados dentro das terras indígenas: Porto do Piauí e Barreira do Pequi. Segundo relato dos indígenas, a Funai facilitou esta ocupação, extinguindo pequenas aldeias e concentrando os indígenas no posto indígena de Canuanã (aldeia javaé), sob o argumento de que seria preciso concentrar a população indígena para facilitar a assistência. O órgão passou, então, a arrendar a terra indígena, alegando que os recursos provenientes do arrendamento seriam revertidos em benefícios para os povos da Ilha do Bananal. A Funai administrou os recursos do arrendamento por mais de duas décadas (até o final dos anos 1980), e, sem pensar numa política de sustentabilidade viável, manteve uma assistência paternalista, estimulando a prática do arrendamento como única alternativa econômica para os indígenas. “Acostumaram o índio a dar tudo nas mãos. Hoje a Funai atua na área só olhando; não tem projeto de sustentação familiar nas comunidades indígenas. Então, qual é o papel da Funai dentro da terra indígena?”, disse uma liderança da Aldeia Barra Verde. Atualmente, a população não indígena da Ilha do Bananal chega a 4.500 pessoas, Para os Javaé e Karajá, os parentes que ainda vivem nos rios ajudam a resolver os problemas enfrentados na terra A situação atual principalmente em áreas arrendadas. Segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, o número de cabeças de gado na Ilha dobrou no último ano: em 2005 eram 45 mil cabeças e em 2006, 95 mil (50 mil dos fazendeiros e 45 mil cabeças nos retiros arrendados). Processo de desocupação Na década de 1990, iniciaram-se as discussões para retirada dos não indígenas e seu gado da Ilha do Bananal. Foi instituído um Grupo de Trabalho Interistitucional – GTI, com a participação de diversas entidades e órgãos do governo, para montar um plano de desocupação do Parque Indígena do Araguaia, que reassentasse os invasores e indenizasse suas benfeitorias. A partir daí, foram cinco anos de lutas, para retirar os invasores de forma pacífica e gradativa, mas, fazendeiros e políticos com interesses na terra indígena apresentaram forte resistência. Ao longo do processo, houve muitos impasses, pois o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Funai não cumpriam, em tempo hábil, suas obrigações: ao órgão indigenista cabia a desapropriação e indenização das benfeitorias de boa-fé e ao Incra o reassentamento das famílias carentes. Em dezembro de 1995, a Funai iniciou o pagamento das indenizações. Entretanto, 211 fazendeiros permanecem em território indígena, utilizando-se inclusive de influências junto a parlamentares em Brasília para retardar o processo de desocupação. Desde 2004, estes fazendeiros entraram na justiça alegando que a Funai cometera irregularidades no pagamento de indenizações durante a desocupação do Parque. Diante da paralisia da Justiça, em 1998, os caciques e lideranças Javaé e Karajá decidiram formar um grupo de guerreiros para retomar a área ainda invadida. Fizeram Enquanto o processo está parado na justiça os fazendeiros continuam a degradação da área com formação de pastagens e retirada de madeira. A morosidade da Justiça aliada à pressão dos fazendeiros e à ausência de fiscalização da área agravaram este problema. Pois, além de aumentar o número de fazendeiros na Ilha, cresceu a prática do arrendamento. Apesar de recente portaria proibindo esta atividade, não há o comprometimento da Funai em fiscalizar e coibir esta prática, pois isso implicaria em apoiar e viabilizar novas formas de sustentabilidade econômica para o povo. Hoje, este é um dos maiores desafios para as comunidades indígenas. A Funai (Regional Gurupi) alega estar tomando as medidas cabíveis para resolver a questão da desocupação. Informa que esteve em Brasília, em janeiro, reunida com a 6ª Câmara do MPF e a Advocacia Geral da União para discutir este assunto e apresentar a documentação necessária para a retirada dos fazendeiros. Mas, até o momento nada caminhou. A comunidade indígena expressa muita preocupação e desejo de ver os não-indígenas fora da Ilha do Bananal. A demora deste caso faz aflorar sentimentos de revolta e indignação nos indígenas, que temem ver reduzido seu território. A tensão se torna crescente na medida em que o tempo passa e a comunidade se vê ‘acuada’ por interesses alheios aos seus direitos e à inércia dos órgãos competentes. (K. T. e A. C. R.) Abril-2007 Os casos João Hélio e Galdino e a barbárie midiática Fotos: Arquivo Cimi Homenagem - Galdino Uma reflexão sobre o papel dos meios de comunicação Jorge Vieira Missionário do CIMI-NE e Jornalista U m dos primeiros ensinamentos que o estudante de comumicação aprende na faculdade é sobre o papel que a mídia exerce, sua importância na formação da sociedade, o direito da população em ter uma informação de qualidade, independente de raça, credo religioso e situação econômica e o respeito aos direitos fundamentais da pessoa. Em fevereiro, a população brasileira ficou chocada e atônita com a veiculação do bárbaro assassinato do menino João Hélio, de 6 anos, praticado por cinco jovens, dentre eles um menor de 18 anos. Este fato merece uma profunda análise, sem a agitação emocional própria de uma situação como essa. Até porque, basta dar uma olhada para trás, que se percebe que outros fatos recentes tiveram o mesmo enfoque da mídia e reação semelhante da maioria da população. Por exemplo, o assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, praticado por ela e os irmãos Cravinho e, também, do casal de jovens namorados que foram mortos, em São Paulo. Entre os culpados deste último caso, também estava um menor, denominado de Champinha. Dentre os noticiários desta natureza, destaca-se o crime hediondo praticado contra o líder indígena Galdino Pataxó Hã-Hã-Hãe, 44 anos, da área Caramuru/Paraguassu, sul da Bahia, que se encontrava em Brasília, tratando da demarcação de sua terra. O fato ocorreu dois dias depois das comemorações do Dia do Índio, em abril de 1997. Chegou tarde à pensão onde estava hospedado e não o deixaram entrar. Cansado, dormiu num banco de uma parada de ônibus. Às 5 horas da manhã, acordou ardendo numa grande labareda de fogo. Um grupo de cinco jovens de classe média alta, entre eles um menor de idade, jogarem combustível em Galdino e, em seguida, atearam fogo. Os criminosos foram presos e confessaram o ato monstruoso. Aí a estupefação: os jovens disseram que “queriam apenas se divertir” e “pensavam tratar-se de um mendigo, não de um índio”, o homem a quem incendiaram. Crimes iguais – tratamento desigual Abril-2007 Do ponto de vista da comunicação, podese levantar várias questões para reflexão. Dentre elas, o diferente tratamento dado pela imprensa aos casos do menino João Hélio e o do índio Galdino Pataxó, que é o objeto central dessa reflexão. Chama-nos a atenção o enfoque dado pela mídia, considerando algumas semelhanças no que se refere à barbárie dos fatos, de como foram praticados pelos respectivos atores e a fragilidade das vítimas. E, como conseqüência, o desdobramento político dado pelos meios de comunicação e os partidários de plantão. O que há de semelhança? Primeiro, a forma bárbara como as vítimas foram mortas. Por mais frio que seja um ser humano, não conseguirá ficar indiferente aos acontecimentos. O menino, arrastado ao longo de mais de 7 km e o índio queimado vivo, uma tocha humana! Os dois, indefesos: um preso ao cinto de segurança do carro e o outro, dormindo num ponto de ônibus. Nas duas situações, o sofrimento das vítimas não sensibilizou seus algozes! Esta realidade desperta, antes de qualquer análise jornalística, a necessidade de identificar a situação social, política, econômica e étnica das duas vítimas e de seus respectivos assassinos. De antemão é importante deixar claro que, os dois casos, assim como qualquer outro ato violento, merecem veemente repúdio. Entretanto, por ironia histórica, as vítimas eram de classes sociais e origem étnica diferentes: João Hélio, de classe média e cor branca; Galdino, pobre e indígena. Politicamente, o primeiro inofensivo ao sistema, enquanto o segundo se encontrava lutando pela terra e tinha como inimigos os produtores de cacau e o senador baiano, Antônio Carlos Magalhães, invasores de seu território tradicional. As diferenças também acontecem com os atores dos referidos crimes. Os de João Hélio são pobres, moradores de favela e quase todos negros. Os de Galdino são brancos, filhos de pais de classe média-alta, inclusive membros do poder judiciário, educados nos melhores colégios da capital federal e moradores de áreas com bem-estar social avançado. Um detalhe relevante: nos dois grupos um dos integrantes era menor de 18 anos! Responsabilidade da imprensa Aí se encontram as diferenças na cobertura jornalística: o caso João Hélio, como é do conhecimento de todos, tomou repercussão e conseguiu provocar uma comoção nacional. Em cada esquina o tema estava na boca das pessoas. Enquanto o caso Galdino, pelo contrário, quase não era noticiado pela grande mídia. Se não fossem as entidades indigenistas, o caso não passaria de uma nota de rodapé nos jornais locais. Ora, pelo que se observa nas matérias, colunas e comentários da imprensa nacional, ao contrário do caso João Hélio, em nenhum momento o caso Galdino suscitou a discussão de pena de morte, diminuição da maioridade penal e coisas semelhantes. Será que a atrocidade de um é diferente do outro caso? E o menor de classe alta não cometeu a mesma barbárie? E porque a mídia não levantou o debate de mudança da legislação? O exemplo Os Pataxó Hã-Hã-Hãe ainda lamentam o assassinato de Galdino, que morreu lutando por sua terra Em 1997, protesto pela morte de Galdino mais completo dessa comoção nacional foi o comentário apresentado pela Miriam Leitão, na Rede Globo, defendendo a mudança na legislação quanto à diminuição da idade penal e insinuando a pena de morte. O porquê da ação militante dos meios de comunicação no caso João Hélio e omissão no caso Galdino é algo que suscita uma análise, quanto ao papel dos meios de comunicação como formadores de opinião. Qual sociedade está por trás da linguagem dos comunicadores? Não seria o momento de estes fazerem uma autocrítica quanto ao conteúdo veiculado, a exemplo do individualismo exacerbado, personalismo narcisista, concentração de renda nas mãos de uns poucos, exploração dos trabalhadores, promoção do capital privado, destruição da escola e saúde públicas, venda da riqueza nacional para o capital internacional? Por quê escamoteiam a realidade social, política e econômica geradora das desigualdades sociais? Por quê tratam com desdém os pequenos, pobres, a mulher, o negro e o índio e com comoção aos ricos? O que está em jogo nesse posicionamento parcial e equivocado da mídia? Pode-se apontar que a barbárie dos assassinos é promovida 24 horas pela barbárie midiática, considerando que é negado à maioria da população o acesso aos bens necessários a uma vida digna e à cidadania. Por outro lado, nos condomínios fechados formam-se concepções individualistas e de segregação social, enquanto que as pessoas não são despertadas para pensar num projeto de sociedade includente e solidário. Fotos: Arquivo Cimi Galdino - dez anos depois: a violência contra os povos indígenas persiste no Brasil Os Pataxó Hã-Hã-Hãe continuam lutando para recuperar suas terras, enquanto os assassinos de Galdino já estão soltos Paulo Maldos Assessor Político do Cimi N a madrugada do dia 20 de abril de 1997, Galdino Jesus dos Santos, 44 anos, do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe, da Bahia, dormia num ponto de ônibus de Brasília. Tinha ido à capital do país com uma delegação de oito lideranças de seu povo buscar apoio para a luta que travam para recuperarem suas terras tradicionais, invadidas por fazendeiros. A terra dos Pataxó Hã-Hã-Hãe, denominada Caramuru-Catarina Paraguaçu, possui 53.400 hectares e foi demarcada em 1934. Naqueles dias, uma marcha nacional do MST havia chegado à cidade. Galdino participou da recepção aos sem-terra e de reuniões destes com autoridades, inclusive com o presidente da República da época, Fernando Henrique Cardoso, para colocar também as reivindicações indígenas. Galdino dormia no ponto de ônibus porque chegou tarde das reuniões na pensão onde estava hospedado. A dona da pensão se recusou a abrir a porta para ele. Eram cinco horas da manhã quando Galdino acorda completamente em chamas. Socorrido por jovens que voltavam de uma festa, foi levado para o hospital. Tinha queimaduras em noventa e cinco por cento do corpo. Entrou logo em coma e faleceu às duas horas da manhã do dia 21 de abril de 1997. Antes de ficar inconsciente, perguntava para os médicos que o atendiam: “Por que fizeram isso comigo?” Essa pergunta, até hoje é difícil de ser respondida. Essa pergunta sacudiu a sociedade brasileira na época, chocada com o horror da crueldade que ciclicamente nos atinge, às víti- mas em primeiro lugar e, em seguida, a todos nós, em nossa auto-imagem de humanidade e civilização. Os autores da barbárie foram cinco jovens de classe média-alta brasiliense, um deles menor de idade. Numa noite vazia, resolveram atear fogo numa pessoa que dormia indefesa para, segundo declarou o menor, se divertirem. Cometido o crime, fugiram, mas um outro jovem que passava por ali, um chaveiro, anotou o número da chapa do carro dos assassinos e o entregou à polícia. Depois da brutalidade, os criminosos foram para casa dormir, como se nada tivessem feito. Foram identificados e presos. Diante da comoção nacional ainda quiseram se defender, com o seguinte argumento: “Não sabíamos que era um índio, pensávamos que era só um mendigo.” Por que fizeram isso? Podemos olhar para este crime dez anos depois, e nos interrogar novamente: “Por que fizeram isso com ele?” Continua difícil responder a pergunta - e os crimes bárbaros não cessaram. Foram inúmeros os mendigos assassinados com uso de fogo em praças e ruas das nossas cidades nos últimos dez anos. Suspeitos foram vários: policiais, seguranças, comerciantes, jovens... Identificados e punidos? Nem um sequer nos vem à memória. Desde 1984, temos notícias de moradores de rua agredidos e assassinados por grupos que atuam em todo o Brasil. Entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, sete moradores de rua de São Paulo foram assassinados enquanto dormiam. Os principais suspeitos foram policiais que trabalhavam fornecendo segurança para comerciantes do centro da cidade. Em 2006, moradores de rua de Belo Horizonte foram agredidos com fogo. No dia 21 de março de 2007, em Garanhuns, no agreste pernambucano, um adolescente ateou fogo em dois moradores de rua, enquanto dormiam na varanda de uma casa abandonada: um jovem de 16 anos e um adulto de 38 anos foram internados com ferimentos graves. O caso Galdino e o drama indígena Os assassinos de Galdino encontram-se em liberdade condicional desde o final de 2004. O menor não chegou a ser internado. Os maiores Tomás Oliveira de Almeida, Eron Chaves Oliveira, Max Rogério Alves e Antonio Novely Cardoso trabalharam na prisão e conseguiram abreviar a pena. Trabalharam e estudaram fora do presídio, mesmo estando em regime fechado, privilégio concedido pela Justiça, embora totalmente ilegal. Muitas vezes foram vistos nas noites de Brasília, bebendo com amigos, quando deveriam estar encarcerados. Desde aquele abril de 1997, foram assassinados 257 indígenas em todo o país, segundo dados do Cimi. Entre estes, temos crianças, jovens, adultos e idosos. Temos lideranças assassinadas em lutas pelo território. Temos indígenas assassinados por outros indígenas. Temos idosos assassinados por seguranças de fazendas. Temos jovens assassinados por jagunços a mando de fazendeiros. Temos adultos assassinados em brigas na cidade. Temos crianças assassinadas por crueldade. Temos mulheres violentadas e assassinadas por brancos. Este número representa um grande e secular drama: o dos povos indígenas no Brasil, composto por muito sofrimento, vivido por muitos povos e por muitas comunidades indígenas. Muitas dessas mortes foram parecidas com a de Galdino. Numa cidade do Rio Grande do Sul, assassinos, encobertos pela noite, causaram a morte violenta de um idoso indígena. Na área rural do Mato Grosso do Sul, na beira de uma estrada, um tiro covarde dado à distância, por seguranças de fazenda, atingiu um líder indígena, sem nenhuma condição de defesa. Todos esses crimes seguem rigorosamente impunes. Depois de dez anos, a situação da terra Caramuru-Catarina Paraguaçu, pela qual lutava Galdino, encontra-se parada no Supremo Tribunal Federal. Há 25 anos, os Pataxó HãHã-Hãe aguardam o julgamento de uma ação de nulidade de título dos fazendeiros que invadiram suas terras com a conivência do Governo da Bahia. Dona Minervina, mãe de Galdino, perto de onde o filho foi enterrado. Desde aquele abril de 1997, foram assassinados 257 indígenas no Brasil Povos Indígenas e Povo da Rua A morte do índio Galdino enlaça dois dramas: o dos povos indígenas e o do povo da rua. Esses povos possuem em comum sua radical humanidade, sua característica frágil, excluída de toda utilidade para um sistema onde apenas a mercadoria e o “ser mercadoria” contam. Como não cabem no sistema do Capital, este tenta eliminá-los, quer seja pelos “seguranças” urbanos, quer seja pelos “seguranças” e jagunços rurais. Quer seja, também, pelo preconceito, ódio e desprezo, enraizados pelo mesmo sistema em parte da população brasileira e que se manifestam em nosso cotidiano, em múltiplas formas de violência. O desafio colocado para todos nós é compreender o que acontece de tão grave em nossa sociedade, para que seres humanos sejam submetidos sistematicamente à violência e à morte com características de barbárie. Torna-se urgente mudar o destino de nossa sociedade, rompendo com um sistema econômico e com uma ideologia que sacrificam aqueles que não cabem na lógica do Capital. Torna-se necessário construir uma outra sociedade, onde todos possamos viver integralmente, livremente, nossa humanidade comum. *Este artigo foi originalmente publicado na revista Fórum na edição de abril. Abril-2007 Ibama aprova licença para o início das obras, mas ribeirinhos, quilombolas e indígenas atingidos continuam lutando contra a transposição Priscila D. Carvalho A Repórter frase “Não à transposição, conviver com o semi-árido é a solução” estava escrita em uma das faixas levadas pelos manifestantes do acampamento “Pela vida do Rio São Francisco e do Nordeste, contra a transposição” nas caminhadas até as audiências, reuniões e manifestações, realizadas em órgãos públicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A mobilização reuniu, entre 12 e 16 de março, cerca de 600 pessoas. Foram indígenas – dos povos Truká, Tingui-Botó, Pankararu, Kiriri, Atikum e Tuxá -, quase uma centena de quilombolas, além de pescadores, ribeirinhos, trabalhadores membros de sindicatos e estudantes. Pessoas que convivem diariamente com o rio São Francisco e que afirmam não estarem sendo levadas em conta nos planos da obra de transposição. Durante a coletiva à imprensa realizada na abertura do acampamento, um jornalista perguntou sobre a extensão do rio. Marcos Sabaru, do povo Tingui-Botó, respondeu: “O rio não é a sua extensão, a água. O rio é o próprio pescador, o indígena. As caras do rio são pretas, têm penas, são de pescadores, de lavadeiras”. Alternativas mais baratas e revitalização O discurso dos acampados enfatizou as alternativas à transposição, a necessidade de revitalizar o rio, e ressaltou as experiências de convivência com o semi-árido. As lideranças destacaram um recente estudo que aponta 530 obras, descentralizadas em 1112 municípios do São Francisco, como solução para o problema de abastecimento de água no Nordeste. Estas obras custariam a metade dos recursos previstos para a transposição. O estudo é da Agência Nacional de Águas (ANA). “A transposição só poderá oferecer uma água cara. E os custos altos serão cobertos pela própria população sedenta”, questionou Rubem Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra (CPT). “O objetivo dela é levar água para setores empresariais, de grandes projetos de irrigação. Ela não vem para resolver a falta de água do Nordeste. Na região, há água suficiente para o desenvolvimento regional. O que falta é um programa de gestão, gerenciamento e distribuição da água. A solução é conviver com o que há de água lá”, afirmou Alexandre Gonçalves, da CPT, durante audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Diálogo impossível Nos primeiros dias do acampamento, as falas focavam a necessidade de construir um diálogo entre governo e as populações que vivem perto do rio e questionam a obra. Diálogo já tinha sido a palavra central no compromisso firmado entre o presidente Lula e o bispo Dom Luiz Cappio, que em 2005 fez greve de fome por 10 dias para questionar o projeto de transposição e pedir a revitalização do rio. O acordo resultou na criação de uma comissão de diálogo com representantes das Falta de consentimento dos povos indígenas afetados poderá ser entrave legal à obra Abril-2007 Fotos: Maristela Vitória/CPT Acampamento pela vida do rio São e contra a transposição entidades, do Governo, do Ministério Público e do comitê da Bacia do São Francisco. Também houve um seminário em Brasília, em julho de 2006. Mas as tentativas de diálogo não passaram disso. A perspectiva de os acampados dialogarem com o governo ficou mais distante quando o acampamento não foi recebido por Lula nem por seus assessores diretos. Os ânimos em relação ao governo federal ficaram piores ainda quando, em 13 de março – segundo dia do acampamento - o Ministério da Integração Nacional publicou, no Diário Oficial da União, um aviso de licitação pública da primeira etapa do projeto de transposição do rio Governo federal não quis diálogo, mas movimento foi ouvid Sã o Francisco, que prevê obras em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Outros caminhos para A publicação do edital levou os manifesbarrar o projeto tantes a realizarem ato em frente ao prédio do Ministério da Integração Nacional no dia 15 de A agenda dos participantes do acampamenmarço. Durante a manifestação, houve um vidro to não incluiu apenas visitas ao governo fedequebrado. O manifestante acusado pelo ato foi ral, mas também a outras instâncias públicas detido e depois liberado pela polícia. que podem tomar decisões sobre a obra. Parte importante da luta contra a transpoLicença do Ibama: sição acontece no poder Judiciário, responsável más notícias por fiscalizar a aplicação das leis no país. A Na audiência que fez com os acampados, obra é alvo de 12 ações no Supremo Tribunal a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já Federal. A mais nova ação judicial foi apresentada tinha dito que seu Ministério apoiaria a decisão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente no último dia do acampamento. Os militantes (Ibama), órgão responsável pela avaliação dos entraram com uma nova ação popular, baseada impactos ambientais da transposição e pela em uma das irregularidades apontadas pelo liberação da licença ambiental, que permite o Tribunal de Contas da União, que avalia que o número de beneficiários pelo projeto será bem início das obras. Apesar das críticas sobre a falta de consis- menor do que o divulgado pelo Ministério da tência dos estudos ambientais em relação aos Integração Nacional. Algumas das outras ações usam argumenimpactos da obra, a licença veio rápido: foi tos diretamente ligados aos povos indígenas, anunciada em 23 de março. O início das obras depende do cumprimento como a falta de autorização do Congresso de 51 condicionantes. As principais, de acordo Nacional para aproveitamento de recursos hícom o Ibama, referem-se à priorização da con- dricos em terras indígenas; a falta de identificatratação de mão-de-obra local e a apresentação ção de impactos sobre o patrimônio histórico, de um plano de ação solicitado pela Fundação arqueológico, artístico, cultural e arquitetônico Nacional do Índio (Funai). O Ministério da Inte- e sobre as populações tradicionais da Bacia do gração terá que assinar um acordo com a Funai São Francisco. Os acampados solicitaram encontros com garantindo o desenvolvimento das comunidades indígenas Truká, Tumbalalá, Pipipã e Kambiwa, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (a mais alta instância da Justiça no Brasil). segundo informou a Agência Brasil. Francisco Em encontro, indígenas reafirmam críticas à Transposição E ntre os dias 16 e 18 de março, os povos Kambiwá, Xukuru, Kapinawá, Pipipã, Pankararu, Truká, Tumbalalá, Tupã e Tuxá, que vivem em regiões próximas ao rio São Francisco e poderão ser afetados pelas obras da transposição, fizeram uma reunião para aprofundar o debate sobre o tema. A reunião aconteceu em Ibimirim, Pernambuco. Na carta que divulgaram no final do encontro, eles dizem que a transposição “não atende às verdadeiras necessidades dos povos do Nordeste e aos interesses do povo brasileiro, em especial aqueles que vivem na bacia do rio São Francisco”. Alguns dos pontos criticados pelo grupo foram a instalação de usinas e barragens, o desrespeito à opinião das comunidades quilombolas, ribeirinhas, fundo de pasto, pescadores artesanais e indígenas, e a maneira autoritária como o governo tem tratado o projeto da transposição. Foto: Marcy Picanço O São Francisco é personagem vivo das memórias das lutas de quem vivem nas margens do rio. Eles alertam para conseqüências das grandes obras que já viram do no Congresso, no MPF e nas ruas Cabe a eles confirmar ou refutar a decisão do ministro Sepúlveda Pertence, que derrubou, em dezembro de 2006, as liminares que impediam o licenciamento ambiental da obra de transposição. Os manifestantes foram recebidos por 5 dos 11 ministros e apresentaram suas propostas e preocupações. Os acampados também foram recebidos no poder Legislativo, pelos presidentes do Senado e da Câmara. E participaram de Audiência Pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. De volta pa ra casa Apesar da impossibilidade de qualquer diálogo com o governo federal, os acampados voltaram para casa convencidos da necessidade de manter as mobilizações contra as obras. D. Luiz Cappio participou do ultimo dia do acampamento e afirmou que ainda acredita ser possível barrar o projeto. “A organização dessas pessoas é uma prova de que podemos, sim, impedir essa obra desvairada, insana, e mostrar ao Brasil e ao mundo a força que o povo tem”. Em fala no final do acampamento, o Tingui-Botó, Marcos Sabaru, emocionou-se ao dizer que a população não se dobrará frente à tentativa de transpor o rio, e completou: “Se o governo continuar teimando, nós vamos continuar acampando, quantas vezes forem necessárias”. Foto: Priscila D. Carvalho Seu Toinho A vida do São Francisco é a vida dos pescadores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Foram estas pessoas que vieram ao acampamento em Brasília. E as histórias das vidas delas têm muita coisa em comum. Carlos Alberto Gomes vive em Sítio do Mato, Bahia, no Quilombo Mangal Barra Vermelho, que tem 140 famílias e conseguiu o título da terra em 2002. “Foi uma luta muito grande. Retomamos terras e açudes. Em outros quilombos, teve gente que morreu. Nossa terra foi desapropriada pra gente dentro da reforma agrária e como comunidade negra rural. O reconhecimento trouxe habitação, projeto, investimento”. Seu Carlos conta que já enfrentaram muito preconceito. “Chamavam a gente de macaco, negro, feio”. Hoje, os quilombolas também lutam pela educação diferenciada. “Os professores antes eram das vilas. Hoje são da comunidade, conhecem nossa história”. Cada comunidade quilombola tem também suas festas e religiões: Nossa Senhora da Conceição e do Rosário, São Gonçalo, candomblé, jurema. Muitas delas são ligadas Carlos Alberto Histórias do Velho Chico ao São Francisco, o que dá pra notar até pelo nome: tem a lenda do Nego D´água e as festas de Marujo. Por que a transposição afeta vocês? Todo ano, plantamos na vazante do rio. Com a transposição, tenho certeza de que não vai mais banhar as terras, e o sustento da gente é esse, da vazante. Sem o rio, vamos ter que plantar de seis em seis meses, e isso se for ano bom de chuva. Antônio dos Santos, “Seu Toinho”, é um dos fundadores da Pastoral dos Pescadores e vive em Penedo, Alagoas. Está nos movimentos sociais desde 1969, quando apareceu a Comunidade Eclesial de Base em sua cidade. Foi convencido a começar a participar por sua esposa. “Lutamos muito para que as nossas propostas sobre a pesca fossem para a constituinte, e elas se tornaram o artigo 8º da Constituição. Antes, as colônias de pescadores eram administradas pela marinha, por almirantes e tenentes, não pelos pescadores”. Por que a transposição afeta vocês? Sabemos o prejuízo que deram os grandes projetos. Tive nove filhos, adotei outros dois e criei todos pescando no rio são Francisco. Hoje, meu filho tem uma filha e não sustenta, porque o rio não tem peixe. Os projetos que mais afetaram foram as barragens. O peixe diminuiu depois de Sobradinho, em 1979, e piorou depois da barragem de Xingó. Passamos 12 anos sem cheia e com isso não teve piracema. Só melhorou em 2004, porque as chuvas caíram em Pernambuco e Sergipe. Aí teve piracema de curimatã, piau e piranha. O rio era navegável, tinha grandes embarcações. Quando acabou peixe, as coisas ficaram ruins. O povo foi saindo para as grandes cidades, para capitais. Mesmo sem pegar muito peixe, hoje corre de novo pra pescar. Não tem mais arroz, tem cana no lugar. Não tem mais industria têxtil, de arroz, de sabão, emprego nos barcos de pesca. Agora é só trabalhar nas usinas, e uma máquina corta cana por 100 homens. Do que o rio precisa? Precisa de saneamento básico, de estações de tratamento de água, de reforma agrária ampla, de investimento em tecnologia para que o povo se firme em terra. Antes, tinha dia de pegar 100 quilos de peixe. Abril-2007 Justiça Supremo atendeu a reivindicação feita durante Acampamento Terra Livre 2006. Mas casos destacados seguem sem decisão Crédito: Divulgação STF STF julga 118 processos de interesses indígenas Marcy Picanço Dentre os processos julgados, está o caso conhecido como Massacre de Haximu – o assassinato de 12 Yanomami por garimpeiros em 1993. No dia 3 de agosto do ano passado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou que o crime conhecido foi um genocídio e que é válida a sentença da Justiça Federal que condenou garimpeiros a 19 anos de prisão por crime de genocídio em conexão com outros delitos, como contrabando e garimpo ilegal. Povo Pataxó Hã-Hã-Hãe aguarda julgamento sobre nulidade dos títulos de fazendeiros (ao lado). Massacre de 12 Yanomami foi julgado Crédito: Arquivo Cimi Supremo Tribunal Federal (STF) cumpriu o compromisso assumido com os povos indígenas no Acampamento Terra Livre de 2006 de priorizar o julgamento de ações que afetam os povos indígenas. Entretanto, três dos quatro casos específicos para os quais se pediu prioridade ainda aguardam decisão. Em 6 abril de 2006, durante as mobilizações do Abril Indígena, a presidente do STF, ministra Ellen Gracie, recebeu uma comissão de lideranças indígenas e se comprometeu a tratar como prioridade os processos ligados às questões indígenas. Na ocasião, as lideranças pediram que se priorizasse os processos relativos à terra Nhande Ru Marangatu, do povo Kaiowá-Guarani, no Mato Grosso do Sul; à terra Jacaré de São Domingos, do povo Potiguara, na Paraíba; à terra Raposa Serra do Sol, em Roraima; além da terra dos Pataxó Hã-Hã-Hãe. De fato, em 18 de maio de 2006, o Supremo oficializou a decisão inédita, dentre os órgãos da Justiça, de dar preferência aos casos que envolvem interesses indígenas. Ainda no primeiro semestre, a Assessoria de Gestão Estratégica do STF identificou 166 ações e recursos deste tipo que tramitavam no órgão. E, segundo levantamento do STF encaminhado ao Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas, 118 processos de interesses indígenas foram julgados até março de 2007. Este levantamento também informa que tramitam no órgão 148 processos que afetam os povos indígenas, incluindo nesse número os novos processos que chegaram ao Supremo a partir do segundo semestre de 2006. Foto: Adalberto Lopez O Editora do Porantim Indefinição Dos processos para os quais foi solicitada prioridade, foi julgado o que pedia a fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento de ações possessórias relativas à Raposa Serra do Sol. Mas, apesar do empenho do Supremo, os três outros casos ainda aguardam uma decisão. Esta indefinição aumenta a tensão nas áreas indígenas afetadas. Os Kaiowá – Guarani expulsos, em dezembro de 2005, de sua terra já homologada Ñande Ru Marangatu, aguardam, à beira de uma estrada, uma decisão do mandado de segurança contra essa homologação. No STF não existe um único precedente no qual se tenha desconstituído um decreto de homologação de demarcação de terra indígena. Espera-se que esse entendimento seja mantido também nesse caso. No mês de abril, as lideranças de povos e organizações indígenas retornam a Brasília para uma nova mobilização. Novamente, tentarão se reunir com a presidente do STF, ministra Ellen Gracie, para conversar sobre o que já foi feito e reafirmar a esperança de que os processos sejam julgados. Nove indígenas presos há um ano serão soltos O s nove Guarani-Kaiowá de Passo Piraju detidos no Mato Grosso do Sul desde abril de 2006 devem agora ser soltos, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A 5a Turma do Tribunal acompanhou o voto da ministra Laurita Vaz e, por unanimidade, decidiu que é da Justiça Federal a competência para julgar o caso do assassinato de dois policiais civis pelos indígenas. Até agora, o caso tramitava na Justiça Estadual. Com a decisão, o decreto de prisão Março-2007 10 preventiva, da Justiça Estadual, é anulado. O processo será encaminhado à Justiça Federal em Dourados, MS. O julgamento de Habeas Corpus ocorreu no dia 27 de março, em Brasília No julgamento, o advogado Paulo Machado Guimarães, da assessoria jurídica do Cimi, realizou a sustentação oral do Habeas Corpus. Os advogados da entidade atuam na defesa dos nove indígenas. Guimarães defendeu a competência da Justiça Federal nos casos em que há disputa pela posse de terra e quando o processo está relacionado à condição étnica do grupo, posição que contou com parecer favorável do Ministério Público Federal. O advogado questionou também os motivos apresentados pela Justiça Estadual para a prisão preventiva. “A prisão preventiva baseia-se no sentimento de comoção que foi gerado na cidade após as mortes. Não há sentido na manutenção da prisão preventiva de pessoas que têm residência fixa, são agricultores, e em uma situação em que os interesses da comunidade estão em litígio na Justiça Federal”, afirmou. Em seu voto, a ministra Laurita Vaz acatou os argumentos apresentados pela defesa. O primeiro deles, de que os crimes de homicídio em questão tiveram como motivação declarada a defesa da terra pelos indígenas. “A ação conflituosa praticada por grupo traduz aparente esforço para a proteção da terra. O cenário indica estreita ligação com a disputa pela posse de terra entre índios e os proprietários”, afirmou Vaz. Ela salientou que os policiais não estavam identificados e que, pela maneira como agiram, foram confundidos com fazendeiros. “Há, na região, permanente conflito entre indígenas e fazendeiros”, disse a ministra. De Volta À Vida A luta Potiguara contra a indústria canavieira Fotos: Cimi-NE Retomada Povo retoma áreas invadidas por usineiros na Paraíba Otto Mendes Cimi-NE C ansados de esperar pela demarcação de suas terras, os Potiguara, no município de rio Tinto, Paraíba, retomaram parte de sua terra, que estava invadida por uma usina canavieira. Cerca de 50 famílias – 150 pessoas – estão acampadas desde o dia 19 de março e trabalham na construção de casas e a abertura de roças. A retomada começou em fevereiro, sem a ocupação humana. Os indígenas arrancaram a cana-de-açúcar e plantaram alimentos como feijão, macaxeira, inhame, milho e verduras. Desde a década de 1970, as terras Potiguara foram invadidas por plantações de cana de açúcar, usada para a produção de álcool e açúcar nas usinas que se instalaram na região, incentivadas pelo programa Próalcool. Naquela época, junto com as promessas de emprego, as usinas trouxeram desmatamento, diminuição das áreas de roça, degradação do solo, envenenamento dos manguezais onde a comunidade coletava mariscos e carangueijos para se alimentar e vender. A retomada Potiguara se consolidou na mesma semana em que o presidente Lula – que tem apresentado o biodiesel como o “novo” grande produto do país para exportação - chamou produtores de cana de “heróis”. A grande esperança do presidente brasileiro é uma formula que há mais de quinhentos anos é aplicada no Brasil: a monocultura e a grande propriedade. Nunca deu certo. Só trouxe desigualdade e exclusão. Mas, Estados Unidos, Europa, Japão e China querem o etanol e o biodiesel brasileiro, com o argumento de que isso vai trazer melhorias sociais para o Brasil. Governo e a mídia estão exultantes. Porém, como um modelo que continua mantendo o país no esgoto, há quinhentos anos, pode funcionar? Lula já deixou claro qual é o lado que ele ocupa nesta história: o lado do mercado financeiro, do neoliberalismo, do latifúndio e do crescimento a qualquer custo. Poucos estão refletindo sobre o custo social embutido na fabricação de etanol e de biodiesel, que, para atender a demanda apresentada, precisará produzir mais de um trilhão de litros por Comunidade unida contra cana que invade terra de Monte-Mor. Acima, protesto dos Potiguara em 2004, contra uma reintegração de posse dada por juiz estadual ano. Para isso, as terras necessárias para a monocultura de cana-de-açúcar passariam dos atuais sete milhões de hectares para 30 milhões, sem contar as áreas destinadas a outros produtos (soja, mamona, dendê...) As conseqüências desta situação terrível serão o aumento da concentração fundiária; a ameaça à soberania alimentar; o êxodo de homens e mulheres para as cidades, aumentando a favelização da população; a destruição do meio ambiente por causa das queimadas e derrubada das matas e do uso excessivo de agrotóxico. Luta Potiguara e o biodiesel O povo Potiguara, que vive no extremo norte da Paraíba, conhece a tragédia provocada pela monocultura canavieira. Há décadas, usinas da região invadem suas terras. A degradação ambiental deixa muitos Potiguara sem trabalho nas aldeias e os três municípios (Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição) onde está a área indígena não têm como absorver esta mão-de-obra ociosa. A fome e a desesperança caíram sobre o povo Potiguara, que muitas vezes para levantar uma roça em suas próprias terras tinham que pedir permissão para as usinas! Entretanto, nos últimos anos, eles resolveram fortalecer a luta contra as usinas invasoras. Em agosto de 2003, a usina Japungu, para aumentar sua área de canavial, resolveu passar um trator por cima das roças dos Potiguara, que se revoltaram e retomaram aquela área, chamada por eles de aldeia Três Rios. Desde então, uma mudança na qualidade de vida daqueles homens e mulheres aconteceu, pois eles mudaram a cana-deaçúcar pela policultura, plantando feijão, macaxeira, inhame, tomate, mangabeiras, goiabeiras, cajueiros, mangueiras, mandioca, pimentão, pimenta e outros produtos, além de poderem voltar a recolher alimentos nos mangues, pois sem a cana não havia mais veneno. Casas foram construídas, eles têm luz e água e estão felizes, pois a vida voltou para quem estava quase morto. A Aldeia Três Rios virou uma espécie de vitrine para o povo, o exemplo a ser seguido e um argumento incontestável contra a monocultura de cana, que só trouxe desgraça para os Potiguara. Agora, seguindo o exemplo de seus parentes, os Potiguara do município de Rio Tinto, resolveram lutar por seus direitos e expulsar os invasores de suas terras. Já existe um pedido de reintegração de posse, mas a situação na retomada está tranqüila. As indústrias canavieiras já começaram a usar o argumento de que a plantação e beneficiamento da cana é ponto estratégico para o país, evitando o debate sobre se o ganho paga o enorme prejuízo ambiental e humano. As novas roças se sobressaem no meio da monotonia da cana, devolvendo para aquelas famílias a perspectiva de uma vida digna, sem fome, sem violência e a alegria de pisar na sua terra. A luta dos Potiguara para recuperar suas terras originais e expulsar os invasores é um símbolo da luta que todos nós vamos enfrentar para podermos barrar projetos que só beneficiarão poucos em detrimento da maioria e do meio ambiente. Os Potiguara podem ser mais um dos exemplos de que outro mundo e outra consciência social e econômica não é só possível: ela já existe! 11 Abril-2007 Fotos: Cimi – MA País Afora Omissão da Funai incentiva ações violentas dos invasores Paralisação do processo de revisão de limites gera incertezas na comunidade e permite a presença devastadora dos invasores. O Aldeia Guajajara é incendiada e comunidade expulsa no Maranhão Na luta pela revisão de limites, aldeia foi incendiada três vezes e duas pessoas foram assassinadas Rosimeire Diniz e Humberto Rezende Capucci N Cimi-MA o dia 22 de fevereiro, em Grajaú, no centro-oeste do Maranhão, um grupo armado invadiu a Aldeia Santa Maria, do povo Guajajara, na terra indígena Bacurizinho, incendiou casas e expulsou de lá a comunidade, com cerca de 30 pessoas. Ana Rosa Machado Guajajara, que vivia na aldeia, presenciou aquela noite de horror. Segundo ela, os fazendeiros haviam dado um prazo de quinze dias para que os indígenas deixassem a área. Quando faltava um dia para vencer o prazo, por precaução, a comunidade deixou a aldeia e se concentrou em uma única casa que fica um pouco distante. “Graças a Deus fizemos isso”, diz Ana Rosa. Tão logo anoiteceu começaram a ouvir tiros e gritos vindos da aldeia. Os pistoleiros gritavam perguntando pelos índios e diziam que matariam qualquer um que encontrassem. Assustados, os Guajajara deixaram a casa em que estavam e correram para se refugiar na mata, onde ficaram escondidos sob o frio e a chuva até que o dia amanhecesse. Violência sofrida pelos Guajajara foi denunciada à ONU. Na foto, casa onde a comunidade se abrigou para sobreviver ao incêndio. Algumas pessoas que moravam na Aldeia Santa Maria estão provisoriamente em outra aldeia Foi quando foram até a aldeia e puderam constatar a destruição. Encontraram roças pisadas, marcas de tiros e todas as casas incendiadas. Ana Rosa, que era nora de João Araújo, cacique assassinado há dois anos em função de sua luta pela terra, chora ao lembrar das coisas que foram queimadas junto com sua casa. “A gente não tinha quase nada, mas eles queimaram tudo que era nosso”. Ao mesmo tempo em que chora, ela não esmorece e reafirma sua decisão de não desistir da terra de seus antepassados. De forma muito emocionada afirma: “Ninguém não vai perder esse lugar aí não! Ninguém é cachorro pra fica morrendo à toa!... Se não, pra onde é que a gente vai? Por isso é que a gente está pedindo que a Funai tome providência, demarque essa terra pra nós. Pra o índio não morrer mais de graça. Porque, se não demarcar essa terra, a gente vai se acabar tudinho!”. De acordo com as lideranças da comunidade, mesmo depois de insistentes avisos e pedidos de apoio, nenhum representante da Fundação Nacional do Índio (Funai) compareceu ao local para assistir à comunidade. Segundo eles, o órgão federal se limitou a fornecer um caminhão para que os indígenas desocupassem a área e fossem para outra aldeia. Ação dos invasores Os pistoleiros que incendiaram a aldeia agem em nome de fazendeiros que invadiram a terra indígena Bacurizinho e que pretendem fazer a comunidade desistir do processo de revisão dos limites da área. A terra possui originalmente 145 mil hectares, mas foi demarcada com 82.432 hectares. Assim, aldeias centenárias localizadas nos 62.568 hectares restantes ficaram de fora da demarcação. A exclusão dessa parte da área tradicional abriu espaço para a ação de invasores, principalmente para o corte ilegal de madeira, carvoarias, plantio irregular de soja, eucalipto e arroz, que devastam uma das últimas áreas preservadas do cerrado maranhense. Esses grupos usam de todos os meios para impedir o andamento do processo de revisão dos limites da área, inclusive os mais violentos. Esse tipo de ação é alimentado pela impunidade que existe na região. As violências praticadas nos anos anteriores permanecem sem o julgamento e condenação dos acusados. processo de revisão de limites da terra Bacurizinho está parado. Em 2004, foi entregue à Fundação Nacional do Índio (Funai) o relatório do Grupo Técnico que identifica a área reivindicada como indígena, mas a Funai ainda não aprovou este documento. Em junho de 2006, após ser acionada pelo Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal determinou que a Funai desse andamento ao processo. A Fundação teria um prazo de 90 dias para retomar o processo e, em caso de descumprimento, deveria pagar multa diária de cinco mil reais. A Funai recorreu, pedindo que a decisão fosse suspensa, mas este recurso foi negado pelo Tribunal Regional Federal. O prazo da Funai encerrou, portanto, em outubro de 2006. No dia 21 de março, o Procurador da República em São Luis, Luis Carlos de Oliveira Junior, recebeu lideranças da terra Bacurizinho e representantes do Cimi – Maranhão para tratar do caso. Também estavam presentes na audiência a Administradora Regional da Funai de São Luis, Elenice Viana Barbosa e o Procurador da Funai, Dr. Daniel. As lideranças indígenas questionaram o Procurador sobre o descumprimento da decisão judicial e relataram a situação de tensão na região para responsabilizarem a Funai caso haja mais violência. A administradora da Funai confirmou que o processo administrativo continua parado em Brasília, na DAF – Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, segundo informações da própria diretora, Nadja Havt Bindá, contatada naquela manhã. O Procurador da República se comprometeu a informar à Justiça Federal que sua decisão está sendo descumprida, para que as providências necessárias sejam tomadas. O MPF se comprometeu ainda em manter a comunidade informada. Assassinatos e agressões marcam a luta pela terra Bacurizinho O objetivo dos crimes é forçar os indígenas a desistirem do processo de revisão dos limites da área, homologada na década de 1980. 1975 u Conclusão do trabalho antropológico para a demarcação da terra Bacurizinho. u cacique Antônio Leão Guajajara foi esquartejado e atirado em um rio. u cacique Valdomiro Guajajara foi carbonizado para dificultar a identificação de seu corpo. Até hoje os dois crimes permanecem sem solução. 2001 u início dos trabalhos de revisão de limites da terra 2003 u O cacique Zequinha Mendes Guajajara foi morto por atropelamento 2004 u Um grupo armado invadiu a aldeia Bacurizinho e incendiou sete casas 2005 u Abril-2007 12 Um grupo de seis homens armados invadiu a aldeia Kamihaw. Assassinaram o cacique João Araújo Guajajara, de 70 anos, com dois tiros no peito. u O grupo também queimou uma casa, estuprou a jovem D. S., de 16 anos, e feriu Wilson Araújo Guajajara com um tiro na cabeça. Estas duas vítimas são filhos do cacique Araújo. u Outro Guajajara, ao fugir dos pistoleiros, levou um tiro na perna. Duas jovens Oro Wari´morrem por falta de pré-natal em Rondônia País Afora P roblemas no coração. Isto teria levado à morte, em menos de três meses, duas mulheres de 21 anos de idade, do povo Oro Wari´, em Guajará-Mirim, Rondônia. No entanto, o histórico de saúde das jovens indica que a morte das duas mulheres foi conseqüência da falta de atendimento pré-natal, que não tem sido oferecido regularmente por este Pólo-Base às indígenas grávidas. As duas jovens faleceram na Unidade de Tratamento Intensivo de Porto Velho, capital do estado. As duas tinham uma gravidez de alto risco. Madalena Oro Mon, da aldeia Lage Velho, terra indígena Lage, faleceu em 30 de novembro de 2006, nove dias depois de um parto normal. Miriam Oro Mon, da aldeia Ribeirão, terra indígena Ribeirão, faleceu em 27 de fevereiro de 2007, grávida de aproximadamente cinco meses. As duas não receberam o acompanhamento pré-natal. Segundo o Agente Indígena de Saúde da aldeia Ribeirão, Miriam foi encaminhada para a Casa de Saúde Indígena (CASAI), em GuajaráMirim no início de janeiro para realizar exames de pré-natal. Aguardou alguns dias sem receber atendimento e decidiu voltar para aldeia. Em fevereiro, retornou à cidade com dores abdominal e de cabeça. Faleceu em menos de uma Foto: Gil de Catheau/Cimi-RO Desde 2000, comunidade pede à Funasa condições dignas de atendimento às indígenas grávidas Idosos dormem no chão da CASAI em Rondônia por falta de leitos semana. No atestado de óbito, consta que ela faleceu em função de uma cardiopatia valvular. Essa doença teria sido descoberta se houvesse consulta médica no pré-natal. Até 2004, no Pólo-Base de Guajará-Mirim, somente as gestantes que buscavam o atendimento por conta própria realizavam em parte o pré-natal. As demais passavam toda gestação sem atendimento. Por isto, aumentou o número de partos prematuros e de nascimentos de crianças com doenças congênitas, como toxoplasmose. Naquela época, a justificativa dada pela chefia da CASAI é que não era possível trazer as gestantes para a casa por falta de espaço nas enfermarias. Grávidas não têm acompanhamento prénatal completo No Plano Distrital do DSEI de Porto Velho, aprovado pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena, consta a realização do pré-natal de acordo com as normas do Ministério da Saúde, com no mínimo seis consultas, sendo duas feitas por médico. Com isto, pretende-se reduzir a mortalidade materno-infantil. No Pólo-Base de Guajará-Mirim, essa meta está longe de ser alcançada. No melhor dos casos, acontece uma consulta de enfermagem, exames de laboratório e uma ultrassonografia. Os resultados são avaliados pelo enfermeiro. Em caso de alteração, os exames são apresentados ao médico da CASAI que, em geral, não vê a paciente. Desde 2000, a comunidade solicita melhorias nos recursos materiais (transporte, equipamento, leitos...) e humanos (consultas médicas, auxiliares de enfermagem nas aldeias...) que atendem às aldeias do Pólo-Base. Essas reivindicações constam em atas de reuniões do Conselho de Saúde Indígena e em diversas denúncias e ofícios encaminhados ao Ministério Público Federal. Recentemente, o Procurador da República, Ricardo Martins Batista, convocou uma Audiência Pública sobre atendimento à saúde indígena de Guajará-Mirim, porém o descaso e as mortes continuam acontecendo. A equipe do Cimi em Rondônia, que convive diariamente com esta realidade, aponta como responsável por esta situação o coordenador regional da Funasa do estado de Rondônia, que atua no cargo desde o ano de 2003. (Equipe Guajará-Mirim/CIMI-RO) Ministro termina mandato sem demarcar a terra destes povos no Espírito Santo Foto: Zélia Siqueira Thomaz Bastos devolve processo dos Tupinikim e dos Guarani para a Funai Geetje van der Pas Reporter D esde novembro de 2006, a demarcação das terras dos Tupinikim e dos Guarani no Espírito Santo dependia apenas da assinatura do ex-ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos. A Presidência da Funai e da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça (MJ) recomendaram que Bastos assinasse as portarias de demarcação. No entanto, passados mais de 120 dias do prazo legal para que ele se decidisse, o ex-ministro optou por devolver o processo à Funai para que esta realizasse estudos e elaborasse uma proposta que “componha os interesses” dos indígenas e da empresa Aracruz Celulose, que invade a terra indígena. Ao que tudo indica, a intenção de Thomas Bastos, que deixou o cargo de ministro em março, é protelar a demarcação das terras para que a Funai possa rever, ou seja, diminuir os limites da terra propostos pelo Grupo Técnico (GT). Se esta sugestão for acatada, MJ e Funai estarão afrontando à Constituição, pois o espaço territorial proposto pelo GT contém Indígenas e quilombolas lutam por suas terras, invadidas pela Aracruz. Ato no Dia Internacional da Mulher (8 de março) os elementos de uma terra tradicionalmente ocupada pelos Tupinikim e Guarani, de acordo com o que determina a lei. Segundo a Constituição Federal as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis. Ou seja, nem a União, nem mesmo os povos indígenas, podem fazer transações, ainda que acordadas, com elas. Os Tupinikim e os Guarani ficaram indignados com a decisão de Thomaz Bastos. No dia 3 de março de 2007 eles realizaram uma Assembléia Geral onde discutiram como vão continuar a luta pela terra e, após o encontro, divulgaram uma nota reafirmando a posição da comunidade. “Não aceitamos qualquer acordo envolvendo nossas terras, nem que a Funai realize novos estudos para mudar os limites já definidos pelo Grupo Técnico da Funai em 1997. Exigimos que o presidente da Funai devolva os processos para o ministro da Justiça para a assinatura imediata das Portarias de Delimitação e promova a demarcação definitiva das nossas terras.”, diz a nota. No momento, as comunidades esperam a confirmação de uma audiência com o novo ministro da Justiça, Tarso Genro. Internacional A Aracruz Celulose perdeu em março um de seus maiores clientes: a multinacional Procter & Gamble, que vendeu as marcas Tempo, Charmin, Bounty & Co. A empresa que adquiriu as marcas, a sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) informa que não compra celulose de lugares onde há violação dos direitos humanos ou dos direitos tradicionais dos povos indígenas. Há mais de dois anos, algumas organizações européias (RobinWood, Framtiden etc) fazem uma campanha contra a Procter & Gamble. Em maio de 2006, dois representantes dos Tupinikim e Guarani, junto com as ativistas da RobinWood, bloquearam, na Alemanha, uma das fábricas desta multinacional. Histórico As terras indígenas Tupinikim e Comboios, onde vivem os Tupinikim e os Guarani no Espírito Santo foram identificadas em 1997 com a dimensão de 18 mil hectares. No entanto, apenas 7 mil foram demarcadas e 11 mil hectares continuam invadidos irregularmente pela empresa Aracruz Celulose S.A. Em 2005, por recomendação do Ministério Público Federal ao presidente da República e ao ministro da Justiça, a Funai retomou o procedimento administrativo para demarcação. Os novos estudos realizados pela Funai confirmaram que os 18 mil hectares são terras indígenas tradicionais. 13 Abril-2007 A vida dos povos Ritual dos Praiás Karua em Alagoas Jorge Vieira Cimi - NE T odo ano, o ritual dos Praiás é celebrado pelo povo Karuazu, de cerca de 250 familias, que vive em Pariconha, a 360 km de Maceió, Alagoas. No mês de março, eles realizam, por quatro finais de semanas consecutivos, a celebração religiosa com os Praiás no terreiro, o Toré e a penitência da Cansanção, sempre intercalados com rituais durante as noites. Fotos: Jorge Vieira/Cimi- NE Obediência aos encantados e êxtase espiritual Chegada dos Praiás As roupas O ritual começa com a preparação dos membros da comunidade, orientados pelo pajé. Todos participam da preparação dos rituais e do acolhimento dos convidados indígenas e amigos do povo. O momento de maior concentração é o da purificação dos homens e mulheres. Os homens vão para o Poró – local reservado aos homens –, tomam banho com águas preparadas com ervas, fumam sem parar o campiô – cachimbo preparado para o ritual. Nos três dias anteriores ao ritual, os homens não mantêm relação sexual, não tomam bebidas alcoólicas e ficam isolados do mundo dos “brancos”. Todos envolvidos na escuridão da noite, por volta das 20 horas, chegam os Praiás. “Quem veste essa roupa, tem obrigação. Não faz, ele cobra”, comenta o Karuazu Valdo Marcolino de Souza, 43, quando os Praiás aparecem no terreiro. “Todo ano nós temos essa obrigação. A gente participava inicialmente em Pankararu, a sete léguas (42 km) daqui. Antigamente nós não valíamos nada aqui; éramos considerados como cachorros. Hoje nós somos reconhecidos”, conta Valdo. As vestimentas dos Praiás, que encobrem todo o corpo, são feitas com cipó e chegam a pesar cerca de 15 quilos. O preparo exige muita dedicação: depois de coletar o material no mato, bate-se com um cacete até que vire fibra, então, põe-se pra secar numa corda. As roupas, feitas pelas indígenas mais velhas, são usadas somente nos rituais e pelos que estão preparados. Toré segue noite adentro O maracá é chamado de bolíva na língua Karuazu. Ao toque do maracá, puxado pelos mestres de mesa – os líderes religiosos –, os Praiás cruzam o terreiro por três vezes, enfileirados e com o movimento do corpo em ritmo contínuo e igual, onde os pés parecem flutuando. Cada vez que cruzam o terreiro, o movimento é interrompido para uma reverência dirigida ao puxador do canto. Em certo momento, um Praiá se desloca da fila e fica tocando o bolíva ao redor do terreiro, voltando a dançar em direção contrária à do grupo, em posição de proteção de interferência negativa. Enquanto isso, duas mulheres, protetoras dos Praiás (chamadas “donas dos folguedos”), ficam nas extremidades e seguram os braços das duplas para dançarem. À meia-noite, os Praiás se recolhem no Poró, enquanto a aldeia mantém-se em silêncio, interrompido apenas por sons de conversas entre algumas pessoas. Uma hora depois, os Praiás retornam e começam a dançar o toré. Toda a comunidade participa, até surgirem os primeiros raios do sol. Toda a comunidade deve participar do ritual. Caso não seja obedecida por algum dos membros responsáveis pelo Encantado – entidade religiosa e mística que conduz os destinos do povo Karuazu –, o pajé, Antônio José da Silva, 54, sentencia: “à noite chega um cidadão e diz, ‘caboco’, se você não vier eu vou te buscar”. Outro dia de ritual No dia seguinte, às 9 horas, os Praiás recomeçam o ritual e seguem até o meio-dia, quando se dirigem até o local onde as mulheres prepararam a alimentação. Cada um recebe o prato e, em fila, vão para o Poró. Por volta das 14 horas, os Praiás dançam no terreiro por nove vezes, em círculo e em cruz. Ao término, vão buscar os homens e mulheres, com corpos pintados com uma tinta branca extraída de barro da região, para conduzi-los para o ritual da Cansanção (tipo de árvore da região que, ao tocar na pele humana, produz coceira e caroços no corpo), carregando os galhos sobre os ombros pintados. Postos em fila e intercalados entre os Praiás, os homens e mulheres cruzam o terreiro novamente por três vezes. Depois, com um grupo de mulheres à frente, carregando balaios na cabeça cheios de alimentos, os mestres de mesa puxam o canto e se dirigem para um segundo terreiro, onde repetem os mesmos atos religiosos. Depois, seguem para o final do ritual, em outro local, onde são coladas as oferendas no chão. E aí começa a penitência, onde os pares passam sobre os corpos as folhas da cansanção, juntam os galhos e, com os pés, destroem-nos até o último pedaço. Em estado de êxtase e exaustos sob o sol causticante das tardes sertanejas, dançam três rodas de toré e voltam cada um para sua casa. Fotos do ritual celebrado no mês de março O Abril-2007 14 As raízes do povo Karuazu s antepassados do povo Karuazu migraram para Alagoas há quase dois séculos. Antes, eles viviam em Pernambuco, em aldeamento organizado por missionários católicos e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio. Ali, vive hoje o povo Pankararu. Com o aumento da população do aldeamento, diversos grupos migraram em busca de terras para viverem e praticarem seus rituais em paz. Os descendentes dos Pankararu são povos que atualmente ocupam quase todo o extremo oeste do sertão alagoano. Em Alagoas, os Karuazu permaneceram anônimos até o final do século passado. Somente em abril de 2000 eles assumiram para a sociedade a sua identidade étnica e iniciaram a realização de seu ritual em público. A relação religiosa entre os grupos foi mantida. Antes de realizar os rituais em Alagoas, em março, eles participam dos rituais Pankararu, em fevereiro. Resenha Ameríndia Foto: Victorino Tejaxun Aspectos Fundamentais da Cultura Kaingang Obra apresenta o panorama quase completo de uma sociedade indígena O livro Aspectos Fundamentais da Cultura Kaingang é a publicação da dissertação de mestrado da autora, Juracilda Veiga. Nele se pode ver um panorama quase completo de uma sociedade indígena, apresentando aspectos fundamentais da cultura Kaingang, cuja população é estimada em cerca de 29 mil pessoas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A autora trabalhou como indigenista durante oito anos entre os Kaingang, com uma presença maior nas áreas de Xapecó e Chimbangue (SC) e Nonoai (RS). Desse convívio, afirma que, por trás de uma roupagem de “povo aculturado”, os Kaingang guardam fidelidade à sua cosmologia e seguem as balizas colocadas por sua cultura. Somente a pesquisa de documentos históricos combinados com uma pesquisa bibliográfica não seria suficiente para a compreensão da cultura desse povo sem que houvesse uma convivência cotidiana. O trabalho está dividido em 13 capítulos e aborda praticamente todos os aspectos da cultura Kaingang, o registro arqueológico, a organização social, a economia, a história do contato, o sistema de nominação e os ritos de luto. Para a análise da organização social dos Kaingang, a autora tomou como ponto de partida as questões colocadas pelos pesquisadores dos Jê Centrais e Setentrionais, buscando encontrar pontos de contato e princípios comuns entre a organização social Kaingang e as formas de organização dos outros povos Jê. Com relação a este ponto, vemos um estudo detalhado sob a denominação “metades clânicas”, para a divisão que marca a distinção mais importante entre membros na sociedade Kaingang. Conforme sua orientadora, professora Vanessa Lea, a autora resgata a relevância da teoria de descendência e da aliança matrimonial e foi por meio da pesquisa ora publicada que se desvendou a riqueza e a complexidade da organização do povo Kaingang e suas feições Jê. Destacamos a apresentação, em detalhes, do ritual dos Kaingang de Xapecó, para os mortos, a festa do Kikikoi, cuja cerimônia pode ser considerada como o centro de sua vida ritual. Evento convocou Cúpula de Mulheres Indígenas para 2007 3ª Cúpula Continental de Povos e Nacionalidades Indígenas da Abya Yala E ntre os dias 26 e 30 de março mais de duas mil pessoas, vindas de 18 delegações de todo o continente americano (Abya Yala) se reuniram na terra sagrada Maya ‘Iximche’, na Guatemala, na 3ª Cúpula Continental de Povos e Nacionalidades Indígenas da Abya Yala. O lema “Da resistência ao Poder” norteou as discussões que reforçaram a luta pela autonomia e o avanço da organização indígena no continente. No documento final, os participantes reafirmaram os princípios milenares da reciprocidade, complementaridade e dualidade e as lutas em defesa da natureza, pela autonomia e livre determinação dos povos. Para avançar nessa luta e enfrentar os desafios dos novos tempos, as organizações indígenas participantes enfatizaram a necessidade de intensificar as alianças entre os povos e com os movimentos sociais. Nesse sentido, decidiram constituir a Coordenação Continental das Nações e Povos Indígenas da Abya Yala, como um espaço de articulação e intercâmbio. Em relação às ações locais, os participantes resolveram consolidar os processos de refundação dos países, construindo Estados plurinacionais e sociedades interculturais, através de Assembléias Constituintes com representação direta dos povos indígenas. O documento final da Cúpula responsabiliza os governos dos países americanos pela extinção dos povos do continente, por manterem impunes as práticas genocidas das empresas transnacionais, e condena as nações que não ratificaram a Conveção n.169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas. A carta tmbém denuncia a pouca vontade das Nacões Unidas em viabilizar a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. Ao final do evento, foi convocada a Cúpula Continental de Mulheres Indígenas e Cúpula Continental da Infância, Adolescência e Juventude das Nações. Além disso, foi chamada a marcha continental dos povos para salvar a Mãe Natureza, prevista para 12 de outubro de 2007. (Informações da agência Minga/Movimientos.org) Aspectos Fundamentais da Cultura Kaingang Juracilda Veiga Campinas/SP : Curt Nimuendajú, 2006 254 p. É importante chamar a atenção para os anexos da presente publicação com textos sobre mitos dos índios Kaingang, a lista de nomes e seus respectivos clãs e seções, assim como um vocabulário e sua forma ortográfica. Acompanha o livro um CD com as genealogias Kaingang de Xapecó. A presente obra marca o surgimento da Editora Curt Nimuendajú, voltada prioritariamente à publicação de obras relacionadas aos povos indígenas do Brasil, nas áreas de etnologia, etnografia, história, lingüística, indigenismo e educação. Leda Bosi Sedoc - Cimi Assine o Para fazer a sua assinatura, envie vale postal ou cheque nominal em favor de Cimi/Porantim: (somente por meio de carta registrada) Caixa Postal 03679 - CEP: 70.084-970 - Brasília-DF Inclua seus dados: Nome, endereço completo, telefone, fax e e-mail. Se preferir faça depósito bancário: Banco Real Ag: 0437 C/C: 7011128-1 - Cimi-Porantim. Envie cópia do depósito bancário para o fax (61) 2106-1651, especificando a finalidade do mesmo. P Ass. anual: R$ 40,00 *Ass. de apoio: R$ 60,00 r e ç o s América Latina: US$ 25,00 Outros países: US$ 40,00 * Com a assinatura de apoio você contribui para o envio do jornal a diversas comunidades indígenas do País. Faça sua assinatura pela internet: [email protected] 15 Abril-2007 N O N O A I 29 anos de luta dos Kaingang N onoai, uma das inúmeras terras do povo Kaingang, no Sul, havia se tornado símbolo de opressão na década de 70. Basta lembrar que ali havia cerca de mil Kaingang e Guarani e 10 mil colonos. Numa das assembléias indígenas de 1977, o Kaingang Kandetê denunciava que muitos deles haviam sido surrados e “tem muito índio que foi morto à pedra, como meu tio João, que foi morto na estrada. Tem índio que ficou aleijado.” Outros já estavam beirando o desespero: “Ou lutamos e botamos os invasores pra fora ou nos entregamos de vez. Que venham, nos matem e façam uma grande vala e nos enterrem aí todos juntos.” Ia distante o ano de 1848, quando o cacique Nonoai aceitou, em sua aldeia, indígenas de outras regiões como Guarita, Guarapuava e Palmas. As promessas do governo não foram cumpridas e a criação do Serviço de Proteção ao Índio-SPI, em 1912, só fez agravar a situação. Alegando que havia “muita terra para pouco índio”, os funcionários deste órgão passaram a arrendar aos colonos da APOIADORES UNIÃO EUROPÉIA Abril - 2007 16 região parte dos 14.900 hectares, especialmente as melhores terras. No início, os Kaingang aceitavam como um fato consumado, sobretudo quando certas famílias ficaram beneficiadas. De fato, alguns arrendatários tentavam pagar o combinado, que era 25% da produção, mas dificilmente esse pagamento chegava às famílias indígenas, ficando na maioria das vezes nas mãos de algumas lideranças e do chefe do Posto Indígena. Foram as Assembléias Indígenas e, sobretudo, as visitas e encontros apoiadas pelo Cimi, que despertaram a consciência de seus direitos e a necessidade da luta. “Estou vendo que nós não temos direito a coisa alguma. Vivemos oprimidos e sem direitos”, queixavase Iakam, numa das assembléias. “Os intrusos acham que têm mais direito de fazer roça do que eu, que sou índio. Os intrusos são cheios de dinheiro dentro de minha terra. Mas nós temos o direito à lei e temos o direito de falar.” Depois de alguns anos de muita articulação, os Kaingang resolveram, no final de abril de 1978, expulsar os invasores. Este movimento iniciou-se em Guarapuava, no Paraná, espalhando-se pelas terras indígenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Nonoai, armados com facas, paus e alguns revólveres velhos, puseram para fora cerca de 530 colonos, exigindo que abandonassem tudo: plantações, animais e casas. O que chama atenção, foi a forma coletiva da ação, destacando-se apenas uma ou outra liderança, como Nelson Xangrê, hábil estrategista e corajoso guerreiro. Prova disso foi a maneira hábil e articulada de destruir sincronizadamente o que era mais precioso para os invasores -- as escolas infantis -construídas dentro da terra indígena. Entretanto os Kaingang nem imaginavam que aqueles colonos, que ficaram à beira da estrada e se recusavam ir para Rondônia, formariam o combativo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, que até hoje se impõe como uma grande força de pressão e organização das lutas camponesas. Benedito Prezia
Download