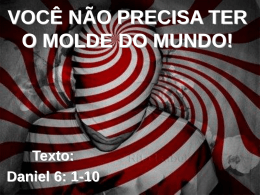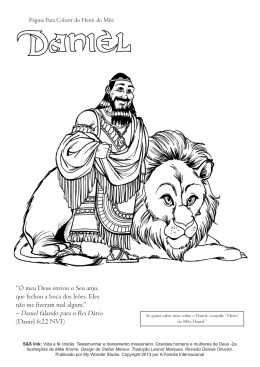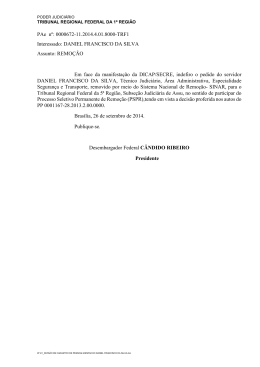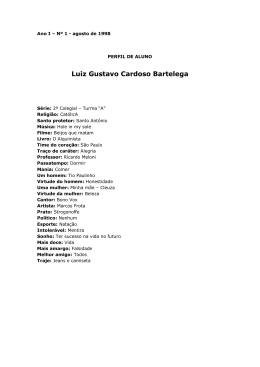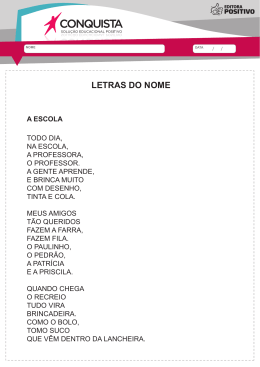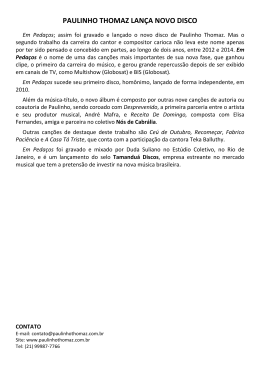2 - Extra Classe • Jornadinha Jornadinha • Extra Classe - 3 Jornadinha É preciso se fazer ouvir Fotos: Tânia Meinerz D aniel vem batalhando há muito tempo pelo respeito à diversidade. Descendente de índios, ele preside o Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (Inbrapi), entidade que tem como objetivo proteger o conhecimento ancestral de seu povo, evitar a biopirataria e o uso indevido de imagens. Munduruku, nome do grupo ao qual Daniel pertence, quer dizer “formiga gigante” em tupi. Mas a palavra que ele mais exercita ultimamente é Mekukradjá, que significa conhecimento, troca de saberes. Daniel é originário do Pará, mas os cerca de 10 mil mundurukus que compõem esse grupo estão espalhados também pelo Amazonas e pelo Mato Grosso. A sabedoria de Daniel foi herdada do avô, Apolinário (o nome tradicional ele não revela porque é proibido, sobretudo se a pessoa já morreu). Foi graças à insistência do avô que o neto se assumiu como índio mesmo. Até os nove anos de idade, vivendo na cidade e estudando numa escola salesiana, era muito duro ter de enfrentar o preconceito das outras crianças que reproduziam a fala dos adultos de que todo índio é preguiçoso. “Eu não queria ser índio, e negava tanto que achava que, quando crescesse, ia ser outra coisa”, conta. Um dia em que Daniel estava muito triste, o avô o chamou e começou a ensinar pouco a pouco a tradição dos mundurukus. Aos 12 anos, já convencido pelos ensinamentos de Apolinário, Daniel disse: “Vô, quero ser índio”. Apolinário abriu um sorriso meio sem dentes e respondeu: “Então está na hora de eu ir embora”. Três Daniel Munduruku, 41 anos, nasceu índio e hoje gosta de ser índio, mas nem sempre foi assim. Ele acha que a realidade indígena ainda é pouco compreendida. Por isso, tem publicado livros para mostrar a riqueza e a sabedoria da cultura de seu povo. Quer dar uma oportunidade para as pessoas compreenderem melhor e se tornarem amigas dos indígenas, percebendo como é importante o Brasil conviver com eles. dias depois, o avô morreu. No leito de morte, Daniel prometeu que levaria adiante a sabedoria passada por ele. Aos 15 anos, tomou a decisão mais difícil da vida e decidiu que era hora de sair da aldeia. Entrou na faculdade, formou-se em Filosofia e hoje é também mestrando em Educação pela Universidade de São Paulo. Essa história foi registrada no livro Meu avô Apolinário, publicado no ano 2000. Foi assim que Daniel aprendeu desde cedo que é preciso se fazer ouvir e respeitar. Primeiro, do ponto de vista econômico, para evitar que pessoas de fora das tribos se apropriem do que a natureza oferece para patentear e assim cobrar sobre o uso do que, na verdade, é de todos. E, segundo, sob o ponto de vista cultural. “Quando se fala em diversidade, muitas vezes falam dos negros, mas não dos indígenas, Jornadinha que parecem muito longe das cidades”. Conforme foram sendo aprovadas leis para proteger os direitos dos índios, eles começaram a não ser apenas temas dos livros, mas a escrever sua própria história. Daniel já publicou 20 obras – destas, 18 são para crianças. A mais recente é A origem dos filhos do sangue do céu, que fala dos mitos numa linguagem bem acessível. Ele abre um sorriso para contar que já apareceu em filmes no cinema. Em Hans Staden e em Desmundo atuou como figurante. Mas foi em Tainá 2 que se tornou mais conhecido, interpretando um pajé desastrado, que não fazia nada certo. “Era um personagem que me permitia dialogar com as crianças”, diz, orgulhoso. As crianças, acredita, entendem bem os índios porque, assim como eles, nem sempre são ouvidas, nem têm a liberdade que gostariam de ter. “Elas vivem num mundo fantástico, como o mundo da floresta em que os índios vivem”. Pintura de festa é feita com urucum Histórias coloradas escritas por um gremista! Vai ter livro novo do escritor Carlos Urbim, em outubro. Ele, que é gremista, estará lançando Histórias Coloradas – versão mirim pela editora Nova Prova, com ilustrações de Rodrigo Rosa. No livro, conta a história do time a partir das experiências de colorados como o escritor Luis Fernando Verissimo, o ator Zé Vitor Castiel, o músico Sadi Homrich, do Nenhum de Nós, a miss Deise Nunes, além de jogadores e sócios do time, quando eram crianças. A seguir, uma das histórias que serão publicadas. Paulinho nasceu em Porto Alegre, no dia 3 de janeiro de 1949. Dá para a gente dizer que o padrinho dele no batismo vermelho foi outro Paulinho, lateraldireito do Inter naquela época. É melhor explicar. Quando tinha quatro anos, Paulinho esbanjava inteligência, às vezes deixava a família inteira de boca aberta. Olhar esperto, o gurizinho começou a se interessar pelas páginas dos jornais que traziam notícias e fotos sobre os jogadores colorados. Os adultos da casa, todos torcedores do Internacional, mostravam as matérias publicadas e destacavam o nome do Paulinho, com a camisa número quatro. Não deu outra: primeiro P, depois A, em seguida U, e assim todas as letras, L, I, N, H, devagar até O. Logo, logo, sem nunca ter ido à escola, o garoto aprendeu a escrever o próprio nome – o mesmo do ídolo lateral-direito. Não parou nisso. Foi juntando as letras que indicavam outros jogadores do time, alguns com bastante O, como Bodinho e Odorico. Nem dá para acredi- tar: soletrou até o Y, pois um dos melhores era o Larry. Quando o pessoal da casa se deu conta, Paulinho estava lendo e escrevendo. A paixão pelo futebol apressou a alfabetização do menino, que se tornou craque em leitura e redação. Passaram-se os anos, o amor pelo Inter cresceu sem controle, mesmo que Paulinho não conseguisse jogar como o idolatrado lateral-direito. Mas se tornou Paulo Costa Leite, com diploma de Direito, chegou ao cargo de ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E, bem feliz, gosta de lembrar o batizado colorado e a gana de aprender a ler: “Além dos nomes, comecei também a conhecer os números que apareciam nas camisetas dos atletas do meu time. O quatro foi o primeiro que decorei, pois era o número usado pelo Paulinho e o do uniforme que ganhei de presente da minha família. Mais tarde, o lateral-direito se transferiu para o Vasco da Gama. Mas foi ele quem criou meu elo com o Internacional. Graças ao Paulinho, meu coração é colorado”. 2 - Extra Classe • Jornadinha Jornadinha HIP-HOP No ritmo da reflexão P ara fazer rap basta papel, caneta e talento para rimar palavras. Parece fácil, né? Nem tanto. O MC Max B.O., de São Paulo, diz que difícil é fazer um rap com compromisso. “A gente propõe reflexão”, avisa. Max B.O. conquistou o público da Jornadinha e apresenta seu último show, hoje, às 11 horas, no Circo da Cultura. Na batida do DJ Marco Antônio, ele canta a importância da auto-estima, de respeito, de autonomia. Rap, para quem não sabe, é a música do hip-hop, movimento cultural das ruas do mundo inteiro que compreende também a dança break, o grafite e os DJs. MC é o mestre de cerimônias, aquele que canta e apresenta o rap. O DJ é quem toca a música. O B.O. do nome do Max vem de Boletim de Ocorrência, termo usado nas delegacias para registrar as ocorrências policiais – nome ANO 10 - EDIÇÃO ESPECIAL - 26 DE AGOSTO DE 2005 J O R N A D I N H A Um contador de histórias chamado Joaquim de Paula DJ Marco dá a batida também de outro grupo do rapper, que já não existe mais. Por isso, Max prefere dizer que seu B.O. agora significa Brasileiro Original. E o original desse rapper é que ele mistura o estilo norte-americano do hip-hop com o samba e os repentes brasileiros (música do nordeste que também improvisa em cima de versos). E ele não pára: ajudou a fundar a Academia Brasileira de Rimas e, sempre que pode, junto com o DJ Marco participa de projetos sociais engajados na luta contra a fome, o preconceito e a alienação. Fotos: Tânia Meinerz Max B.O.: pela auto-estima, respeito e autonomia Se existe alguém que consegue prender a atenção de todo mundo quando abre a boca é Joaquim de Paula, 50 anos, um dos contadores de histórias da Jornadinha. Pudera. Ele vem se aperfeiçoando nessa técnica desde 1980, quando cursava Musicoterapia e montou seu primeiro grupo. Joaquim de Paula tem oito livros publicados e escreve também para teatro. Apresenta-se em praças, ruas, bares, teatros, onde alguém estiver disposto a ouvi-lo. Traz junto a música e bonecos. Aliás, foi carregando esses bonecos das apresentações que a filha dele, Ana Vilella de Paula, de sete anos, começou também a ser uma “contadora”. Um dia, ela subiu no palco e começou a falar de forma tão graciosa, que conquistou seu espaço. “Para ser um bom contador de histórias tem que entrar no espírito da história – o jogo de palavras pode até ser bonito, mas se não produzir adrenalina, não funciona”, ensina Joaquim. Palavras improvisadas Foto: Tânia Meinerz
Download