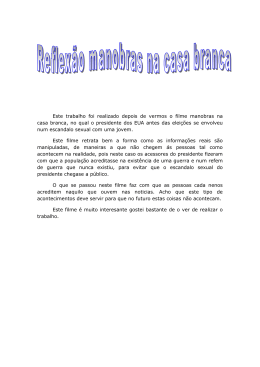Panorama – Mostra de Documentário Português: os debates PANORAMA ’06 | abc 1 2 PANORAMA | introdução INTRODUÇÃO auscultar um batimento: os debates das três primeiras edições do PANORAMA Ao fim de um percurso pontuado por três edições, e no momento em que o PANORAMA parece ter conquistado o seu lugar e estabilizado os seus contornos no seio do cinema documental português, chega a necessidade de encerrar um primeiro capítulo. E portanto de o imprimir, torná-lo livro, fechado e consultável, completo. O que é um movimento de alguma forma contrário àquele proposto pela Mostra. O PANORAMA é uma plataforma de intervenção, qualquer coisa que uma equipa organizadora coloca à disposição para ser trabalhado enquanto acontece. A programação é aqui apresentada como leitura, percurso possível por entre um emaranhado de filmes que pretende dar material para uma reflexão efectivada nas discussões que encerram cada caminho de filmes. São momentos culminantes de uma leitura proposta pelos programadores, onde estes, juntamente com os realizadores, produtores, críticos, público, trabalham lado a lado, ao mesmo nível, para o mesmo fim: agir sobre o cinema documental português. São exactamente estes momentos de reflexão que tornam o PANORAMA um organismo vivo, com pulsação. Porquê, então, a necessidade desta fixação, ao fim de três edições? Por um lado, a identidade da Mostra atingiu uma definição que parece exigi-lo. No primeiro ano, o PANORAMA apareceu com vontade de dar visibilidade ao imenso número de documentários que, ano a ano, estavam a ser produzidos e guardados sem serem vistos. Perante a impossibilidade dos vários festivais internacionais abarcarem a totalidade da produção do documentário português, e depois do fim dos encontros da Malaposta, únicos dedicados intensamente a olhar o documentário feito em Portugal, havia um buraco, espaço vazio que era necessário preencher, por só ele permitir auscultar e acompanhar uma produção de outra forma invisível. O PANORAMA nasceu como porta escancarada sobre essa produção, e tinha no seu impulso inicial a vontade de desenhar um retrato completo e diversificado da produção documental. Foi para fazer juz a esse primeiro impulso que em 2006 todos os documentários inscritos foram mostrados. A opção de mostrar tudo demonstrou desde logo esse patamar de igualdade entre programadores, realizadores, espectadores que o PANORAMA quer assumir, sendo construído com aqueles que o visitam, também. Havia um primeiro contacto com uma realidade desorganizada de filmes e ideias e a opção foi a de mostrar o emaranhado de filmes tal como tinha sido encontrado, assumindo esse primeiro contacto. A programação foi no sentido de dar a ver a pesquisa de um rumo, a procura de uma orientação, mais do que a vontade de dar um objecto finito e controlável, falsamente concluído e arrumado. Disse a Madalena, num dos debates que, a primeira edição do PANORAMA apareceu com vontade de arrumar a casa. O documentário português estava desabrigado, esta mostra apareceu como abrigo, e a sua primeira edição PANORAMA : OS DEBATES | introdução 3 foi a visita guiada à casa nova. Não poderíamos mostrar que conhecíamos os cantos sem antes dar a ver as suas divisões, dar a perceber a sua planta. Foi isso que fizemos no primeiro PANORAMA. Como se verá, esta opção de programação foi profusamente discutida e questionada o que, seguindo esse princípio de autenticidade ou franqueza, provocou na mostra um crescimento, mudanças. A segunda edição nasce de frinchas abertas na primeira, o que inclui alterações na lógica de programação, e a escolha da pergunta de partida. Um dos argumentos usados a favor da selecção, no primeiro debate final, referia o aumento exponencial da produção documental, a profusão dos meios técnicos que possibilitam a fabricação e mesmo exibição de filmes (por exemplo, através de streaming), e da impossibilidade consequente de mostrar tudo. Para além da evidência desse argumento (no fundo, é um só: a profusão), que conduzia por si à necessidade de assumir um recorte, e seleccionar, os programadores do PANORAMA encontraram no segundo corpus de filmes uma paisagem triste e repetitiva, um cinema com falta de auto-crítica, e cacofónico que, retirando algumas e nobres excepções, repetia fórmulas e pouco inovava ou inventava (ou criava, no fundo). A selecção foi também a resposta encontrada pela equipa do PANORAMA para a necessidade de intervir. E de repente já não se tratava apenas de dar a ver para que outros – os espectadores – criassem as suas opiniões, e selecções, mas também a de agir sobre esse documentário que se olhava com tanta atenção. Foi um passo essencial na história do PANORAMA. E particularmente difícil pela sensação de estar a abrir mão do princípio da não hierarquização de filmes, e da não substituição da selecção operada pelos espectadores. E pelo medo de assim estar a tornar a Mostra um objecto demasiado arrumado, falso. Percebemos, contudo, que só existiria uma relação franca entre os programadores e o público se os primeiros assumissem, por um lado, o grau ou o nível da sua reflexão (já não se tratava de um primeiro olhar sobre um corpus), e por outro se a acção e a discussão estivessem nos dois lados desse vector, também. Começou a esboçar-se um desejo de agir sobre esse documentário que se estava a observar, e só uma selecção primeiro, e discussão, depois, poderiam servir esse desejo. Ao mesmo tempo tornou-se também urgente e importante, perante o encontrado na primeira edição, fazer a pergunta que decidimos fazer nessa segunda edição, aquela que nos permitiu procurar o cinema no documentário português. Se num primeiro momento tinha sido importante perceber as preocupações e interesses dos cineastas, no segundo a necessidade foi a de perceber de que forma eles abordavam os seus objectos. Para tal, perguntámos: “que cinema faz o documentário português?”. Foi uma reflexão dura, cheia de silêncios e incertezas e dúvidas, não só entre os realizadores presentes nos debates, como nos convidados a conversarem sobre cinema, para o catálogo. Decidiu-se voltar à idade dos “porquês”, fazer perguntas que já não são perguntas que se façam, e tentar desfazer clichés que, por serem clichés, eram ideias fixas que se tinha já esquecido como tinham aparecido. Houve na programação de 2008 a construção de uma “panorâmica”, um olhar em volta, selectivo e exigente, que contudo ainda vivia na ilusão de ser possível fazer um retrato completo porque diversificado (ou seja, que era possível mostrar “exemplos” do que estava a ser feito em vários sectores) do documentário português. 4 PANORAMA : OS DEBATES | introdução A terceira edição do PANORAMA é a compreensão de que querer fazer um retrato completo, é a mesma coisa que dizer que um documentário dá a ver a verdade: há qualquer coisa de incompatível nos termos. E é esta percepção, mais uma vez correspondente a um estádio na reflexão que se leva, assumida, até à Mostra (e é deixada à mostra, exactamente), que justifica a edição deste livro. Sentimos que esta edição ao mesmo tempo que fecha um começo feito de ensaios, inicia uma nova fase para o PANORAMA, uma fase mais activa (ou activista), mais concentrada nos filmes. O percurso é um pouco o mesmo de quando se aprende a conduzir um automóvel: só depois de dominar as mudanças, os pedais, os espelhos, começamos a comunicar, a fazer sinais de luzes, a deixar passar. O PANORAMA entrou na fase da comunicação, também. Depois de duas edições muito centradas em si, nos seus problemas, nas suas dificuldades – sempre reflexo das dificuldades sentidas pelo documentário português, e por isso pertinentes – o PANORAMA desenhou os seus contornos com linha grossa, e tornou-se uma Mostra definida, na sua indefinição. Mantendo o espírito inicial, de dar a ver o documentário português, a programação tornou-se crítica, decidida a mostrar filmes que arriscam, que pensam sobre si, que mostram as suas dúvidas, que não aplicam ou pelo menos questionam a aplicação de fórmulas, que reflectem. E essa acção mantém-se como criadora de outras acções, desmultiplicadas pelas conversas e debates tidos ao longo da Mostra – continuam a ser o ponto culminante dentro dos múltiplos movimentos da programação, e da vontade de fazer avançar, questionando, o cinema português. (Fica por saber se foi a Mostra, por si, que atingiu esse estádio; ou se foi o cinema que a compõe, e que esta acompanhou ao longo de três edições, e a sua evolução e transformação, que pediu à Mostra que mudasse com ele...) Em 2009 o PANORAMA atingiu um ponto simultaneamente de fim, e de novo início. É isso que este livro pretende acompanhar. Para tal, far-se-á uma memória crítica dos debates ocorridos ao longo das três edições. Não será o registo e transcrição completa de todos os debates, mas a análise dos excertos que contribuem para uma reflexão posterior acerca da evolução e do estado do documentário português, de 2006 a 2009, e a sua relação com outros objectos, outros cinemas, e outras artes. Haverá a edição completa de alguns desses debates, pela relevância que demonstram para a compreensão do percurso da Mostra (os seus debates finais) ou para a reflexão em volta do objecto “documentário” (por exemplo, o debate “detrás do traço”, da edição de 2006). É portanto uma memória crítica, à qual subjaz uma construção – tal como a um documentário, ou a uma programação. É uma reflexão, pessoal, como todas, sobre o estado do documentário português. Uma auscultação do batimento sentido nas conversas que compuseram a sua Mostra. Inês Sapeta Dias | edição crítica dos debates do PANORAMA PANORAMA : OS DEBATES | introdução 5 6 PANORAMA ’06 | abc PANORAMA ’06 | introdução 11 12 PANORAMA ’06 | introdução debate A ACABAR da gestão do sentimentalismo e uma reflexão à volta das tendências recorrentes nas discussões sobre documentário PROGRAMAÇÃO: Yangel | Alejandro Campos, Patrícia Leal [ 81'] Tudo vai Acabando | José Manuel Fernandes, Ricardo Martins [ 28'] Amanhã não é aqui | Joana Pimenta, João Seiça [ 30'] Flow – now was once the future | Yve Le Grand, António Cardoso [12'] Entre duas Terras | Muriel Jacquerod, Eduardo Saraiva Pereira [ 94'] A Minha Aldeia já não mora aqui | Catarina Mourão [ 60'] CONVIDADAS : Clara Saraiva (antropóloga e autora do livro A Luz e a Água, sobre o processo da Aldeia da Luz) e Paula Godinho (respon- sável pelo Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa e professora na Universidade Nova de Lisboa) MODERADO POR: Fernando Carrilho 28.Janeiro.2006 PANORAMA ’06 | a acabar 13 Um encontro entre filmes realizados no âmbito do curso de documentário da Videoteca (Yangel, Amanhã não é aqui, Flow), ou no curso de cinema da Lusófona (Tudo vai acabando) e filmes realizados na Aldeia da Luz por realizadores já com alguma filmografia relevante no âmbito do documentário (Entre duas Terras, A Minha aldeia já não mora aqui), que se juntam na atenção dada à aproximação de um fim. Os realizadores começaram por apresentar os seus filmes, falar das suas motivações, o que desde logo tornou claras as diferenças entre os objectos dos quais os vários filmes olharam o fim, e a variação ao nível das formas com que isso foi feito. ALEXANDRE CAMPOS [YANGEL]. Este projecto começou por ser uma vontade de ocupar aquele espaço que está abandonado, selvagem, com muitas árvores, com mochos. Quando começámos a trabalhar queríamos dar a câmara às pessoas, para que fizessem um filme sobre o seu próprio bairro, relacionando-se dessa forma com o que é habitar na zona, e o que é habitar os espaços possíveis, menos declarados, que estão por ali e que se poderiam transformar noutras coisas – sendo que isso não acontece. Juntámo-nos (eu e a Patrícia) e lidámos com três meses de imenso trabalho. Acabámos por ser despejados e tivemos de mudar o projecto, que assim se construiu com base no improviso. Tornou-se, no final, um filme mais sobre os despejos, sobre o habitar, sobre o estar e o ir-se embora. Sobre a transformação. Estávamos interessados em trabalhar sobre os subúrbios, e o facto das cidades-dormitório estarem exclusivamente pensadas para as pessoas que vão trabalhar e voltam para dormir – não estão pensadas para quem lá passa o dia. Acabámos por focar os idosos, tentando descobrir onde é que os reformados poderiam estar (aqueles que não queriam estar confinados aos seus apartamentos). E então descobrimos uma livraria onde cinco ou seis reformados se encontram todos os dias, há dez anos. Estivemos lá, a tentar perceber como é que aquilo funciona. E entretanto houve a notícia de que a livraria ia fechar e quisemos também acompanhar esse processo (acabaram por não fechar a livraria; mudaram-se para um espaço muito mais pequeno, onde começaram a só poder ir nalguns dias da semana, a algumas horas, e quando os clientes entram eles têm de vir para a rua). JOANA PIMENTA [AMANHÃ NÃO É AQUI]. MURIEL JACQUEROD [ ENTRE DUAS TERRAS]. O que me interessou foi haver um lugar que ia desaparecer e outro que iria nascer. Interessou-me perceber o que iria passar-se entre esses dois mundos, esses dois tempos. Foi como se se construísse um sítio idêntico ao outro, mais ou menos. EDUARDO SARAIVA. E interessou-nos o facto daquilo ser quase uma metáfora do Portugal moderno. De repente estava tudo concentrado na Aldeia da Luz. ANTÓNIO CARDOSO [ FLOW ]. O Flow é um filme que fala do acabar, do começar e da permanência. YVES LE GRAND. A ideia original era registar as tascas do meu bairro que estão a desaparecer para se tornarem apartamentos de luxo. Ao mesmo tempo encontrámos as casas na Caparica, que vão ser demolidas, e eu faço meditação Vipassana, e então o que me ocorreu foi transmitir um fluxo. O “acabar” é uma ideia simples, e talvez seja mais interessante perceber o movimento de vai e vem, e vai e vem. O filme começou com o desafio de transformar o arquivo do Museu da Luz, que é feito de olhares muito variados, num só objecto, CATARINA MOURÃO [A MINHA ALDEIA JÁ NÃO MORA AQUI]. PANORAMA ’06 | a acabar 15 num filme. E foi, portanto, um desafio mais formal, no início. Concordo convosco [Muriel e Eduardo]: a situação na Aldeia da Luz é muito metafórica, representa um Portugal a mudar, e toda a questão do Alqueva, da água, da transformação da paisagem... tudo isso foram questões que eu quis reflectir no filme. Lembro-me que quando soube pela primeira vez que a construção do Alqueva ia avançar, e que havia aldeias que iam desaparecer, pensei que seria o paradigma ideal do documentário: uma situação que parece pequena e localizada, mas que transpira e reflecte uma série de coisas mais latas. JOSÉ MANUEL FERNANDES [TUDO VAI ACABANDO]. No meu caso procurei simplesmente criar uma memória daquelas lojas, na Rua do Arsenal, e transmitir a nossa relação com a rua e com as personagens: o filme foi isso. Foi um mergulho... e comecei a nadar. E através das motivações, percebem-se os fôlegos que animam os filmes e que vão desde o pequeno exercício, à reflexão profunda sobre uma situação de que se extraem ecos para situações mais abrangentes, universais. O início do debate permitiu, então, a discussão em volta das diferentes formas com que estes filmes falam de um mesmo movimento: o do fim. As duas convidadas fizeram uma breve apreciação da generalidade dos filmes, e seguiu-se uma reflexão sobre os processos de construção, e sobre a gestão do sentimentalismo na construção destes documentários, questão especialmente pertinente quando se aborda a aproximação ou o que fica depois de uma morte. CLARA SARAIVA . O que eu acho que acontece em todos estes filmes é justamente esse fio condutor assente em qualquer coisa que acaba: um diálogo que tem um término já visível, e em função do qual as pessoas interagem, centradas nas transformações nas suas vidas, nos ambientes, que esse fim vai trazer. Outra das coisas que eu acho que pode ser considerada um fio condutor destes filmes é a questão das emoções, por virem ao de cima quando há o quebrar de qualquer coisa, imposto de fora: ou pelas circunstâncias da mudança da cidade e das pessoas já não irem comprar selos a uma pequena loja de filatelia; ou já não irem comprar comida para os periquitos numa loja de aves; ou o facto de as pessoas serem expulsas de um pequeno sítio que tinham transformado no seu próprio espaço. É claro que este tema da perda e das emoções vem muito ao de cima nos filmes da Aldeia da Luz, porque, claro, em vez de uma pessoa ou duas, há toda uma população trasladada, mortos inclusive. Aliás, essa mudança da comunidade dos mortos particularmente foi um momento chave e muito difícil para as pessoas. E também por ter sido imposto pelo exterior as pessoas viram aquilo como uma espécie de mito: sacrificaram-se pelo país para que houvesse uma reserva estratégica de água. FERNANDO CARRILHO. Paula, será o registo fílmico um modo de preservar uma realidade? E será esta ideia de preservação permanente no filme e no documentário? PAULA GODINHO. A sensação que se tem ao ver todos estes filmes é que há uma emergência. Se não fossem feitos naquele momento, perdiam-se. E isto tem imenso a ver com o que nós fazemos na etnografia: se não apanhamos as coisas naquele momento parece que tudo se vai desvanecer no momento imediatamente a seguir. Este conjunto de filmes, a que vocês chamaram 16 PANORAMA ’06 | a acabar “a acabar”, lembra-me muito o título de uma obra do escritor inglês Peter Laslett: O Mundo que nós perdemos. Andam por aí os últimos descobridores de paraísos, que fixam coisas. Eu devo dizer que vi de uma maneira profundamente comovida os dois filmes sobre a Aldeia da Luz onde esse sentido da perda se torna também o sentimento do que é possível resgatar. E isto é qualquer coisa que está presente tanto no filme da Muriel e do Eduardo, como no da Catarina. O Entre duas terras , com as imagens que antecedem a mudança, parece estar no meio de uma ponte. Não está já no sítio de partida, ainda não está no sítio de chegada. Pelo contrário, o filme da Catarina dá-nos o ponto de chegada, com tudo o que se perde, com tudo o que se ganha. Os comentários, de resto, que as pessoas fazem em relação a isso, são elucidativos: há um dos homens que tu filmaste, Catarina, que diz: “quando é que a gente tomará amizade a isto?”. Como é que se recupera depois de perder uma coisa? Houve de facto neste conjunto de filmes coisas extremamente interessantes e comoventes. São inesquecíveis, para mim, as imagens da agilidade do jovem que sobe com esforço – que é em si a imagem da resistência – no Yangel. É também para mim extremamente curiosa a história em torno da livraria Astrolábio, com o Augusto – o homem que foi capitão de Abril e que passa a vida a falar nisso – que junta à sua volta aquele conjunto de pessoas que não tem para onde ir. E um deles que diz – no plural – “vimos aqui buscar a alegria que nos falta”. No Flow gostei particularmente das casas da Caparica que dão conta de uma maneira de fazer turismo que pelos vistos vai ficar interdita. Lembrou-me as torres que foram implodidas em Tróia com pompa e circunstância porque “agora é que vai surgir ali uma coisa a valer” (não sei se alguém recolheu imagens, mas acho que valia muito a pena). Como já foi dito, muitos destes filmes foram feitos numa urgência. E como é que conseguiram lidar com essa emergência, estando mergulhados na realidade? Como é que perceberam o que era realmente interessante filmar e como é que faziam as escolhas estando envolvidos pela situação que estavam a captar? Por exemplo, numa parte do Entre Duas Terras vocês tentaram acompanhar o processo de negociação com o grupo, e ao mesmo tempo captaram a reacção dos moradores a todo o processo. Quando vocês chegaram lá pensaram logo que o mais importante seria filmar esse processo de negociação? Obviamente estão lá os dois lados da questão, mas quanto a mim há um trabalho mais forte de captação das vivências dos moradores. O filme é “entre duas terras” mas parece que está um pouco mais presente a vivência desses moradores, e portanto uma dessas terras... FERNANDO CARRILHO. O que nós pensámos foi que o fio condutor passava absolutamente pelas pessoas da EDIA. Foram de facto eles que despoletaram tudo aquilo. O filme da Catarina, a meu ver, tem uma outra construção, que também me parece válida. Ela, por exemplo, tem três ou quatro pessoas que vai alternando. Ora, nós fomos talvez mais lineares no tempo. Não estávamos à partida com uma pessoa. Precisávamos de uma certa distância... queríamos quase fazer um fresco daquilo. EDUARDO SARAIVA . MURIEL JACQUEROD. Sim, e para mim o mais importante era mesmo o encontro das pessoas da EDIA com a população. E esse encontro representava um outro encontro mais largo: o encontro entre um velho e um novo. E aí estaria condensado tudo o que aconteceu ali. PANORAMA ’06 | a acabar 17 EDUARDO SARAIVA. À volta da questão das casas – centro das negociações entre a EDIA e a população – apareceram muitas outras problemáticas, que a ultrapassavam, até. Foi o que nós sentimos, enquanto filmávamos. E desse ponto de vista trata-se de uma barragem mas podia ser uma auto-estrada, ou uma central nuclear, ia dar ao mesmo. Parece-me que agora quando houver o TGV entre Lisboa e Porto vão aparecer por aí imensas pequenas aldeias da luz, e os problemas vão reflectir-se da mesma maneira. CATARINA MOURÃO. Eu acho que o ponto de partida do filme deles é completamente diferente do meu. É um filme muito mais metafísico, nesse sentido. Procura uma abstracção. E é o que vocês dizem: pode ser o TGV, pode ser uma barragem; é a questão dessa transição de um mundo para outro, e sobretudo do encontro de discursos diferentes, que é central no filme. Lembro-me que quando vi pela primeira vez o meu filme neste capítulo – “a acabar” – – fiquei surpreendida. Sei que é estúpido, e é aquela primeira reacção aos títulos, mas nunca vi o meu filme centrado num “acabar”. Talvez porque todo o material de arquivo para o Museu tenha de facto esse objectivo de preservar a memória e registar uma coisa que ia desaparecer, eu pensei sempre no filme como outra coisa. A Clara falou do lado emocional, que está presente em todos estes filmes. E eu acho que o desafio, quando se pensa nesta coisa do registar o que vai desaparecer, nessa emergência, está em tentar não ser nostálgico, tentar não ser lamechas. Como é que se faz isto? Concretamente neste filme tive muito essa preocupação, tentei sempre descobrir um equilíbrio emocional – porque era muito fácil entrar no choro – o que gerou imensas dúvidas na montagem, no decidir se haveria ou não de colocar certas cenas. E toda a montagem foi feita no sentido de relativizar o drama. E às tantas há uma personagem, o senhor Domingos, que diz “há coisas na vida muito mais duras do que esta. A morte de alguém...” e é uma frase simples mas muito sábia que de repente põe as coisas todas em perspectiva. E acho que quando se filma o “acabar” há o cuidado de encontrar esse equilíbrio emocional. Ou então podemos ir por aí fora e mergulhar ou nadar como o José... Na nota de intenções do Flow, tu [Yves] dizes que se pretende que quando as pessoas estão a ver o filme não passem por um processo nostálgico... FERNANDO CARRILHO. YVES LE GRAND. Sim. O nosso interesse era não ter mesmo nada de nostalgia e de um “oh, que pena”. Não era nada disso. Era mesmo tentar... não objectivar, mas tornar o mais natural possível uma situação que faz parte da vida. Porque, bem, é um cliché, mas todos vamos morrer um dia e já está, basta. ALEJANDRO CAMPOS. Acho que o acabar e o começar são tudo processos que passam por muitas fases e há sempre emergências, está sempre tudo na emergência, e então resta acompanhar. Acompanhar processos. Já fiz uma ocupação em Madrid, e gritei “fico aqui”, a reivindicar o espaço. Mas aqui não era isso, não era uma ocupação do princípio ao fim. A ideia era acompanhar processos e sentir a transformação na pele; na pele misturada com a natureza, mesmo com aquela natureza selvagem que está ali porque foi abandonada. São gretas, são fissuras que aparecem na sociedade, 18 PANORAMA ’06 | a acabar na natureza. E quando se habitam essas gretas eu sinto que se calhar o mundo pode ficar um bocadinho mais sensível. É importante para mim que as pessoas vejam estas histórias e se sintam movidas com isso. Parece-me que a nossa intervenção na vida é abrir gretas, e tentar que sejam colectivas. A minha grande dúvida é se as pessoas vêem neste filme o que está para lá de um personagem (que sou eu). Se vêem que isto está acontecer a nível global – é essa a intenção. Que vejam que o filme não fala só sobre a minha vida, mas também sobre como é que estas gretas podem ser visíveis. Por baixo das urgências o que é que há? Se calhar é acompanhando que se consegue que esta ausência fique à superfície e assim mergulhar numa coisa mais global. FERNANDO CARRILHO. A sensação que eu tive no Amanhã não é aqui é que há um misto de nostalgia e de força. E no fim do vosso documentário um dos intervenientes vem cá para fora e olha para o horizonte: quiseram, com esse final, dar um tom de esperança ou transmitir a possibilidade da livraria não vingar? JOANA PIMENTA. Há bocado, o senhor Raposeira, o dono da livraria, ligou-nos muito revoltado com o filme ter sido incluído numa secção chamada “a acabar”. “Isto devia estar no recomeçar! Não se admite! E vocês vão ao debate, e se faz favor refilem!”. E eu comprometi-me a refilar. Foi um bocado difícil lidar com essa dualidade. Se calhar somos até um bocado insensíveis porque achámos que havia ali uma certa inadequação de ideais, às vezes. E exactamente para mostrar isso, o final fica em aberto. Foi nossa intenção deixar essa ambiguidade. Não quisemos tomar partido. Eles acreditam muito que vai ser possível continuar ali naquele espaço, e apesar do documentário ser o nosso ponto de vista, não é legítimo da nossa parte deitar isso por terra. Mesmo que se calhar nós acreditemos e no fundo saibamos que as pessoas vão deixar cada vez mais de ir lá comprar livros, e que aquilo se vai tornar cada vez mais impessoal... Mesmo que nós no fundo saibamos isso, não era o que queríamos transmitir no filme. FERNANDO CARRILHO. José, no vosso documentário parece que a perspectiva é um pouco mais pessimista, ou estarei enganado? Ou seja, há ali pelo menos duas lojas que estão de certa maneira condenadas. E apesar da esperança do senhor dos animais, que quer trespassar aquilo dentro do próprio negócio e que diz esperar que alguém continue com a loja, parece que vocês tentam mesmo dar um aspecto de fim a esses espaços que foram filmar. Sim, no fundo damos essa impressão. O que acabou por acontecer é que aquela loja dos pássaros fechou. Já não é possível ir lá – só no filme, agora. Se calhar tivemos alguma sensibilidade para perceber isso, e de certa forma já achávamos que íamos sentir saudades da loja. Fomos por esse caminho e fomos nostálgicos. Eu pessoalmente não sou muito nostálgico, mas parece que acabei por sê-lo, no filme. JOSÉ MANUEL FERNANDES . E depois a palavra circulou pelo público. Se até aqui, mais ou menos directamente, os intervenientes procuravam ou exprimiam a relação com uma sensibilidade através do cinema, característica que tinha, de facto, unido os filmes neste bloco de programação, rapidamente a conversa se centrou nas temáticas, e nos objectos, mais do que no tratamento que cada um dos realizadores presentes tinha PANORAMA ’06 | a acabar 19 revelado no seu filme. Esta, aliás, não é uma tendência rara nos debates em volta do documentário, o que nos poderá fazer pensar sobre o carácter do género. Se quando se começou a falar de documentário – nos anos áureos dos estúdios americanos em que o cinema se dividiu em géneros e a sua produção se tornou industrial – este era o campo de resistência ao fluxo comercial, campo onde se experimentavam soluções e onde se contrariavam fórmulas (em oposição ao cinema de estúdio, altamente regulado – e sobre este cinema vale a pena ler A ordem do cinema, de João Mário Grilo), sente-se agora, nalguns discursos, nalguns debates, que o documentário se confunde com as actualidades que passavam antigamente antes dos “verdadeiros” filmes. A certa altura é mesmo dito, numa correcção de termos (numa intervenção que será reproduzida já de seguida) que se está a falar de um “filme documentário – ou [melhor] documentário, só”. E esta correcção revela, indelével e de fugida, a percepção de que falar de documentário não será bem falar de cinema, falar de filmes. Quando nos debates se foge para o tema, parece que de repente, se esteve, secretamente, à espera do filme “verdadeiro”, na sala... Talvez não seja uma tendência rara também nas discussões em volta do cinema em geral, a vontade de psicologizar as personagens, ou encontrar pontes entre a narrativa e a História. Mas no documentário, por ser um género especialmente permeável à realidade, esta fuga das discussões parece confundir os termos, e enfraquecer o género, torná-lo demasiado confuso, e indefinido. Os filmes fazem-se a olhar para coisas, objectos. Mas as maneiras de olhar constroem as próprias coisas (José Manuel Costa, no debate final do PANORAMA 2008, abordará esta indistinção entre forma e conteúdo). E portanto falar dos objectos ou temáticas não conduzirá a uma análise completa desses temas e objectos se não tiver em conta a maneira de olhar. Ao mesmo tempo, a vontade de partir dos filmes para falar sobre temas, parece revelar uma necessidade de espaços de debate e reflexão. E o documentário, ao olhar para as coisas que rodeiam as pessoas que o fazem, parece ser um campo privilegiado para essa reflexão. Dizia Patrício Guzman, realizador, que “um país sem documentários é como uma família sem álbum de fotografias”, numa frase que muito citámos ao longo desta primeira edição. O documentário permite construir a memória, guardar momentos e problemáticas, reflectir e olhar de outra maneira para coisas por que passamos todos os dias, ou que nunca vimos. Mas ele não é apenas um veículo, um instrumento de registo. É em si mesmo uma construção, um objecto, criador, e não repositório de memórias. É ao ver uma velha fotografia da mãe (uma fotografia de família, portanto), que Roland Barthes começa a escrever A Câmara Clara, livro basilar e sensível sobre a imagem fotográfica, que reflecte sobre esta questão da relação da imagem ao documento, desde logo problemática pela própria identidade da imagem fotográfica. Barthes pergunta-se, perante a fotografia da mãe, se a reconhece – “não era ela e, no entanto não era qualquer outra pessoa” – e decide aí perguntar-se acerca da ontologia da imagem fotográfica, complexo emaranhado de imaginários onde estão em confronto diversas imagens consoante quem vê, quem fotografa, quem é fotografado (“perante a objectiva eu sou simultaneamente aquele que eu julgo ser, aquele que eu gostaria que os outros julgassem que eu fosse, aquele que o fotógrafo julga que sou e aquele de quem ele se serve para exibir a sua arte”). Apesar da fotografia ser um atestado irredutível de um passado acontecido – ela é feita pela passagem da luz por um objecto presente, impressa por um processo químico num papel especial – está numa encruzilhada de imaginários que a colocam no universo da re-presentação (e não a-presentação). “Fotografias de um ser, diante das quais o recordamos menos bem do que quando nos contentamos a pensar nele” (Proust). 20 PANORAMA ’06 | a acabar “Como os objectos se desenham a si próprios sem a ajuda do lápis” era a frase que acompanhava o daguerréotipo, invento que precedeu e preparou a fotografia. Apesar de, como diz Roland Barthes, talvez ser a pose (e portanto, num certo sentido, a ficção) que melhor define a imagem fotográfica, a sua relação com um acontecimento passado, com qualquer coisa que de facto exisistiu e se desenhou (aparentemente) mecânicamente e sem a ajuda de uma mão desajeitada de um pintor (de facto, Fox Talbot, um dos inventores da fotografia, desenvolveu as suas investigações para superar a sua incapacidade técnica enquanto pintor), criam problemas, confundem a sua relação com um real. No fundo a imagem fotográfica é sempre e também documento. Impressão de qualquer coisa real, que existiu. Mas é também uma criação, uma ficção, a fixação de uma pose por si provocada. No cinema a questão torna-se ainda mais complexa pelo movimento da imagem representar um avanço realista. Um dos esforços de Rudolf Arnheim, um dos primeiros teóricos do cinema, foi exactamente o de encontrar as características do cinema que o afastavam do realismo (a superfície plana da tela, a ausência de som e de cor – esse ensaio foi escrito antes de 1930 –, as duas dimensões, a montagem) para o conseguir defender enquanto arte. E assim, perante cada filme, a pergunta a fazer parece ser: o que está para além do documento (que é o seu lado mais imediato e óbvio)? E, no campo ainda mais problemático que serve de matéria ao Panorama: como se passa do documento ao documentário? Os filmes são coisas fugidias, difíceis de agarrar, de analisar criticamente ou de pensar por terem o ritmo do nosso próprio pensamento (Walter Benjamin falava da suspensão crítica inerente ao cinema; Gilles Deleuze dizia que o cinema era a forma de pensar característica da modernidade...). O esforço será então o de parar esse fluxo intenso e efémero. (A dúvida de cada moderador torna-se saber quando interromper, e como impedir o curso natural das conversas, e se parar ou não a vontade do público presente; e a dificuldade nesta transcrição é a de saber o que poderá ou não ser interessante para uma reflexão posterior... Porque ao mesmo tempo há Balzac, ou, melhor, Baudelaire: “Conta-se que Balzac (quem não escutaria respeitosamente todas as anedotas, por mínimas que sejam, relacionadas com este grande génio?), achando-se um dia diante de um belo quadro, um quadro de Inverno, todo melancolia e geada, salpicado de cabanas e de insignificantes camponeses – depois de ter contemplado uma casinha donde se elevava um vago fio de fumo, exclamou: “Que belo! Mas o que estarão eles a fazer naquela cabana? Em que estarão a pensar, que desgostos terão? As colheitas terão sido boas? Hão-de ter de certeza letras a pagar...”. Ria-se quem quiser do senhor de Balzac. Não sei que pintor teve a honra de fazer vibrar a alma do grande romancista, de lhe sugerir conjecturas, de o inquietar, mas penso que ele nos deu assim, com a sua adorável ingenuidade, uma excelente lição de crítica.” [Charles Baudelaire, excerto retirado de A invenção da Modernidade: sobre Arte, Literatura e Música, textos de Baudelaire, traduzidos e compilados por Pedro Tamen numa edição da Relógio D`Água]. Como definir a fronteira...?. É a primeira vez que eu vejo uma mostra de documentário português a focalizar bem o que é a preservação do património local, e o que é fazer essa preservação através de memórias dos espaços. Dou portanto parabéns à organização e a todos os realizadores. Depois, achei que realmente, mesmo os novos realizadores, ou os semi-novos, estão com grandes ideias e os tais espaços perdidos, os paraísos perdidos, as tais fissuras de que o Alex há pouco falava, existem e estão por aí. E a verdade é que, desde os antropólogos, aos etnólogos, PUB . PANORAMA ’06 | a acabar 21 às pessoas interessadas em cinema, ou nas artes visuais, todos eles têm, cada vez mais, um papel importantíssimo na preservação disto. No sentido de, mais do que preservar, dar a ver. Para que se perceba que o Portugal não é só o Portugal da EDIA; que o Portugal não é só o Portugal do turismo ao Alqueva depois da Aldeia da Luz; e que o Portugal dos subúrbios também é interessante para perceber que há umas quantas coisas – umas quantas lojas, e uns quantos espaços – que preservam uns portugalinhos dentro do grande Portugal que existe. Depois disto tudo, e desta introdução muito engraçada, há o aspecto mais... não direi técnico, mas de observação mais directa de alguns filmes. Nomeadamente o da senhora Catarina Mourão. Estávamos a falar há pouco do drama fácil, e realmente essa é uma questão muito delicada no documentário, para mim, pelo menos. Especialmente quando estamos a falar de emoções, quando estamos a falar de representações em volta da habitação, do que é o espaço onde as pessoas vivem, e convivem uma vida toda. Uma aldeia não é só uma casa, não é só uma loja, é uma vida que vai para trás, mas que também vai para a frente. E foi este ir para a frente que eu não vi no seu filme. Eu quando falo de passado, e quando falo de presente, também falo de futuro. E o futuro que eu vi ali, pelo menos quando as pessoas falavam dele, estava sempre envolvido de uma grande tristeza. E isto mesmo por parte das crianças. Por exemplo, porque é que há um narrador? Gostava de perceber porque é que há um narrador que lê uma redacção de uma criança, e em que parece haver quase um trabalho encomendado. E isto é um bocado difícil de entender. Porque quando falo de drama fácil, é disto que eu falo. Quando há uma redacção para servir de narração num filme documentário – ou num documentário, só – parece que se está a encenar qualquer coisa. Vê-se que as crianças estavam envergonhadas a certa altura, mas não houve oportunidade para falar com elas sobre o futuro, sobre como vai ser a nova aldeia? Como é que elas vão estar na aldeia? CATARINA MOURÃO. O filme não foi feito para focar a perspectiva das crianças. A criança que fala lê de facto uma construção da minha parte. Aquela voz-off é inspirada em redacções mas é trabalhada por mim, acabando por ter um valor de estrutura narrativa. E aqui é que eu discordo contigo: para mim, o valor das crianças é exactamente pôr em perspectiva a tristeza e abrir um caminho para o futuro. O que acontece (e isto aconteceu na realidade) com as crianças na Aldeia da Luz, é que elas se apropriaram sempre muito dos discursos dos adultos. E as redacções que a maioria delas me entregou eram muito coladas ao discurso que ouviam em casa, sendo que pelo meio havia um lado infantil. E eu acho que o professor reflecte isso muito bem, elas estão ‘noutra’... imagina o que deve ser tu, aos sete anos, mudares de aldeia assim... Eu nunca vivi no Alentejo, não sei o que é viver numa aldeia completamente isolada, e acredito que uma criança com sete anos também consegue estar triste quando a aldeia muda completamente. Porque, cá está, não é uma mudança de casa, o que muda é tudo. É a vida dessa criança… E o que eu vejo nas crianças é que há pouca representação de uma tristeza em relação ao deixarem aquela aldeia, tanto que é o professor que faz esse papel por elas. E é isso que eu gostava de perceber: elas estão envergonhadas? Elas não sentem tristeza por abandonar o espaço? Não quis ilustrar isso? Era só isso que eu gostava de perceber. PUB . 22 PANORAMA ’06 | a acabar CLARA SARAIVA . Eu acompanhei o processo na Aldeia da Luz, no último ano estive praticamente a viver lá, e eu acho que o que a Catarina quis fazer foi transmitir esse futuro. O futuro está nas crianças, são as crianças que vão passar a viver no novo espaço. Agora, se as crianças sentiram ou não tristeza... sim, deve ter havido... houve momentos em que as crianças sentiram tristeza. Tal como a Catarina diz, as crianças incorporaram o discurso dos pais. Mas por outro lado a história da mudança teve um lado excitante, não só o ir para a casa nova, mas o empacotar coisas, enfiarem-se dentro de caixas, fazerem imensas coisas que nunca tinham feito relacionadas com este processo de mudança. Portanto, é óbvio que não estamos aqui a escamotear, nem a Catarina podia, mesmo num filme de três horas, mostrar todas as facetas das alegrias e das tristezas – prefiro pôr no plural – que todo o processo engendrou. Agora, é óbvio que houve ali momentos muito traumáticos, por exemplo a história do cemitério de que tu falaste: claro que foi o momento, para mim, mais traumático que as pessoas viveram. Só que, como sabes, na tradição portuguesa, há muito a ideia de que as crianças devem ser protegidas de certos assuntos, como é o caso da morte. CATARINA MOURÃO. A questão do cemitério para as crianças foi um bocado ficção científica. Exactamente. Aliás, foi-o para a maior parte das pessoas... O cemitério foi vedado e só entrava a equipa que lá trabalhava. As pessoas iam receber os corpos e faziam uma espécie de novos funerais – iam reviver os funerais das pessoas que tinham morrido, no novo cemitério. E realmente não apareceram assim muitas crianças. Portanto, a história dos mortos para as crianças foi justamente como uma fábula de que, com certeza, eles vão falar daqui a 20 ou 30 anos – “aquela altura em que tiraram os mortos da velha aldeia e os puseram na nova”. Mas, quer dizer, isto foi um processo tão complexo e tão longo – como sempre em Portugal, era suposto estar acabado em 2000, e depois era suposto acabar em 2001, e depois em 2002, e tudo se foi atrasando. Os prazos tiveram sucessivos adiamentos e as pessoas todas, e as crianças também, foram sentido esse arrastamento. CLARA SARAIVA. PUB (GRAÇA CASTANHEIRA). Quero só dizer uma coisa a propósito do filme da Catarina. Porque eu gostei e aqui este colega perguntava porque é que o futuro não está representado. Eu acho que exactamente o valor do filme é ser sobre aquela dor em particular, daquele presente. E portanto, haver apenas aquele passeio sobre o lago, pareceu-me inteligente, sensível. Achei o filme muito comovente e muito bem feito. PUB ( MADALENA MIRANDA ). A minha questão é geral, para os realizadores e para o público. O que continua a ser uma surpresa para mim, e continua a fazer-me olhar para estes filmes de uma forma diferente, é, por exemplo, um plano como aquele da igreja, no A minha aldeia... ou os planos dos gatos do Alejandro, ou o tempo do filme do José: parece que há sempre um duplo olhar. A ideia de estar a olhar para uma coisa que está a acontecer e que é irrepetível. E eu acho que isso, neste grupo de filmes, e neste documentário-registo, documentário-documento, é muito forte, para mim. E basicamente a minha pergunta vai no sentido de tentar perceber se isto é uma coisa comum, se é um... eu acho que é de certa forma uma das fissuras dentro do documentário que sempre se explorou, e que vai continuar a existir: o fazer uma memória do mundo. PANORAMA ’06 | a acabar 23 PUB 2. Acho que os filmes de hoje, e esta mostra, são muito interessantes. E parece-me que o filme da Catarina apesar de ter alguns elos de ligação com os outros, tem um ar dramático muito bem definido, ao contrário de outros filmes que não têm tanto (como por exemplo o Tudo vai acabando, onde aparecem fragmentos). O filme da Catarina tem princípio, meio e fim, tem uma mensagem definida, e até se pode assumir como um filme algo ideológico, ao ter uma mensagem mais positiva. E o que é que diz aquela gente da Aldeia da Luz quando vê o filme? Como é que as pessoas se revêem? CATARINA MOURÃO. O filme foi mostrado na Aldeia da Luz, e foi uma sessão muito comovente. O que eu sinto é que as pessoas hoje em dia se adaptaram bastante bem àquela aldeia, apesar de tudo – e isto não é propaganda da EDIA, é o que eu sinto sinceramente. Acho que obviamente a nostalgia existe, e o meu filme provocou esse tipo de efeito, principalmente numa cena que eu tive muitas dúvidas se deveria incluir, o momento em que as máquinas destroem as igrejas. Acho que essas imagens impressionaram um bocado as pessoas, sobretudo porque não as conheciam. Eram imagens que ainda não estavam, deliberadamente, num museu, porque se achou que ainda era muito cedo para as pessoas se confrontarem com elas. Eu acho que essa questão é muito interessante mas passa sempre por outra, que é: como é que as pessoas se revêem a elas próprias? Tenho uma interpretação de como é que a Aldeia vê o filme e de como é que hoje, com alguma distância, olha para aquele drama. Mas eu acho que, sobretudo quando as pessoas estão a ver o filme, estão a ver-se a si próprias, e isso fá-las ver os filmes de uma forma fragmentada, dificilmente os vêem na globalidade. 24 PANORAMA ’06 | a acabar debate DA TERRA o tempo rural e o seu encontro com o tempo do cinema PROGRAMAÇÃO: O Inimigo | Bruno Caracol [ 12’ ] Morabeza | Constantino Martins [ 80’] Morte Galinha | João Miguel Vaz [ 8’ ] Micro Doc’s Kingdom | AAVV [ 26’ ] Fiat Lux | Luís Alves de Matos [ 26’] Cá Dentro | José Neves [ 63’ ] CONVIDADO: Pedro Prista (antropólogo e docente no ISCTE) MODERADO POR: Fernando Carrilho 28.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | da terra 25 26 PANORAMA ’06 | da terra JOSÉ NEVES [CÁ DENTRO]. Este filme teve origem numa notícia publicada num jornal que tinha uma fotografia da Fajã. Fazia-se, nesse artigo, uma reportagem jornalística, factual, sobre o quotidiano do local, descrevia-se como é que as pessoas viviam, de que é que viviam, como é que era serem apenas quatro famílias, oito pessoas, e pouco mais. E eu senti-me atraído pelo isolamento descrito, e pela solidão, e pela própria imagem que vinha na fotografia do jornal. Tenho licenciatura em Geografia, para além de Cinema, e como sempre achei que Geografia e Cinema estavam relacionados – porque são disciplinas que lidam com o espaço, e com o tempo, e com a construção do espaço e do tempo – senti-me extremamente atraído por um assunto regional, o que não é comum em mim (normalmente sinto-me atraído por assuntos mais urbanos; até agora só tenho filmado artistas). Mas naquele momento senti qualquer coisa, uma espécie de apelo, estranho, que tinha a ver sobretudo com a espacialização. Nunca me senti atraído por uma ideia de reportagem. Reportagens sobre os locais existem várias, sobre aquele local, sobre a Caldeira de Santo Cristo, existem ‘n’ reportagens, publicadas em ‘n’ jornais, revistas de surf, programas de televisão, etc. Portanto, o meu ponto de vista não era exactamente o de uma reportagem factual, do captar o dia-a-dia das pessoas, mas o de alguém que vem de fora – e eu acho que alguém que vai documentar alguma coisa é sempre alguém que vem de fora. Eu vinha de fora e tinha que construir, naquilo que fazia, e naquilo que observava, esse meu lado exterior, esse meu olhar exterior, de alguém que é urbano, que vive no meio da multidão e que de repente se confronta com um quotidiano de isolamento e de solidão (só há um momento que foge a este isolamento, o período da festa, momento inicial do filme). Basicamente, foi este o meu projecto: filmar um espaço e as coisas à medida que o meu tempo no sítio ia passando. E fui vendo, fui filmando, e o projecto foi, obviamente, adquirindo outros contornos. A ideia de solidão esteve sempre presente, mas a ideia de espacialização foi sendo alterada por aquilo que eu ia observando. JOÃO MIGUEL VAZ [ MORTE GALINHA]. O Morte Galinha surgiu do cheiro. Eu cresci naquela casa, que é a casa dos meus pais, em Valadas, uma aldeia perto da Figueira da Foz, depois fui para o estrangeiro. É uma aldeia igual a tantas outras, não tem nada de especial, e o filme surge depois de eu regressar da Alemanha onde estive muito tempo a trabalhar. Lá, trabalhava na indústria, onde os processos são muito mecanizados, onde a relação entre as pessoas tem menos “humanidade” do que a que existe no meio rural, especialmente no meio rural português (apesar de na Alemanha existir uma enorme consciência em relação ao bem-estar animal, que não existe em Portugal). Quando voltei, fui confrontado outra vez com aquele cheiro forte característico de quando se matam galinhas, e com aquelas imagens que se repetem várias vezes ao ano. E então resolvi registar esses gestos, porque me interroguei se, realmente, não irá ficar pela geração dos meus pais este acto de matar os animais em casa (porque eu não tenho coragem de pegar numa faca e cortar o pescoço seja a que animal for, nem a uma galinha, e a minha irmã também não). E este filme é essa tentativa, um pouco ingénua, direi eu, de registar aqueles momentos. É a minha primeira experiência neste sentido, portanto não é um projecto muito estruturado, ou muito pensado, ou com quaisquer outras aspirações a não ser as de documentar aquele acto e aquele dia. A ideia original também apareceu, como no filme do José Neves, dum jornal, aliás, duma revista, em 1998. Havia um artigo que falava de uma aldeia (ou melhor, LUÍS ALVES DE MATOS [FIAT LUX]. PANORAMA ’06 | da terra 27 um lugar, porque é mais pequeno) que estava há 25 anos à espera que lhe instalassem a electricidade. A reportagem estava muito bem-feita, as fotografias eram fantásticas, a preto e branco, e a minha atracção passou-se a dois níveis. Por um lado, a injustiça que ali havia – mais tarde vim a saber que existiam milhares de aldeias sem luz, mas naquela altura achava que aquela era a última. Por outro lado, o trabalho plástico que vi naquelas fotografias. Depois tive o apoio do ICAM para a pesquisa, e fui lá. E ao conhecer o espaço fiquei, mais uma vez, fascinado. Acho que das duas ou três vezes que lá fui me interessei em filmar o espírito do lugar. Ter, não só aquela história como fundo, mas essencialmente ter os animais, as pessoas, a natureza, e colocar todos estes elementos quase ao mesmo nível, com a mesma importância. O meu filme surgiu do fascínio pela superstição, pela forma como as crenças podem mudar a realidade das pessoas e o seu quotidiano. Senti a necessidade de ir a Vilar de Perdizes para encontrar a maneira como essa relação está ligada à natureza e na sua forma mais pura, ou menos poluída pela informação urbana. BRUNO CARACOL [O INIMIGO]. Foi sobretudo uma viagem, e o encontro com as pessoas que foram passando por essa viagem. Não é que seja um documentário muito profundo sobre o assunto, porque não fui lá muitas vezes, não passei lá muito tempo, mas também tem essa necessidade de encontrar a sensação do local. São coisas que perpassam em todos os outros documentários. GONÇALO TOCHA [ MICRO DOC ’ S KINGDOM ]. Ao contrário de todos os outros, este é um filme mosaico, feito por vários realizadores. Já havia, há muito tempo, a ideia de organizar uma residência, acabou por ser em Serpa, podia ser noutra cidade qualquer, não era importante neste caso. E o dispositivo era muito simples: partindo do facto de ninguém ter estado em Serpa, a ideia era filmar esse primeiro contacto. Tão simples quanto isto. Aquele era o primeiro contacto que aquelas pessoas estavam a ter com aquele sítio, era a primeira vez que ali estavam, tinham uma câmara e iam ter directamente com as pessoas, com o que se estava a passar, com o que estavam a ver. Portanto, o que está ali, na maioria dos casos, é a filmagem do momento. Só. Não há segunda volta, não houve re-filmagem, não houve takes alternativos. E cada pessoa fez um filme. Houve alguns filmes que não foram incluídos; há uns melhores, há outros piores, não interessa. O contraste deste, com os outros filmes, está então no facto de esta ser uma primeira abordagem – não foi feito ao longo de vários meses ou anos. Uma primeira abordagem que pode ser mais ou menos pura. PEDRO PRISTA. Li nestes filmes a continuidade de um vínculo residual à terra que se nos impõe e que nos persegue. Os campos têm gente, as pessoas estão lá, vive-se naqueles lugares, continuam a fazer-se coisas que se aprenderam com os pais e os avós, e que se viram fazer à volta. E depois, o que está lá também, e que é uma coisa que me impressionou no conjunto dos filmes, é uma enorme sensibilidade perante a profunda insignificância do dia-a-dia, da rotina, do banal da vida no campo. Não quer dizer que haja qualquer coisa de particularmente brilhante na vida fora do campo, ou na vida das cidades, mas em todos estes sítios havia uma cadência, um tempo, 28 PANORAMA ’06 | da terra uma gestão de silêncios, uma demora (nós diríamos, quase, uma pasmaceira...) e que muitas vezes, parece-me, as câmaras souberam captar. É impossível não ficar prisioneiro da luz e das nuvens dos Açores, por exemplo, que é uma coisa que marca profundamente o filme Cá Dentro. Mesmo não estando filmado o cheiro, imediatamente ele se nos acorre à memória, só de vermos aquela maneira de matar os galos. Aquelas imagens do Alentejo, em Serpa, que estão longe de ser apenas ruralistas... Acho que todos estes filmes souberam acompanhar muito bem uma coisa que, para mim, é difícil de precisar (requereria recursos poéticos e estéticos que eu não tenho). Qualquer coisa que apesar de tudo está lá, intersticial, nos campos, na vida das pessoas que ainda por lá ficaram – velhas ou novas, não importa. E isso é que me parece muito difícil de apanhar, e pareceu-me um grande desafio, digamos, documental. Apeteceu-me perguntar o que é que fica documentado da terra nestes filmes... E se não fica documentada, pelo menos fica muito fortemente sugerida, esta coisa imprecisa que ainda assim é vida humana, que é vida nos lugares. Parecem uma despedida, mas há tantos anos que se estende esta despedida, há tantas décadas, praticamente há séculos, que nós deixamos de saber se a despedida já não se tornou uma maneira de estar vivo, lá. Não tenho visões particularmente românticas do que é esta perpetuação do viver na terra. E interrogo-me – mas não consigo ir para além da interrogação, e do desdobrar da interrogação em novas interrogações – sobre esta perpetuação da terra e da enorme importância da terra no viver humano, mesmo quando já são poucas as pessoas que lá estão. E até na nostalgia com que elas falam disso, uma nostalgia tão pacífica que chega a ser perturbadora. Talvez a chave esteja nas questões de identidade. Talvez este rol de interrogações remeta para a necessidade do lugar e em particular de um lugar onde as pessoas tenham – pelos seus antecedentes, pelas memórias que lá estão projectadas, pelos outros que lá estão com elas – meios para ser colectivamente, ser umas com as outras, em conjunto. O filme da tarde, o Morabeza, tocou-me muitíssimo, nisso. É possível utilizar a música e o som daqueles violinos para galgar fusos horários e distâncias enormes e para unir um sentir e uma maneira de pertença. É um filme que de alguma maneira quebra os quadros muito locais, apresentados pelos outros filmes. Talvez pusesse em extremos muito opostos, neste aspecto, a Fajã e esta difícil espacialidade consagrada por aquele violino. Mas, é dispensável, a terra? Podemos prescindir dela? Quanto mais não seja no nosso imaginário, até na nossa fantasia, como no caso do Padre Fontes, e as questões de Vilar de Perdizes. Se calhar, sem aquilo, nós deixamos de ter uma ligação poética à paisagem e à terra. Uma coisa que gostei muito nesse filme, no Inimigo, foi a forma como está muito bem demarcada a memória que as pessoas entregam, e a memória propriamente dita. “Atenção, eu estou aqui no café apenas a contar como é que se fazia e não a fazer efectivamente”. Sem isto, o que querem dizer aquelas outras imagens fixas que nos aparecem da paisagem? Nenhum dos filmes é ruralista, nem no sentido do realismo agrário, ou de ir à procura da terra no seu sentido mais clássico. E, no entanto, pareceram-me todos muito sinceros. Sem documentarismo deste género, onde é que vai ficar registada a luz foleira das televisões no interior das cozinhas com azulejos, os armários de alumínio dos balcões dos cafés, aquele sibilo asmático PANORAMA ’06 | da terra 29 dos candeeiros a gás... como é que essas coisas ficariam registadas? Acho que é precioso, mesmo não tendo sido intencional, ou mesmo que tenha sido pelas qualidades plásticas, ver o que aquele objecto traz a uma cena. A minha tendência seria de prever isso e ir intencionalmente atrás de coisas deste tipo. Mas como nunca fiz documentário, e nem me vejo a fazer, acho muitíssimo interessante que apareça, nem que seja à boleia, nestes trabalhos. E por isto achei tão interessante este conjunto. FERNANDO CARRILHO. O Pedro dizia que todos os documentários transportavam uma noção do tempo, quase todos conseguiram espelhar um estar, e um ser de um sítio. Como é que entraram nos locais, quando foram filmar? Tinham raízes, ali? Já tinham tido trabalhos anteriores em que filmaram o campo? Como é que se construiu essa abordagem? Tiveram de construir qualquer coisa de novo? LUÍS ALVES DE MATOS . Não tenho nenhum fascínio especial pelo campo, ou pelas pessoas do campo. Acho que são iguais a nós. Não tenho aquela ideia de que o campo seja um sítio em que as pessoas são mais puras. Têm as mesmas personalidades, mas depois têm outros tipos de dia-a-dia, e outras coisas com que podem lidar e que podem ter. Um meio urbano, como Chelas, onde filmei A Praça, um bairro social, aparentemente é mais agressivo, mas quando entramos talvez sejamos melhor recebidos. Durante o tempo em que estivemos a filmar acho que as pessoas mantiveram alguma desconfiança. Pensaram sempre que éramos jornalistas, porque para além do tal jornal tinham lá ido três televisões, e portanto, nós fomos uma equipa de documentário que chegou depois da TVI, da SIC, da RTP, do Diário de Notícias, do Público. Sempre olharam para nós como uma espécie de continuadores de notícias. Nunca perceberam o que é um documentário, porque é que estávamos lá alguns dias a fazer só um plano à espera que aparecesse o pôr do sol. Em Chelas, que é muito mais agressivo, onde até havia um café para onde não podíamos apontar a câmara de outra forma éramos barbaramente expulsos do bairro, as pessoas acabaram por entender mais facilmente o que estávamos a fazer. Portanto, eu acho que os sítios são diferentes, mas não há regras para nada. Eu tenho trabalhado mais em documentários sobre artistas e artes plásticas. Fiz poucas incursões no documentário de cariz social. O primeiro trabalho que fiz dentro desse género foi um filme que se passa em Macau, durante a transferência – trabalho em que falhei redondamente. Aliás, acho que cada um tem jeito para fazer certas coisas, e na altura estávamos na época de explosão do documentário... aproveito para dar um conselho: não se deixem levar pelo que se diz, ou por uma certa ditadura do que deve ser um género. Na altura o tipo de documentário de que se falava era o social, e mesmo nessa altura não me senti muito convicto. Tentei fazer essa coisa das entrevistas, desenvolver um lado mais antropológico, e falhei redondamente. Na altura, esta aldeia pareceu-me uma boa segunda tentativa, para eu me sentir bem, e conseguir fazer uma coisa que, mesmo sem ser sobre artistas plásticos (temas em que continuei a trabalhar), tivesse a ver comigo. Estava nessa fase quando filmei e quando fiz uma primeira tentativa de montagem. Mais tarde, depois de ter feito A Praça – um documentário em que também não há entrevistas, onde há novamente um olhar sobre um lugar, nesse caso uma praça (para mim é 30 PANORAMA ’06 | da terra tão importante filmar um espaço como uma pessoa) – olhei outra vez para o material e pensei se seria necessário que aquelas pessoas falassem. Se tivermos um plano de alguém que dure cinco, 20, ou 30 segundos, há signos suficientes na imagem para se depreender se as pessoas são felizes, se não são, se estão satisfeitas, ou não estão. Foi neste ponto que achei que aquilo se calhar funcionava, não tinha que filmar mais, não tinha que estar a dar mais informações. E também senti que era este tipo de documentários que eu queria fazer. Não é nada fácil fazer documentários, mas também acho que devíamos arriscar mais quando os fazemos. E acho que devemos continuar a tentar fazê-los de uma certa maneira, mesmo quando falhamos. E a tentar que nos sintamos bem com eles. Mas é difícil. E é difícil se calhar encontrarmo-nos com isso. FERNANDO CARRILHO. José, no teu documentário está lá a questão do tempo e do espaço, e isso é muito forte. Mas fiquei com curiosidade acerca das pessoas que se ouvem em voz-off. Porquê essa opção de não dar a reconhecer as pessoas que falam? O que havia de importante ali era o espaço, era o local. O local em si, uno. Por isso, gostei mais da ideia de um coro não identificado – embora as pessoas apareçam todas, sem falarem directo para a câmara – como memória e resíduo do tempo e do espaço. Prefiro isso, em vez da identificação específica de alguém, porque aí passaria a ser qualquer coisa concreta e específica àquela pessoa, e não uma memória mítica do local – ou possivelmente passível de ser mistificada (pelo menos pelo cinema, ou pelo vídeo, neste caso). Quis construir uma espécie de voz do tempo atribuível ao espaço. JOSÉ NEVES. FERNANDO CARRILHO. Bruno, fiquei um pouco na dúvida sobre o modo como querias abordar as crenças. Pareceu-me que essa questão estava um pouco à parte, senti que estavas mais próximo da terra, da paisagem. BRUNO CARACOL . As crenças foram mais o motivo, o gatilho, para eu ir lá. Acho que depois, para abordar a questão das crenças com alguma profundidade, o processo de trabalho teria de ter sido muito diferente. Tinha que ter estado lá muito mais tempo, tinha que ter estado com muito mais pessoas. Acabei por trabalhar muito mais a relação com aquele espaço e com os mitos que eu próprio tinha, e a construção que fiz quando cheguei lá. Mais uma vez, essa relação com o espaço foi muito importante. Foi fulcral. PUB ( MADALENA MIRANDA ). Há pouco tempo revi o filme do Raymond Depardon sobre os camponeses franceses. E é um filme que se concentra muito na possibilidade dos camponeses fazerem o seu trabalho ou não. Se as colheitas vão correr bem, se vai haver trabalho, se esse trabalho agrícola, ligado à terra, continua ou não a reflectir-se nas pessoas. E nestes filmes, pelo contrário, há uma questão que vai mais no sentido do espaço, e da sua partilha. Gostava de pegar um pouco no que o Pedro disse, isto é, da terra ter que continuar a funcionar como um motor, como um oposto, o outro lado, quase o preto e branco em nós, e perguntar se vocês colocariam, por exemplo, um ritmo diferente nos vossos filmes se estivessem a filmar outra coisa qualquer. Retirando o que isto implica de óbvio, de se tratar de uma outra coisa qualquer... PANORAMA ’06 | da terra 31 Se calhar o Bruno, se fizesse um filme sobre as crenças na Igreja Universal do Reino de Deus, ali no Cinema Império, faria outra coisa... percebem? Eu acho que há um ritmo muito silencioso, um pouco como aquilo que o Pedro estava a dizer, muito residual, que passa. Podes filmar uma metrópole com o mesmo ritmo sorumbático, residual, silencioso, pasmado, observador. E podes filmar o campo com um ritmo frenético, fragmentado, histérico. JOSÉ NEVES. PUB ( MADALENA MIRANDA ). Mas efectivamente isso não acontece aqui. JOSÉ NEVES . Porque o meu ritmo não é esse. Se eu for filmar o Centro Comercial Colombo, ou uma terriola, o ritmo há-de ser sempre o mesmo porque sou sempre eu, é o meu olhar perante a coisa. Não é? O Depardon vem do jornalismo, e tem uma perspectiva jornalística. É um grande cineasta mas tudo o que faz provém da mesma perspectiva, assente na investigação, no inquérito, inquisição sobre aquilo que acontece e lhe interessa. Depende de cada olhar. E se não há olhar, não há filme, há uma massa indistinta. PUB ( MADALENA MIRANDA ). Sim. Mas o que eu me pergunto, e estava a tentar partilhar com vocês, é se serão os próprios espaços a fornecer o ritmo do filme – todos vocês falaram da tónica colocada ao nível do espaço. Será que não há um tempo e ritmo próprio que vem ao vosso encontro? JOSÉ NEVES. Não sei. Eu, por exemplo, quando penso no campo vejo mais um campo trespassado pelas memórias do cinema soviético dos anos ’20 e ’30 do que o campo em si. Isso depende de cada pessoa. Para além da discussão em volta do retrato de um espaço e do tempo cinematográfico específico (ou não) que esse espaço evoca, e provoca, vale a pena, talvez, acrescentar uma reflexão sugerida por alguém do público que se pergunta o que será isso de “documentário”. Por vezes está nas perguntas e nas palavras mais simples, a indução de ideias ou preocupações complexas. E aquilo que parece certo e arrumado é talvez o campo mais profícuo para o seu aparecimento. A diferença entre ficção e documentário parece clara, e ultrapassada, mas, se continua a ser levantada, vale a pena ser olhada, mais uma vez, com alguma atenção. Os clichés que se pensam fixos e definidos mas não estão provocam, talvez, dos mais perigosos equívocos (por permanecerem por discutir, exactamente por se pensar que não passam de clichés). PUB . É a primeira vez que eu venho a um festival de cinema de documentário, é uma estreia para mim. Por sorte, porque sou amigo do João, de outra forma não vos teria conhecido, e não teria ouvido todas estas coisas interessantes, sobre o espaço, o tempo (e é curioso como isso são questões que aparecem na música: o espaço, o tempo...). Ora, a questão que vos quero colocar a todos (excepto ao João... se quiser responder, responde, mas como sou amigo dele podemos falar noutra altura) é a seguinte: o que é para vocês o documentário? É retratar uma realidade nua e crua, tal como ela é? É utilizarem os outros para contarem uma história, e portanto fazerem uma ficção mas sem os actores e sem um texto (quase como no hip hop em que se vão buscar músicas dos outros e se constrói uma música original a partir 32 PANORAMA ’06 | da terra dessa raiz já existente); ou é apenas um documento jornalístico? O que é que vocês pretendem? O documentário é um acto ficcional? Se assim fosse não teriam chamado documentário, teriam chamado outra coisa qualquer. Ou será apenas uma base para fazerem um filme, um dia? Falaste em realidade nua e crua, mas nunca há realidade nua e crua. Há realidade vestida e cozinhada. Sempre. E o vestir e cozinhar depende de cada olhar. É tão simples quanto isto. Vestir e cozinhar a realidade que se observa depende de cada pessoa, e portanto não há receitas, na minha opinião. O documentário pode ser o que tu quiseres, com ou sem ficção. E essa é outra questão falsa: há sempre ficção no mundo. Tu tens a tua ficção, toda a gente que está aqui tem a sua ficção, eu tenho a minha, a ficção está em todo o lado, estando na nossa realidade, e na nossa mentira. Qualquer filme ficcional tem documentário, qualquer filme documentário tem ficção. E portanto isso não é uma questão. Há, se quiseres, o cinema que narra, e o cinema que não narra. Mas documentário e ficção não é uma distinção muito interessante, pelo menos para mim. JOSÉ NEVES . PUB . Mas tu és um realizador ou um documentarista? JOSÉ NEVES. É-se realizador de cinema. Tal como não há música experimental, ou música clássica, há música. Há cinema. Há arquitectura. Há construções, há formas, há olhares, há posturas, há perspectivas. É tudo cozinhado, nada é a cru. Pessoalmente eu acho que essa, e todas as outras questões que possam sair dessa, são falsas questões. Trazem sempre os mesmos erros, os mesmos enganos, andam sempre à volta da mesma coisa que não gera nada de produtivo. Tem que se olhar o objecto por si, para aquilo que ele faz, para aquilo que ele constrói. As crianças, numa certa fase da infância, quando fecham os olhos acham que estão escondidas, o mundo é aquilo que vêem, e desaparece quando não o estão a ver. Nietzsche defende, em contraponto à verdade em si (porquê pensar numa coisa que nunca se poderá saber se existe ou não?), a perspectiva, o “canto” de onde um sujeito olha para as coisas à sua volta (e para trás do qual não há nada, porque não o consegue ver). Existem tantos mundos, quantos aqueles que os sujeitos percepcionam. Um mundo, assim, “para além do bem e do mal”; para além da oposição entre verdade e mentira. Um mundo fragmentado e múltiplo. PANORAMA ’06 | da terra 33 34 PANORAMA ’06 | abc debate EM COMUM da solidão do cineasta (e algumas notas sobre política de produção) PROGRAMAÇÃO: A Pele | Álvaro Romão [ 55’ ] Vila Morena | Alice Rohrwacher, Alexandra Loureiro [ 36’ ] Rastas | Neni Glock [ 56’ ] C-Mail, quando o correio chega por mar | Filipe Araújo [ 10’ ] A Ocasião | Rita Brás, Cláudia Alves [ 50’) Documento Boxe | Miguel Clara Vasconcelos [ 53’ ] Bandeira | Rui Filipe Torres [ 70’ ] São João – Rua 15 | António Saraiva [ 25’ ] Gosto de ti como és | Sílvia Firmino [ 57’ ] Skinheads – rebeldes com uma causa | Vítor Hugo Costa [ 20’ ] A Fé de cada um | Neni Glock [ 57’ ] MODERADO POR: Madalena Miranda 29.Janeiro.2006 PANORAMA ’06 | em comum 35 36 PANORAMA ’06 | abc A nota final do debate anterior é uma boa nota introdutória para este que se seguirá: o perspectivismo nietzschiano fala de um mundo feito de sujeitos isolados, como mónadas, fechados nos seus cantos de um mundo estilhaçado em perspectivas (existem tantos mundos quantas perspectivas; não há mundo para lá da perspectiva). A verdade emerge caleidoscópica, e nisso se inclui o próprio sujeito, não só produtor de perspectivas, como perspectiva ele também. O mundo aparece como emaranhado de solidões. Esta é uma ideia que ajuda a perceber a reflexão que se esboça neste debate em volta da solidão do trabalho de um cineasta: este é alguém que pré-vê, que imagina, e a visão é um acto solitário, de isolamento, feito do “canto” onde não cabe mais ninguém. A programação “em comum” junta filmes que olham para comunidades, grupos de pessoas. Colectivos onde se podem observar e pensar várias formas de pertença, e o seu negativo, a exclusão. É perante isto que se torna pertinente pensar na “perspectiva” do cineasta, em que lugar se colocou para observar, até que ponto se envolveu e pertenceu, e como, mesmo assim, mesmo estando perto e fazendo parte, efectivou o seu trabalho crítico e distante. Pensar as comunidades filmadas torna-se pensar o próprio lugar do realizador, como desvela o Miguel Clara Vasconcelos. E esse é um lugar de solidão – porque de criação. “E assim vai, corre, procura. Que procura ele? Não há dúvida de que este homem [o artista], tal como o descrevi, este solitário dotado de uma imaginação activa, sempre viajando através do grande deserto de homens, tem um objectivo mais alto que o de um puro flâneur, um objectivo mais geral, que não o prazer fugidio da circunstância. (...) O que ele pretende é retirar da moda o que ela pode conter de poético no histórico, extrair o eterno do transitório.” [Charles Baudelaire, retirado da obra que compila textos de Baudelaire, já citada]. O artista como alguém que vagueia, como acaba por dizer o Miguel... O cinema não tem – como, talvez, qualquer criação artística – uma existência óbvia ou fácil. Ele é resultado de um trabalho de equipa, ideia que desde logo entra em conflito com o cineasta-solitário. O cinema é resultado de lutas: do cineasta, de cada interveniente na sua construção (a épica luta produção – realização é disto exemplo), uma luta do próprio filme, no final. Faz portanto algum sentido que neste debate se passe de repente (e quase sem darmos por isso) de uma reflexão em torno da postura do cineasta e arte cinematográfica (poiesis, produção para os gregos), para questões relacionadas com o “trabalho” de produção. É sempre de produção que se fala, no fundo. MADALENA MIRANDA. Foram programados neste conjunto, os seguintes filmes: A Pele, sobre uma comunidade de toxicodependentes na Marinha Grande; o C-Mail, sobre o correio das garrafas que são enviadas por mar; Vila Morena sobre o Tejo Bar; o Rastas, um filme do Neni, sobre uma comunidade à margem da sociedade urbana; o Ocasião sobre o jornal “Ocasião”, e as possíveis pessoas que se podem encontrar à volta dele; o Documento Boxe do Miguel, sobre o mundo do boxe; o São João Rua 15, passado num bairro da Costa da Caparica na altura das festas; o Gosto de ti como és, um filme sobre os Santos Populares no bairro da Bica em Lisboa (a Sílvia não pôde estar cá, felizmente está em Helsínquia, no Doc Point, um festival de documentário onde está a passar este filme); e o Skinheads, do Victor, cujo título fala por si. Eu gostava de começar por perguntar aos realizadores, como temos feito em todos os debates, o que é que os motivou a fazer o seu filme. O Vila Morena é uma primeira obra para mim (para a Alice não, ela já tinha feito um documentário, Il piccolo spectacolo que ganhou o Doc Roma ALEXANDRA LOUREIRO [ VILA MORENA ]. PANORAMA ’06 | em comum 37 o ano passado). Este filme surge no âmbito do curso de realização de documentário da Videoteca, e a nossa intenção era mostrar a importância de certos lugares especiais, e o que as pessoas aí procuram, falando também da presença da utopia na nossa sociedade. Assim, por um lado centrámo-nos no espaço, com as suas personagens muito distintas; e por outro, quisemos fazer uma reflexão sobre o que é a utopia para cada pessoa. CLÁUDIA ALVES [OCASIÃO]. O dispositivo do nosso filme passava por escolhermos os anúncios do jornal “Ocasião” – onde se colocam os anúncios gratuitamente, e onde as pessoas procuram e oferecem coisas, ou serviços –, ir à procura das pessoas que colocavam alguns desses anúncios, e construir, a partir daí, um conjunto de situações, com o intuito de provocar uma reflexão. O meu filme é sobre o boxe em Portugal. É o meu primeiro filme. Tinha feito um documentário no curso da Videoteca de Lisboa, depois fui para Madrid fazer um outro curso: “Documentário de Baixo Orçamento”, que é como quem diz: “não tens dinheiro e queres fazer um filme, assim é como se faz”. E o Documento Boxe é resultado dessa formação bastante prática dada na Videoteca, e a formação bastante “desenrasca-te” de Madrid. Pessoalmente não tenho um interesse especial pelo boxe. Tem a sua estética, mas não sou muito dado nem a desportos, nem particularmente a desportos violentos. No entanto, interessava-me ter um tema onde pudesse contar histórias; histórias reais, histórias de pessoas. E um bocado por acaso – e não tem a ver com o jornal, tem mesmo a ver com a casualidade do dia-a-dia... – – encontrei algumas pessoas que praticavam boxe. Depois houve uns combates ao ar livre, na Praça Paiva Couceiro, perto da Curraleira, e foi assim que eu fui conhecendo algumas pessoas relacionadas com este universo: pugilistas, alguns amadores, outros semiprofissionais, e entre eles um que é mesmo profissional, e que neste momento deve estar a disputar o título mundial (aliás um dos títulos mundiais – entretanto fui aprendendo qualquer coisa, e há várias taças mundiais de boxe). Percebi então que aquilo ia de encontro ao que eu procurava: histórias de pessoas, pessoas que além da sua vida quotidiana praticam um desporto ou o boxe ou uma modalidade violenta. E sendo uma modalidade que, apesar de ser olímpica é muito mal vista, ainda por cima carrega um lado quase marginal, associado aos bairros pobres de Lisboa e, enfim, associado também a uma certa decadência urbana que me interessava. Queria debruçar-me sobre qualquer coisa que me permitisse fazer uma radiografia do país. E foi um bocado essa radiografia de pessoas que aparentemente nós não conhecemos mas têm histórias interessantes para contar, que eu quis fazer. MIGUEL CLARA VASCONCELOS [ DOCUMENTO BOXE]. Eu realizei, no âmbito do curso do documentário da Videoteca, o Skinheads – rebeldes com uma causa. Escolhi o tema porque tinha que apresentar algum para participar no curso, e lembrei-me desse assunto porque conhecia o Raul (que é o protagonista do filme) e achei-o uma pessoa extremamente interessante. Pensei ainda que seria esclarecedor percebermos que a sociedade, de um modo geral, julga que os skinheads são, como ele dizia “racistas, fascistas, um grupo de arruaceiros”, e que se calhar não é bem assim. Foi o que eu tentei mostrar: que nem todos são assim. VÍTOR HUGO COSTA [ SKINHEADS ]. 38 PANORAMA ’06 | em comum NENI GLOCK [RASTAS; A FÉ DE CADA UM]. Para o filme Rastas o que mais me chamou a atenção foi, para já, o visual da família One Love Family, que é interessantíssimo; depois, o meu gosto pelo reggea; final e principalmente, a filosofia da não-violência. O A fé de cada um surgiu quase sem querer. Eu sou fotógrafo, também, e fui duas vezes a Fátima para fotografar – gosto de estar no meio de multidões, aparece sempre alguma coisa engraçada. E na terceira vez, depois de eu e o André Bessa (que é meu sócio) termos comprado uma câmara, fomos lá captar algumas imagens, mas sem intenções, no princípio. Só depois é que nos apercebemos que aquilo poderia dar qualquer coisa. Aí comecei a pesquisar na internet, encontrei o Padre Mário, e achei interessante a visão dele, diferente, que para mim... enfim, também fui criado segundo a Igreja Católica, e de repente, encontrar um padre que falava mal de Fátima.... Achei interessante mostrar esse outro lado e fazer uma coisa democrática, mostrar a fé de toda a gente. A fé dos que acreditam, e dos que acreditam noutras coisas. Depois, como em todos os documentários, as coisas foram-se encaminhando por si. A linguagem só surge mesmo na montagem. RUI FILIPE TORRES [ BANDEIRA ]. Passou aí o Bandeira, que foi feito porque o Euro 2004 foi... toda a gente estava envolvida, de uma maneira ou de outra. Comecei a filmar algumas imagens e um ano depois decidi repegar nesse material. Tentei não fazer uma coisa opinativa, mas perceber o que é que as pessoas poderiam dizer à volta daquilo e o que é que tinha ficado. O filme foi mais ou menos resolvido também na montagem. Inicialmente gostaria de ter andado pelo país todo, mas também não foi possível porque, enfim, trata-se de uma produção completamente independente, e isso sente-se no filme, provavelmente. PUB (CATARINA ALVES COSTA). Vi quase todos os filmes de hoje e senti que havia qualquer coisa de realmente em comum em todos eles, o que tornou o dia de programação muito interessante. Em todos os filmes havia pessoas que, nalgum momento das suas vidas, tinham estado sozinhas, e tinham encontrado qualquer coisa que as tirasse dessa solidão. Mas fica-se um pouco triste, no final (como aliás estava a dizer há pouco à Alexandra que me perguntou se tinha achado o filme dela triste). No caso do Tejo Bar as pessoas agarram-se umas às outras, e àquele ambiente. No caso dos coleccionadores agarram-se aos objectos. No Rastas... há uma personagem que quando descobriu que não podia ter filhos a vida quase tinha acabado para ela, até que de repente tinha encontrado aquela família. Mesmo no caso do filme sobre Fátima, na forma como algumas daquelas pessoas vivem a religião. No caso do Bandeira essa presença acaba por ser extrema, pelo agarrar-se à bandeira, e a uma ideia de pátria. Acho que no Documento Boxe também se sente isto: por exemplo naquela cena em que os pugilistas se vão pesar, e se percebe que a vida deles está em jogo – ou têm aquele peso ou não têm nada -, e se sente que há uma perca. Enfim, senti isso nos filmes todos, acho que foi muito bem pensada a programação do dia. São tudo filmes que mostram como é que numa sociedade que está altamente individualizada, em que o que conta é o indivíduo, e a força do indivíduo, as pessoas encontram estratégias para se agruparem. De todos, o Skinheads talvez seja o filme onde o discurso do realizador esteja mais colado ao discurso dos protagonistas, e a mim faltou-me de certa maneira uma perspectiva distante que nos fizesse pensar. Porque, por exemplo, no filme que vimos agora, de Fátima, o que eu acho que acaba PANORAMA ’06 | em comum 39 por ser muito forte é a desmultiplicação de perspectivas: podia aparecer só o Padre e as pessoas em Fátima, e já havia duas perspectivas; mas não: temos ainda aqueles dois peregrinos, e são eles que verdadeiramente nos ligam a tudo aquilo. É através deles, ou principalmente através do iniciado, do aprendiz, que nos relacionamos com o filme (e os outros dois elementos estão ali para relativizar essa ideia central). Bem, não sei se pensaram nisto que eu estou a dizer, e se querem pegar na questão. Estava como intenção por trás dos filmes tratar esta ideia de que os indivíduos a certa altura, quando estão sob pressão, quando vivem uma sensação de infelicidade, e de solidão, se agarram a determinadas e diferentes coisas? ALEXANDRA LOUREIRO. Foi a Alicia quem me propôs fazermos o filme sobre o Tejo Bar, em Alfama (que eu não conhecia). E na verdade ela falou-me com uma tal paixão daquele sítio, que eu achei que valia a pena trabalhar nesse sentido. E quando lá cheguei achei que essa alegria de que ela falava não existia na realidade. Existia sim uma série de pessoas que não tinha um outro sítio para estar a não ser ali, porque só ali é que se identificavam entre si. E acho que de facto todos os nossos filmes têm isso em comum, a questão da identificação. Quando mostrámos a primeira versão do filme à Margarida Cardoso ela disse que o filme era muito, muito triste. Mas como era feito em parceria, havia o lado da alegria que a Alicia queria mostrar, e o lado da tristeza que eu queria mostrar, e acho que conseguimos transmitir isso de que quando não se pertence a lado nenhum não se é nada (não sei se os que viram perceberam isso...). E estão naquele bar muitas pessoas que não querem ficar só por ali, que por pertencerem querem ir mais além, e é precisamente esse o caminho que toda a gente faz na vida, isto é, tentar encontrar o seu próprio caminho, sendo amado (e por isso é que a questão da pertença é tão importante). Portanto, acho que a tristeza está inerente a um processo de integração, porque exige também a própria desintegração, e é por isso inevitável. Por exemplo, o vosso filme [Ocasião] que é um filme muito cómico, também é triste, precisamente por – e a Catarina também estava a falar sobre isso – as pessoas se agarrarem a coisas que na realidade não são importantes, não contribuem em nada para a sociedade, mas apenas para a sua própria alegria. De facto há ali pessoas que vivem muito sozinhas e que têm um mundo um pouco à parte. Contudo, quisemos ultrapassar esse mundo do coleccionismo que a certa altura nos pareceu obscuro, e pontuámos o filme com uma ou outra situação que ultrapassava o mundo dos objectos. Por exemplo, o senhor dos fósseis que coloca um anúncio para vender um dente de tubarão com não sei quantos milhões de anos: aquilo acaba por ser um pretexto para uma conversa interessante sobre a natureza humana, sobre o que nos move. Depois talvez seja importante dizer que a certa altura decidimos reunir os anúncios numa linha entre o animal, o animal-máquina (há ali o robô), e o animal-objecto... há também o homem-animal... enfim, o animal estava mais ou menos sempre presente em matérias diferentes. E o episódio do senhor dos comboios acaba por ser, para mim, o mais íntimo de todos, em contraste com uma certa superficialidade da própria ideia base do documentário, o mosaico CLÁUDIA ALVES . 40 PANORAMA ’06 | em comum composto por dez pessoas escolhidas através dos anúncios que apresentam. Ele fala exactamente sobre a necessidade de precisar de alguém, da solidão... e eu acho que talvez essa seja a chave do nosso filme. MIGUEL CLARA VASCONCELOS. Portanto, a pergunta inicial é porquê os seres solitários que aparecem no documentário, não é? Se calhar os seres solitários somos nós. Para mim uma das grandes diferenças entre o cinema documental (que não é bem reportagem) e a ficção, é que no cinema de ficção se pode trabalhar com grandes equipas, e no cinema documental isso não é possível. Porque em muitas situações não é possível estar muita gente atrás da câmara, e as coisas funcionam mal quando interferimos com a realidade e com as pessoas que estamos a filmar – e haver muita gente atrás da câmara é obviamente uma interferência demasiado grande. E isso faz com que, de alguma forma, estejemos um pouco solitários e imersos na realidade que estamos a filmar. O Documento Boxe foi feito com uma equipa composta por mim e outra pessoa, e houve planos em que nos separámos e cada um ficava com um grupo de pessoas, completamente à mercê. Não no sentido de fragilizados, mas no sentido em que para onde eles fossem, nós íamos. Posso dizer-vos que numa das noites eu acabei na Cova da Moura porque um dos pugilistas vivia lá e tinha de passar em casa antes de ir trabalhar. E a certa altura ficámos lá a conversar. Tenho pena porque já não tinha cassetes, a bateria tinha acabado e tal, mas fui lá parar. E se calhar no documentário, apesar de falarmos de pessoas reais, de realidades que nos são externas, acabamos por tratar de certa forma a nossa própria realidade. E esse tom solitário, apesar de os temas serem engraçados, serem divertidos, haver energia e humor, traduz esse olhar individual ou perdido de uma pessoa que vagueia. E é aqui que o debate muda de rumo, passando da solidão de quem faz documentário para as lutas que trava para conseguir trabalhar. Parece uma viragem brusca, mas talvez sirva, como já se disse, para pensar essa ligação sugerida agora pelo Miguel Clara Vasconcelos: a solidão filmada é a solidão vivida por quem filma. PUB. Eu vi A Fé de cada um pela primeira vez, aqui. Já o tinha tentado ver várias vezes, nomeadamente na televisão, sem nunca conseguir. Sou amigo do Neni há muito tempo e ele tinha-me dito, feliz da vida, que tinha conseguido vender o Rastas e o Fé de Cada Um à RTP, e que os filmes iam passar no dia ‘x’ (claro, naqueles horários de domingo à noite em que se não formos nós, ninguém assiste...). Qual não é a nossa surpresa quando o filme não vai para o ar no dia marcado. O Neni depois soube, ao pedir uma justificação, que tinha sido uma falha humana, tinha havido uma troca de cassetes. Mas eu acho que, pelo tema do filme, pela polémica que o filme levanta, ele nunca irá para o circuito da televisão. Eu acho que a RTP o comprou simplesmente para não passar. NENI GLOCK . Bem, eu acredito que isto acabará sem troca de cassetes e que o filme vai passar ainda, não sei quando. Estamos numa Democracia, não é? O que é que você acha, Catarina? Eu acho que a RTP vai passar o filme. Vão fazer uma espécie de mesa redonda, com vários padres e várias pessoas que sabem do assunto, e o filme vai ser PUB ( CATARINA ALVES COSTA ). PANORAMA ’06 | em comum 41 apresentado como sendo um ponto de vista. Mas isto é a visão optimista, também. Tenho vontade de dizer aqui que acho completamente estúpido que a nossa televisão não passe estes filmes que nós vimos aqui hoje, que se viram ontem. É o nosso país, é o que está a acontecer agora, é o que está à nossa volta e faz-me muita impressão que não se veja isto. No fundo todos estes filmes de hoje falam um bocado das pessoas estarem alienadas, e viverem nos seus mundos, e encontrarem as suas estratégias para sobreviver. Mas muito mais grave do que isso é a alienação da própria televisão. E especialmente quando se trata da televisão pública, da própria RTP. Não se percebe porque é que não existe um espaço para estes filmes. Especialmente porque existe um público, e existe interesse. PUB 2. Oh, Catarina, mas sempre foi assim. PUB ( CATARINA ALVES COSTA ). PUB Não. 2. A ausência de espaços, a limitação, as cassetes que não passam por erros humanos, quer dizer... PUB ( CATARINA ALVES COSTA ). Não. Houve épocas em que a televisão passava o documentário português. Havia o programa da Maria João Seixas, todas as semanas, em que se mostrava o que se fazia. Em vários momentos nos últimos dez anos a televisão mostrou documentário e hoje em dia não mostra nada. PUB 2. Certo, talvez a situação esteja um bocadinho pior, mas parece-me, olhando para esse tempo como um todo, que essa situação que descreves existe e é dominante pelo menos desde que existe uma geração independente em Portugal. E talvez não se consiga resolvê-la porque se tem tentado, ao longo de diversas décadas, e sem grandes objectivos efectivos, que essa praxis seja continuada. De vez em quando há de facto programas (por exemplo O Onda Curta) que criam esse espaço, mas talvez o truque seja, neste momento, encontrar novas formas de distribuição. As tecnologias já o permitem. E falo nomeadamente da internet. Talvez seja necessário ter essa expectativa mais ou menos ingénua, mais ou menos de fé, e deixar de querer que a televisão tenha um papel que de facto não cumpre. Se de facto a cassete foi trocada por um erro, ou se foi alguém que a meteu na gaveta – e é real que muitas vezes se compram as coisas para que sejam metidas na gaveta, é a melhor forma de as fechar à chave... – – não interessa. Há hoje um conjunto de tecnologias que permite mostrar os vídeos em streaming, pelo mundo inteiro, com um acesso maior e com um conjunto de facilidades que uma programação sequencial, digamos, de uma televisão, limita. Portanto, eu posso ver esse vídeo a qualquer hora, a qualquer dia, posso enviar ao amigo um mail a dizer que está lá, etc. E parece-me que é um bocado por aí que as pessoas terão de ir hoje. Enquanto esses espaços também não forem por sua vez dominados. Porque mais tarde ou mais cedo eles tendencialmente vão estar dominados. Mesmo a rede, hoje em dia é uma coisa aparentemente livre, mas se fores ver ao pormenor, não é assim tão livre. 42 PANORAMA ’06 | em comum São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma pessoa estar em casa a zappar e apanhar o bar Tejo ou o coleccionador de elefantes. Outra coisa é ir à internet procurar aquela coisa específica. É diferente. O que eu gostava, e o que eu acho que era importante, é que qualquer pessoa em sua casa pudesse ver, na televisão, estes filmes. Acho que são dois sistemas completamente diferentes. Se não vamos parar ao discurso do: “já que o documentário é tão pequenino e tem este discurso tão pequenino, vamos mantê-lo ainda mais pequenino fazendo com que ele circule de uma forma paralela”. PUB ( CATARINA ALVES COSTA ). PUB 2. Mas esse é o problema da televisão. Quer dizer, repara: o canal 2 foi sempre – a meu ver e eu sempre defendi isto, e sempre o escrevi teoricamente – um gueto, uma forma de fechar a gaveta à chave. A lógica da sua programação é a criação de um espaço alternativo, com outros pontos de vista, mas ao mesmo tempo a limitação da sua visibilidade, à priori, através de uma emissão num canal que até há 15 anos atrás cobria 75% do território. E isto é um exemplo bastante claro de como é que nós às vezes criamos espaços, e temos esses espaços já fechados à priori. E depois, repara, a programação de um serviço público (seja canal um, dois ou três) está sempre sujeita a uma averiguação e a uma selecção por parte de meia dúzia de pessoas que vão definir aquilo que nós vamos ver e que o organizam de uma forma sequencial. E então o filme passa hoje, e se calhar num contrato de dois anos, lá passa mais uma vez, ou então esquecem-se daquilo, perdem a cassete... E nós hoje temos um conjunto de tecnologias que permite, de facto, fugir a estes becos que de alguma forma nós validamos ao querermos “por favor” que o nosso filme lá passe, e armadilhamo-nos a nós próprios nesse tal gueto. É um bocado aquilo que eu sempre disse: o canal 2 era um espaço de liberdade criativa, ou foi-o durante algum tempo, pontualmente às vezes ainda é – depende do director ou da directora, dos pontos de vista que estão em cima da mesa – mas isso não resolve estruturalmente o problema, nem cria um espaço de sustentação ao vosso trabalho. Não cria. E portanto é preciso encontrar outras vias para tornear a questão. Porque se não, somos nós próprios que nos metemos nos guetos que os outros já criaram. Hoje qualquer pessoa pode fazer um filme do princípio ao fim, montá-lo no seu computador e pô-lo no ar ao nível de uma distribuição mundial. Isto parece-me ser uma coisa perfeitamente nova. De facto vai criar provavelmente graves problemas de subsistência económica. Talvez a questão hoje esteja em separar a vocação do rendimento. Até porque as próprias questões dos direitos de autor, e do domínio do espírito e da circulação das obras, são questões que estão também em transformação profunda. E é inevitável, vai-se deixar de viver disso. Acho que as horas poderão vir a ser pagas ao nível da produção, mas não ao nível dos direitos de autor. Porque estes vão cair, obviamente, no domínio público e ainda bem que assim é, porque os assuntos de espírito não são propriedade de ninguém, independentemente de seres tu ou eu a ter feito o vídeo: o que fizemos, fizemos para mostrar a alguém. E tudo aquilo que é feito por uma sociedade, e que é metido numa qualquer gaveta, acaba por perder o potencial de comunicação que PANORAMA ’06 | em comum 43 a priori tinha na sua essência. Sugiro, assim, que percamos um pouco a ideia de nos rentabilizarmos economicamente a partir disto, percebendo que hoje as coisas estão mais fáceis do que alguma vez estiveram. MIGUEL CLARA VASCONCELOS. Eu fiz o Documento Boxe sem orçamento, depois ganhei um prémio e isso pagou-me o filme e ainda pude fazer um DVD. Fiz 1000 exemplares desse DVD, para conseguir um preço razoável e pus à venda aqui em baixo, no Fórum Lisboa, durante o Panorama. Imediatamente me vieram dizer que eu não o podia vender porque não tinha o imposto de selo, e o DVD foi retirado. O que é que eu quero dizer com isto? É que há de facto sistemas de controlo da informação, e nós somos mansos. Muito mansos. Estamos habituados a seguir o grupo, a escondermo-nos na massa (não o spaghetti, a massa, o grupo, o grande...), e ficamos satisfeitos quando há um concurso anual do ICAM que beneficia alguns e faz sonhar muitos. Ou uma RTP que diz que tem um programa de documentário e que nós “até podemos pôr lá os nossos trabalhos, mas...”. O que eu noto é que todos os esquemas alternativos, todas as soluções alternativas normalmente morrem na praia. No meu caso morrem porque eu poucas vezes tenho apoio de outras pessoas – não digo de outras entidades institucionais, digo das pessoas mesmo, dos realizadores, das associações que juntam realizadores, que juntam produtoras para trabalhar. E eu muitas vezes sinto mais desentendimento entre as pessoas que estão próximas, do que entre aquelas que eu teoricamente combato. E digo teoricamente, porque depois na prática às vezes recebo apoios delas. As iniciativas de streaming, de canais de televisão on-line, do doc.pt de que se ouviu falar aqui há uns tempos, são boas iniciativas se as pessoas se juntarem e realmente tiverem coragem de avançar em grupo e não se guerrearem entre si. E nós, de uma forma geral... como é que eu hei-de de dizer... acho que há muito pouco sentido de comunidade, de trabalho em rede. Eu tenho lançado várias propostas para entidades de quem esperava maior colaboração, maior receptividade para projectos específicos e cai sempre tudo numa espécie de saco roto, num silêncio, um silêncio brutal e a tal nível que eu nem sei se significa que a ideia que enviei é boa e portanto é de aproveitar, ou é tão má que nem merece ser discutida. Eu lancei um e-mail que falava em conseguir apoios para equipar pequenas associações com um projector de vídeo, um equipamento de som razoável, um leitor de mini dv’s, de modo a criar salas alternativas de cinema que permitissem uma rede de distribuição e de exibição paralela às salas comerciais. Eu venho do teatro, passei bastantes anos como encenador, escritor de teatro, actor, cenografista em Portugal e em Espanha. E o teatro tem uma vantagem: é uma arte pré-industrial. Ou seja, só existe se as pessoas derem o corpo ao trabalho. No momento em que um actor adoece não há espectáculo, porque não há essa dimensão de produto acabado que há no cinema. E quando os meios de audiovisual baixaram de preço eu disse: “posso começar a fazer cinema”. Neste momento os DVD’s são baratos, as mini dv’s são baratas e é possível criar sistemas de exibição muito baratos. Mesmo sem a complexidade da internet – e chamo-lhe complexidade porque apesar de tudo a internet tem uma certa complexidade; eu estou a ver-me à rasca para fazer uma página web, por exemplo, e apesar de haver os blogs, há sempre uma certa complexidade. 44 PANORAMA ’06 | em comum Há esquemas simples, há soluções simples, mas somos muito desconfiados. Somos de natureza desconfiada. Isso é bom porque nos mantém alerta, mas prejudica-nos muito em todos os projectos colectivos. E eu noto isso. E noto isso no meu quotidiano, e noto isso aqui em Lisboa com as pessoas e com as entidades com quem eu preciso de comunicar para trabalhar. Pronto. O que eu quero dizer é o seguinte: gosto de boas intenções, gosto de boas iniciativas, mas qualquer iniciativa deve começar por um princípio muito simples que é o diálogo. E um diálogo produtivo que passa por juntar algumas pessoas – as que estão interessadas – e avançar com soluções simples, rápidas e baratas. Não esperar muito tempo, porque se esperamos muito tempo o sistema, o meio, a sociedade, as tecnologias ultrapassam-nos. Só isso. MADALENA MIRANDA. Esta mostra, este Panorama, serve também para fazer o ponto da situação, para fazer uma auto-reflexão, para nos conhecermos melhor – e desde já vos convido a estarem no debate final sobre o panorama do documentário português. Pegando na questão do colectivo, levantada pelo Miguel, e regressando à questão do tema deste bloco: é engraçado, eu acho que nos sentimos à procura dessa tal postura a ver os filmes, perguntamo-nos onde estará o realizador, se estará a favor ou contra. A questão da identificação, especialmente quando se está a trabalhar com conceitos tão fortes como por exemplo nação e bandeira, ou a utopia no filme Vila Morena, faz-me sempre pensar em como será que se filma: se será com distância, se com adesão; como é que se filma um grupo, se pertencemos, não pertencemos... VÍTOR HUGO COSTA . No meu caso, no caso dos skinheads, eu tentei ao máximo manter-me neutro. É um grupo muito fechado, eu tive apenas 15 dias para os filmar. Foi bastante difícil aproximar-me, eles conversam entre eles e às vezes quando estava a filmá-los, afastavam-se. Mas ao mesmo tempo pretendi mostrar a sua perspectiva, o seu lado, a forma como encaram o seu movimento, como acham que são vistos pela sociedade. Tentei proteger ao máximo o Raul, a personagem principal, daí filmá-lo em contraluz, filmá-lo no escuro. Ao mesmo tempo, como se trata de um movimento que não é conhecido, e as pessoas têm uma ideia completamente oposta acerca dele, eu limitei-me a fazer um exercício de propaganda. Daí que o filme não tenha um cunho muito meu, e tente simplesmente fazer passar a mensagem dele. Eu acho que tem sempre de haver um envolvimento com os personagens, se não não se põe alma na coisa. E também acho que nenhum documentário, nenhum documentarista, consegue ser completamente imparcial. Dá sempre a sua visão. Eu acho que me envolvi com cada grupo que filmei. Mas acho que acabamos sempre por puxar, mesmo que inconscientemente, nalgum sentido. NENI GLOCK . O Vila Morena foi feito a quatro mãos e num espaço muito pequeno, sendo portanto muito difícil trabalhar sem ter contacto com as pessoas. Portanto, claro que a partir do 3º dia já estava completamente envolvida, mesmo sem nunca ter frequentado aquele bar (a Alicia, pelo contrário, é uma das personagens). Uma vez a Margarida Cardoso, a nossa professora de realização, disse que quem muito ri na rodagem chora na montagem. Eu fiquei muito preocupada porque me tinha divertido imenso ALEXANDRA LOUREIRO. PANORAMA ’06 | em comum 45 a fazer o filme – foi feito com as pessoas, foi fazer a história com as pessoas. Acho que é impensável fazer um documentário sem estar a perceber a vivência que se está a filmar. É difícil, pelo menos. Eu já filmei outras coisas, e conheci coisas que nunca pensei que existissem daquela maneira simplesmente porque acompanhei as pessoas no seu percurso, e esse é um lado muito positivo do fazer documentário. É ir parar à Cova da Moura, a certa altura. (sobre a forma de trabalhar oposta a esta vale a pena ler o debate com António Borges Correia, realizador de O Lar, da edição de 2009 do PANORAMA – volume 3 desta edição) Quando eu fui filmar as pessoas do boxe nunca tinha ido assistir a um combate. E os próprios pugilistas e os treinadores, e os managers, e os adeptos, e todo o universo que vive um pouco à volta do boxe, todos me perguntavam isso: “então tu gostas de boxe?”. E eu dizia: “estou a aprender a gostar”. Mas estava no fundo a aprender a gostar das pessoas. A mim o que mais me interessa sempre são as realidades humanas, ou seja, aquilo que as pessoas têm para contar. E eu não tinha nenhum interesse particular pelo boxe mas achava e fui percebendo que ali havia histórias, casos de vida interessantes. Eu gosto muito de contar histórias, se calhar herdei um bocadinho isso do teatro. Esse prazer de contar histórias com pessoas, com actores e neste caso com pessoas que não são actores, são pessoas que contam as suas próprias histórias. E muitas das vezes não contam para mim, contam entre si. E permitem-me, autorizam-me ou desculpam-me estar lá, e estar a filmar, com uma câmara. Isto tem a ver com o pertencer durante um período, durante o período de filmagens, durante o período em que estamos em contacto com essas pessoas. Acho óbvio que não podemos ser independentes, que não podemos ser imparciais nem neutros. Temos de tomar partido. Eu pelo menos percebo de quem é que gosto, de quem é que não gosto. No início disse que o documentário é um bocadinho parecido com reportagem, mas não é reportagem e também não é ficção. E essa diferença tem a ver com isto: eu acho que um repórter finge – e acho que finge sempre – que é neutro. Finge que respeita essa imparcialidade tão apregoada pelo jornalismo. Agora, um realizador tem um ponto de vista – e para mim um realizador de documentário é um realizador de cinema. No meu caso tenho um ponto de vista muito claro: estou a contar histórias. As pessoas que aparecem no meu filme, ou nos outros filmes meus, durante aquele período fizeram aquelas coisas, disseram aquelas coisas, mas tudo isso é recortado de uma realidade muito mais complexa, e se calhar com outras variantes que nós seleccionámos e eliminámos porque não nos interessavam. Por outro lado, passado algum tempo, aquelas pessoas estão diferentes. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Há um homem curioso no meu filme. É o Casteli, que é coxo, e que tem uma linguagem um pouco grosseira. No dia em que fiz uma ante-estreia para as próprias pessoas que participavam no filme, e para as pessoas próximas, ele veio de fato e gravata, com um requinte tal que parecia ter vindo de um costureiro italiano. E fê-lo de propósito, porque eu sei que ele tinha consciência da imagem que passou no filme, e queria contrastar com ela. Quando o vi na sala, só o reconheci porque ele falou, e a voz era a mesma. E por outro lado o pugilista principal que eu sigo e, de alguma forma, por quem eu tomo partido, o Jorge Pina, ainda este Natal me mandou uma men46 PANORAMA ’06 | em comum sagem a desejar feliz Natal e bom Ano Novo e eu respondi, apesar do filme já ter sido feito há quase um ano. Ou seja, aquelas pessoas, apesar de, como vos disse, não ter particular interesse no mundo do boxe, são pessoas com quem eu estabeleci uma relação. O documentário levanta muitos problemas éticos. Durante todo o processo. Do início até ao fim. Desde o ponto em que nós decidimos trabalhar sobre algum tema, ou alguma pessoa ou alguma problemática e nos perguntamos se teremos o direito de tratar isso. Depois, quando filmamos, se temos direito de estar lá a filmar. E depois, quando montamos, se temos direito de fazer os cortes que fazemos, e no final se temos direito de mostrar essas pessoas como mostramos. Portanto, é um trabalho que exige de nós muita presença e muitas decisões. Eu acho normalíssimo tu [Vítor Hugo Costa] teres tomado partido por um ponto de vista que é o teu, mas que está reflectido em alguém que o tem mais desenvolvido e em que tu te revês. Eu revejo-me na forma de trabalhar de um pugilista, apesar de ser objector de consciência, e de ter abdicado da violência física há muitos anos. De qualquer forma quero terminar por dizer que acho óptimo que se discuta a política do documentário misturada com os conteúdos do documentário. E acho até que não se podem separar as coisas. Não se pode separar a maneira de fazer, daquilo que se faz. Eu tinha uma pergunta para as realizadoras do Ocasião. De alguma forma tomaram algum partido na escolha das pessoas, e na forma como as filmaram e depois montaram? É que a sensação que eu tenho é que vocês não fizeram nenhum juízo de valor – estou já a antecipar uma resposta possível. A minha visão foi a de que vocês deixaram todo o juízo de valor para o espectador, não tomaram nenhuma decisão acerca de nada. E portanto, mostram. Mas tenho essa dúvida: se essa minha percepção estará correcta. Noutros filmes que eu vejo, noto que há um julgamento, há uma linha, há uma intenção, escondida ou não escondida, mais clara ou menos clara. No vosso não acho que haja. E sinto isso como uma grande vitória do vosso filme. Conseguir não rir da vossa matéria-prima. É uma coisa que me irrita, sobretudo no documentário, o realizador, ou o filme rir-se da sua matéria-prima. Acho que é uma desonestidade terrível. PUB ( PEDRO GIL ). Sim, nós mostramos e mostramos numa determinada ordem. Ali já está uma espécie de casting. E portanto, isso já pressupõe determinadas escolhas. É verdade que nos colocamos um bocadinho de fora, mas... quer dizer, para mostrarmos as pessoas daquela forma foi preciso um grande envolvimento... CLÁUDIA ALVES . RITA BRÁS. Bom... eu acho que já na própria montagem, como a Cláudia estava a dizer, na escolha da ordem dos episódios, há uma interpretação moral inerente. Mas o que nós quisemos foi de facto revelar, e dar pistas, para que o espectador depois pudesse fazer esse juízo. Mas quisemos fazê-lo de uma forma mais eficaz, nesse sentido. De facto parece que a certa altura colocamos ali os personagens lado a lado, em fileira, sem mais nada. Nós pensámos imensas vezes na ordem, na tensão, na evolução que CLÁUDIA ALVES . PANORAMA ’06 | em comum 47 queríamos criar com essa ordem. Nós escondíamo-nos, e quase nem se ouve a nossa voz (ouve-se uma vez). Mesmo a nossa maneira de estar no filme é muito diluída, mantém a distância. De que forma é que nós nos revelamos naquelas personagens? A certa altura aquilo parece um conjunto de cromos, não é? Há ali uma (alguém dizia, e nós também dizemos na sinopse) alienação. Revemo-nos um bocadinho nessa alienação. Não que sejamos alienadas, mas por nos perguntarmos o que é que nos move, que motor... e isso está muito espelhado naquelas personagens. É visível o que move aquelas pessoas. 48 PANORAMA ’06 | em comum debate DA MEMÓRIA a dificuldade de olhar para um passado demasiado próximo PROGRAMAÇÃO: Antes e Depois do Adeus | António José de Almeida [ 53’ ] Duas Histórias de Prisão | Ginette Lavigne [ 92’] Pró Memória – A Arte da Memória | Tiago Pereira, Raquel Castro [ 60’ ] No Jardim do Mundo | Maya Rosa [ 65’] CONVIDADA: Irene Pimentel (historiadora) MODERADO POR: Madalena Miranda 30.Janeiro.2006 PANORAMA ’06 | da memória 49 50 PANORAMA ’06 | abc E poderíamos voltar, mais uma vez e insistentemente, a Roland Barthes e ao que diz sobre as várias visões em confronto na imagem fotográfica. Ou lembrar o Um, Ninguém, Cem Mil de Luigi Pirandello, onde um personagem de repente descobre, ao ver-se ao espelho, que tem o nariz maior do que pensava, e isso provoca a descoberta de que a sua identidade é uma combinação da visão flutuante que tem de si próprio, das múltiplas visões que os outros (porque vários) têm de si, de nenhuma visão, no final, a não ser uma perdida, alterável e difícil de agarrar. Ou ainda, como diz Irene Pimentel, ao comentar a entrada de um dos filmes vistos no bloco, o Duas Histórias de Prisão: “o que nós vivemos não é a mesma coisa que as outras pessoas vêem sobre o que nós vivemos. É um bocado como quando nos olhamos ao espelho e estamos sempre à procura do que é que o outro estará a ver de nós. Um filme, um documentário também opera esse tipo de distanciação (como dizia o Brecht), que nos permite, também a nós que vivemos aquelas situações, ter uma posição crítica em relação ao que estamos a ver”. Quando estamos perante uma imagem, mesmo tendo estado presentes naquilo que essa imagem retrata, estamos exteriores, numa posição equivalente àqueles que não a viveram. E podemos olhar para isso da mesma forma crítica e friamente distanciada. Irene Pimentel, de uma forma muito sintética, consegue desde logo transmitir esta ideia quando diz que os documentários “não são sobre o 25 de Abril, são sobre a forma como as pessoas recordam o 25 de Abril”. Será que um documentário é alguma vez mais do que “sobre a memória de”? O cinema permite um olhar crítico e distanciado, mesmo em relação aos acontecimentos vividos por nós próprios. Será alguma vez sobre alguma coisa que não sobre essa distância crítica? Opera uma espécie de efeito de “distanciação”, o tal conceito de Bertold Brecht, citado por Irene Pimentel... “Chegamos assim a um dos elementos essenciais do teatro épico, àquilo que é costume chamar de efeito de distanciação. Para ser breve, trata-se aqui de uma técnica que permite dar aos processos a serem representados o poder de colocar homens em conflito com outros homens, proporcionar o andamento de factos insólitos, de factos que necessitam de uma explicação, que não são evidentes, que não são simplesmente naturais. O objectivo deste efeito é fornecer ao espectador a possibilidade de exercer uma crítica fecunda, colocando-se do lado de fora da cena para que adquira um ponto de vista social.” A partir de um exemplo corriqueiro, daquilo que Brecht chama uma cena de teatro de rua, define-se ainda mais exactamente o conceito. O exemplo: “a testemunha ocular de um acidente mostra, com a gestualidade adequada, como as coisas se passaram às pessoas agrupadas. Essas pessoas podem não ter visto nada, ou simplesmente não ter a mesma opinião da testemunha, ver o acidente «de outro modo»; o essencial é que o demonstrador exiba o comportamento do condutor, ou da vítima, ou de um e do outro, de tal modo que a assistência possa formar uma opinião sobre esse acidente... O aspecto decisivo é que na nossa cena de rua, uma das características maiores do teatro tradicional está ausente: o preparar da ilusão. A apresentação do nosso demonstrador tem o carácter de uma repetição: o acontecimento já se produziu, o que tem agora lugar é a sua repetição. Que a cena de teatro siga, neste ponto, a cena de rua e o teatro não esconderá mais que é teatro, assim como a demonstração na esquina da rua não esconde que é demonstração (não se apresenta como acontecimento). O facto de a intriga ter sido repetida e o texto decorado, todo o aparelho teatral e toda a preparação, tudo isso aparece à luz.” [excertos retirados de uma compilação editada pela Fundação Calouste Gulbenkian: Estética Teatral – Textos de Platão a Brecht, e compilada por Monique Borie, Martine de Rougemont, Jacques Scherer]. E à luz de Brecht podíamos ler todo o documentário, e não só a questão precisa levantada PANORAMA ’06 | da memória 51 neste debate “Da Memória”, que aliás é só por si uma questão desde logo geral, e intimamente relacionada com o processo de criação documental, enquanto cinema oposto ao cinema da ilusão (definido por João Mário Grilo). É por aqui que se move o debate “Da Memória”. Pela confrontação de visões provocada pelo cinema, pelas características pouco rígidas, desfocadas das memórias sem registo. E da importância desse olhar crítico, dessa distância que o cinema permite, mesmo em relação a acontecimentos traumáticos – e o mais falado aqui será o caso da Guerra Colonial, e a ausência de trabalho cinematográfico sobre esse passado ainda demasiado e dolorosamente recente. No debate que se segue estiveram presentes apenas dois convidados: o realizador de um dos filmes, Tiago Pereira; e a historiadora Irene Pimentel. E a conversa correu, informalmente, por estas e outras temáticas. TIAGO PEREIRA [PRÓ MEMÓRIA...]. Este trabalho visa criar uma ponte entre gerações. Agarrámos nas crianças das escolas primárias das aldeias, em várias regiões do país, e arranjámos um objecto, ou um sistema qualquer, que se relacionasse com a cultura específica da região onde estávamos a trabalhar, criado para pôr essas crianças a interagir com as pessoas mais velhas. O objectivo era que, a partir de um objecto muito concreto, as crianças provocassem a sua própria imaginação e criassem histórias, e que a partir daí conseguissem construir uma ponte que tende a desaparecer, cada vez mais. Esse objecto encontrado de forma criativa, torna-se, dessa forma, fio condutor narrativo. Por exemplo, o primeiro vídeo foi feito em Mogadouro, em Trás-os-Montes, e aí inventou-se um microfone de borracha que permitia pôr as crianças a perguntarem coisas às pessoas, na rua. Depois cria-se toda uma história à volta disso: nesse primeiro episódio os miúdos andavam à procura de uma música de embalar de que se lembravam, e que era a única pista para desvendar o caso dum roubo de vacas. O Arte da memória foi feito no concelho de Ovar, onde as crianças criaram uma espécie de arte marcial que convocava a memória a partir de um movimento das mãos. Era uma espécie de arte da memória, uma espécie de Tai-Chin ou uma meditação que fazia com que as pessoas falassem. Depois, o projecto continuou em Famalicão, onde foi inventada uma máquina do tempo, que era uma espécie de cyborg onde as crianças metiam a cabeça para viajar no tempo e, mais uma vez, fazerem perguntas aos mais velhos. Por último, fomos até Leiria e fizemos um vídeo para o Museu da Imagem em Movimento. As crianças tinham uma câmara super 8 e aí filmavam mesmo as pessoas. Eu vi o filme que se passava no Mogadouro, e achei muito interessante, especialmente porque esse aspecto intergeracional me parece fundamental. Os outros três documentários, são, não exactamente sobre o 25 de Abril, ou o período anterior ao 25 de Abril, mas sobre a forma como as pessoas recordam esse período. O único filme com imagens anteriores ao 25 de Abril é o Duas Histórias de Prisão, e é muito curioso ele começar exactamente com a saída de Caxias, e que a história das duas mulheres parta daí, dessa memória convocada por aquelas imagens. Aliás, o Bénard da Costa também está nesse início e ele diz uma coisa muito interessante: que provavelmente o que temos do 25 de Abril é uma imagem completamente fabricada. IRENE PIMENTEL. 52 PANORAMA ’06 | da memória Eu vivi tudo aquilo. Vivi, por exemplo, a saída de Caxias – do lado de fora – e já tinha visto várias vezes aquele filme com a saída dos presos filmada do lado de dentro. E de facto esse filme coloca uma questão: a partir do momento em que o vemos, é aquela imagem que guia a nossa visão. E as próprias Diana Adringa e Maria José Campos, que estiveram presas, se tornaram ali espectadoras. De repente aquilo já não tinha a ver com a vida delas. E entretanto nós não somos apenas espectadores daquela imagem, mas também da entrevista, e isso torna-se a própria razão de ser do documentário e da memória. Também achei muito interessante o filme Antes e Depois do Adeus. E o que achei especialmente interessante (mas isto é muito pessoal) foram as figuras desconhecidas. O filme centra-se em entrevistas feitas a pessoas conhecidas (Amaral Dias, António Pedro Vasconcelos, Ana Salazar...), e depois aparecem, no meio destas, duas figuras extraordinariamente contraditórias: a senhora que vivia em Vilarinho das Furnas, e um senhor que vivia em Santa Comba Dão. Pergunta-se que vantagens retiraram do 25 de Abril, e a primeira senhora acaba a dizer que “no tempo de Salazar é que era bom”. E o senhor de Santa Comba Dão, por seu lado, com uma enorme autocrítica, conta como na altura do Fascismo tinha uma máquina e fazia cinema ambulante, e colaborava com a censura colocando a mão à frente do projector quando aparecia uma cena que ele considerava que as pessoas não deviam ver, por ser demasiado erótica, por exemplo. Acaba por dizer também que “no tempo do Salazar é que era bom” mas ao mesmo tempo oferece à filha uma medalha com as bandeirazinhas de todos os partidos, das primeiras eleições da Democracia. E quando ele oferece essa medalha à filha, esta continua a conversa fazendo uma espécie de balanço em que afirma estar contente de viver em Democracia e no Portugal de hoje. E neste filme a questão geracional é muito interessante, e está muito relacionada com a origem das pessoas. À filha do Rosado Fernandes o que lhe apetece é sair do país, está farta de Portugal. A filha do António Pedro Vasconcelos, que é ligeiramente mais velha, tem pena de não ter vivido o período dos ideais que os pais viveram. E por aí fora. Mas em todos os discursos aparece a palavra “liberdade”, e a ideia de que esta vem acompanhada dos seus limites. O pastor, por exemplo, diz: “liberdade, sim, mas agora também é demais”. O António Pedro Vasconcelos diz: “liberdade, direitos, mas também há deveres”. E, voltando ao Duas Histórias de Prisão, é curiosa a forma como a Diana Adringa e a Maria José Campos acabam por dizer que há um espaço de liberdade dentro da cadeia. Ambas descrevem que, passado aquele terrível período de isolamento, e dos interrogatórios, quando vão para a cela com outras mulheres, a vida na prisão torna-se uma espécie de aprendizagem e de conhecimento de um novo mundo. A Maria José Campos diz mesmo que quando sai da cadeia vai a chorar, e que a família não a entende. Ela aprendeu o espaço da liberdade dentro da prisão, e isto é uma coisa perversa, em relação à repressão e à PIDE. Fiz algumas entrevistas onde recolhi exactamente o mesmo tipo de testemunhos, por exemplo em Peniche, com pessoas (jovens, na altura) a dizerem-me que Peniche tinha sido óptimo porque começaram a ler livros policiais, do Chandler, ou de outros a que não tinham acesso. Há toda uma cultura prisional, a troca de experiências criava uma intergeracionalidade naquele espaço muito pequeno (estou obviamente a relativizar as coisas, a mostrar uma outra forma de colocar estas questões...). PANORAMA ’06 | da memória 53 Lembro-me depois de uma outra coisa terrível dita pela Diana Adringa. Conta que lhe tiraram os óculos na prisão, e a certa altura olha-se ao espelho, vê tudo muito deformado, e, como ela diz, vê a imagem que as pessoas têm dela. E o que ela vê é uma imagem de ódio, “um concentrado de ódio”. E demorou bastante tempo até que essa memória má, traumática, desaparecesse... Passo agora para aquele filme que achei lindíssimo, o Jardim do Mundo. É um filme que, pelas pessoas que escolheu, pela poesia e inteligência que há no que é dito, consegue fazer-nos imaginar o que está a ser descrito só por palavras, isto é, o que foi aquela terra antes do 25 de Abril. O que foi o Alentejo da miséria, da repressão, da pobreza. Há frases extraordinárias também neste filme. Um homem que diz a certa altura como é importante “para o povo” as pessoas andarem todas calçadas e vestidas, coisa que ele não teve. No fim há pessoas novas que se queixam, e que dizem que “isto está muito pior do que dantes”, “como é que se pode viver com 60 contos, e a Segurança Social...” perante o que os mais velhos se indignam, porque as pessoas se esquecem de que nem sequer havia Segurança Social, como é dito no filme. Não havia horário de trabalho para os camponeses, não havia férias, não havia nada disso. Pelo seu lado, o seu filme, no Mogadouro (não foi o que passou aqui), fez-me lembrar, a um certo nível, o Zeca Afonso. Porquê? Talvez por um certo surrealismo popular que a música do Zeca Afonso tem, e que se aproxima do que de certa forma se passa ali. Tem muito a ver com uma mistura de ficção científica... TIAGO PEREIRA. O António Quadros, ou... Sim, António Quadros, ficção científica, a própria forma como as coisas são filmadas. E depois há uma coisa que eu achei extraordinária nesse filme: o ambiente. Acho que conseguiram dar-nos o ambiente através do som. Eu sou completamente urbana, mas imagino que para alguém do espaço rural, ou alguém daquela zona, a forma como vocês conseguiram dar o ambiente deve fazer com que a sua memória volte atrás. É a história do Proust, da Madalena a comer o bolo, e de repente aparecer toda uma cena que tínhamos esquecido. Vocês conseguiram inclusive dar cheiros. IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. Em relação à construção da memória, o que eu senti à medida que fomos fazendo os filmes é que muito depressa aquelas crianças se viravam para as histórias dos avós, contactando dessa forma com uma realidade que não tinham vivido. Isso é que é a memória. Quer dizer, comparar é o fundamental. Mas demora tempo... Podemos falar da ditadura, da ausência da liberdade, da miséria, mas houve qualquer coisa que permaneceu: a questão do analfabetismo. IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. E da informação. E também a própria formação. Aliás, há aquela célebre frase: “o que é preciso é que se leia o mínimo, que se faça o mínimo das contas...” IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. Não se queria que as pessoas pensassem. Se as pessoas pensassem questionavam, e questionar era mau para a ditadura. Liberdade é poder pensar, poder elaborar um raciocínio. E a memória é fundamental nesse processo. 54 PANORAMA ’06 | da memória IRENE PIMENTEL. Sim, um povo sem memória, constrói o quê a partir do quê? TIAGO PEREIRA. E eu acho que é bom passar-se isso para as novas gerações. A importância da recolha. A importância de perguntar, a importância de ser curioso. No fundo estamos a falar das pessoas aprenderem a ser curiosas. Com um passado recente tão forte, com apenas 30 anos passados sobre uma revolução que representou uma transição tão radical, como é que vocês vêem o trabalho do cinema, e o que tem sido feito a esse nível sobre a memória? MADALENA MIRANDA . TIAGO PEREIRA. Isso é uma pergunta complicada. É muito complicada. Não posso dizer que esteja muito, muito atenta e não conheço tudo o que tem sido feito. Agora, achei muito curioso haver aqui logo quatro filmes sobre este tema. Claro que isto está concentrado, foi sendo feito ao longo de uns tempos. Mas eu acho que não há suficientes filmes sobre a memória. Acho que curiosamente há uma geração, talvez a das pessoas que têm agora 30 anos, e que penso ser a sua idade também... IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. Tenho 33. IRENE PIMENTEL. Acho que a vossa geração está bastante interessada neste tema. TIAGO PEREIRA. Porque eu acho que o trabalho ainda não está feito a esse nível. Por exemplo, a Guerra Colonial: ainda não vimos nenhum filme em que as pessoas tivessem oportunidade para dizer... E qualquer dia as pessoas que estiveram na Guerra já não existem. IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. Vocês têm que ir a tempo, em relação a isso. Pois, eu sei, é um assunto que de facto me preocupa. Mas a Guerra Colonial é uma questão muito traumática, e é por isso mesmo que demora mais tempo até se conseguir tratar. Como a PIDE, que também foi uma questão traumática. IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. E mesmo o que se seguiu, as FP’s, os PRP’s, todas essas questões. Ainda não foi feita a História de tudo isso. IRENE PIMENTEL. Não, não. Isso é o que o Bénard da Costa diz: onde é que estarão essas pessoas hoje? E se é preciso saber não é por uma questão moral... TIAGO PEREIRA. Não, é para contar a História. Curiosamente eu acho que a PIDE já está mais tratada. A minha tese é sobre a PIDE e eu parti para ela com a ideia de que era uma memória muito traumática. Mas não, acho que é mais apaziguada. Porque o próprio 25 de Abril, ao fazer aquela ruptura... IRENE PIMENTEL. TIAGO PEREIRA. Sim, cortou. PANORAMA ’06 | da memória 55 IRENE PIMENTEL. E ao cortar, ao dizer que tinha sido mau, e ao sublinhar que não queremos que se repita, transformou essa ideia em senso comum, de alguma forma. Ora, pelo contrário, a Guerra Colonial, e as pessoas, os homens sobretudo, que participaram na Guerra, tiveram que matar, e viveram situações muito complicadas, ficaram com memórias muito mais traumáticas. Há muitas pessoas que ainda têm o trauma da Guerra Colonial e isso não permite de facto uma memória apaziguada. MADALENA MIRANDA . É interessante ser a geração que não viveu que vai à procura, e tenta tratar essa memória. Eu acho que é isso, de facto, que está a acontecer. E acho que os realizadores presentes (e não presentes aqui no debate) revelam que há uma vontade de tentar olhar para essa memória. E por um lado é mais no documentário que estas reconstituições do colectivo se fazem, mas penso que também é interessante – e é bom pensarmos nisso – que na ficção nunca tenha aparecido isto, sendo uma história com tantos ingredientes narrativos de sucesso. Sem falar do extremo que são os Estados Unidos, pela forma como encontram a resolução para as suas Guerras e a sua História através do cinema, nós nunca, de nenhuma forma, sequer nos aproximámos desse fenómeno. TIAGO PEREIRA. A Irene estava a dizer há pouco que a filha do António Pedro Vasconcelos tinha pena de não ter vivido aquele período a seguir ao 25 de Abril. E é por isso também que eu tenho necessidade de ir à procura, de perceber o que foi. Quer dizer, eu tinha dois anos no 25 de Abril, para mim o PREC foi debaixo das mesas dos restaurantes onde o meu pai ia... IRENE PIMENTEL. ...depois das manifestações. Exacto. Queria perceber qual foi o sentido de tudo aquilo, de perceber o que foi para as pessoas. Porque agora isso não é perceptível. Essa devolução ainda não nos foi feita, a nós que não vivemos o período. TIAGO PEREIRA. IRENE PIMENTEL. Não foi, não. E isso é muito importante para quem viveu o período também, sabe? Aliás, repare naquilo que eu disse há pouco, sobre a Diana Adringa e a Maria José Campos: eu acho que elas revisitaram o momento ao verem aquelas imagens, mas também, provavelmente, têm uma outra imagem sobre os acontecimentos. Porque o que nós vivemos não é a mesma coisa que as outras pessoas vêem sobre o que nós vivemos. É um bocado como quando nos olhamos ao espelho e estamos sempre à procura do que é que o outro estará a ver de nós. Um filme, um documentário também opera esse tipo de distanciação (como dizia o Brecht), que nos permite, também a nós que vivemos aquelas situações, ter uma posição crítica em relação ao que estamos a ver. Começo por saudar vivamente esta iniciativa da Videoteca e da Apordoc, porque está aqui um bom exercício de reconstituição de memória colectiva, que é obviamente importante. É com estes eventos que se cimenta de facto a construção dessa memória. E não é de somenos importância, porque até metade do século passado nós tivemos uma memória colectiva essencialmente literária, e de metade do século passado para cá temos uma memória colectiva – quando a temos – essencialmente audiovisual. PUB ( VÍTOR REIA- BAPTISTA ). 56 PANORAMA ’06 | da memória Agora, o que não é bem verdade é que essa memória colectiva audiovisual não exista. Não existem objectos em número suficiente para nós sermos letrados nessa memória, tanto quanto, por exemplo, como vocês dizem, os norte-americanos são no que diz respeito à sua memória colectiva, porque produzem esses exercícios de memória que nós não produzimos em número suficiente, e quando produzimos eles não têm sequer o mesmo poder mediático: mas fazemos alguns. Agora, é preciso que associações como as vossas, a Videoteca, a Apordoc, os vão repescar, porque eles estão essencialmente em dois sítios de forma perfeitamente atroz, abandonados, e sem se saber muito bem em que estado: o acervo da Cinemateca, e o acervo da RTP, que deveriam ser considerados património público. Aliás, são património público, mas não são de acesso público. E a este nível os historiadores têm um papel importante a fazer. Não sei se sabem, mas se alguém, mesmo um investigador, quiser ir à RTP consultar material de arquivo paga um dinheirão... IRENE PIMENTEL. Um montante impossível. E portanto, há um papel cívico a fazer. Porque de facto há milhares e milhares e milhares de negativos (o positivo já não tenho tanta a certeza, porque como sabem as cópias em 35mm e em 16mm gastam-se ao fim de não sei quantas exibições), são aos largos milhares de metros que estão filmados e que eram preservados na Tóbis, e que depois devem ter passado para a Cinemateca. E portanto, tudo o que se passou desde o 25 de Abril até cerca do final dos anos 70, aqueles cinco/seis anos, estão perfeitamente documentados ainda que não de forma completamente articulada. E é preciso fazer esse trabalho. É preciso acabar com a sensação de que não existem essas coisas. Ou seja, o facto das gerações mais novas não terem ideia, em certos casos, do que foi o 25 de Abril ou outra coisa qualquer, assenta essencialmente na fraquíssima exibição destes momentos. E no entanto eles existem ainda que não no número que se calhar nós gostaríamos. PUB (VÍTOR REIA-BAPTISTA). Sim, eles existem mas é preciso fazer alguma coisa com eles. Acho que é preciso repensar o trabalho dos Museus e dos Arquivos. TIAGO PEREIRA. E há ainda o problema da preservação: as peças dos Museus – – cerâmicas, etc. – perduram durante milhares de anos, o filme não perdura se não for preservado. E especialmente o vídeo. O grande drama do suporte vídeo é que se não for feita uma passagem para um outro suporte mais actual ele perde-se, pura e simplesmente. Desaparece. O 35mm ainda se vai mantendo... E portanto as coisas têm que ser feitas de forma mais urgente, a este nível, se calhar. PUB ( VÍTOR REIA- BAPTISTA ). IRENE PIMENTEL. Acho muito importante o que disse. Por exemplo, ao nível da História, não é que tenha havido propriamente uma movimentação muito grande, mas houve alguma, a favor da abertura dos arquivos da PIDE, que hoje em dia estão completamente abertos. E é dos arquivos de uma antiga polícia política, a nível europeu, que está mais acessível. É importante que as recolhas e todos esses arquivos se tornem de acesso público, para que alguém possa remisturá-los e vê-los de outra forma, de uma forma contemporânea. TIAGO PEREIRA. PANORAMA ’06 | da memória 57 É absolutamente verdade. E também é importante fazer uma outra coisa que essa nós não fizemos, de facto. Temos uma idiossincrasia audiovisual muito específica, uma determinada cultura muito formatada à imagem da nouvelle vague francesa, e isso perdura ainda hoje. Nós nunca fizemos o nosso Apocalypse Now sobre a Guerra Colonial. Esse filme junta uma série de elementos da cultura geracional americana daqueles anos, a qual foi possível transpor para todo um outro conjunto de gerações. Esse trabalho nós não fizemos, e aliás eu acho que a nossa geração aí foi perfeitamente incapaz de ultrapassar as suas limitações. PUB ( VÍTOR REIA- BAPTISTA ). Mas se calhar é sempre assim, sabe. Em relação à França, só para lhe dar um exemplo, a História do regime de Vichy, que é muito estudado (aliás, há um livro que se chama o Síndroma de Vichy), só começou a ser feita pelas gerações dos netos. E mais: antes dos franceses, foi um americano o primeiro a fazê-lo. IRENE PIMENTEL. PUB (VÍTOR REIA-BAPTISTA). Eu penso que o nosso é mesmo um caso de formatação cultural. A nossa geração foi essencialmente francófona, e completamente formatada a uma determinada maneira de equacionar as questões culturais. E isso perdura na geração que viveu os acontecimentos, mas também nas gerações que nós formámos. As gerações de cineastas só agora é que começam a libertar-se da escola de professores nouvelle vague que dominaram a Escola de Cinema... Os filmes que se fazem em Portugal, são todos o mesmo filme porque vêm todos da mesma escola. MADALENA MIRANDA. Ainda não fizemos esse trabalho, e a nossa geração de cineastas, que viveu esses tempos, também não fez. Talvez não se tenha conseguido confrontar com isso, se calhar as suas preocupações sempre foram desviadas ou recolocadas noutro sítio. Num texto sobre o documentarismo português, o José Manuel Costa diz que as coisas são vividas um pouco como o 25 de Abril: juntam-se umas pessoas, vão para a rua filmar, apanham-se umas imagens porque é a revolução, e porque “oh pá, isto é muito bonito”, mas depois o outro trabalho, o trabalho de começar a ganhar distância, de começar a ganhar olhar, acaba por se perder. É o caso de um realizador como o Rui Simões, que se distancia dessas questões, e as suas preocupações passam a ser outras. Ou como o Seixas Santos que faz o Brandos Costumes e depois o seu percurso também não segue nessa direcção. Se calhar está a viver outras coisas, e estas não fazem parte daquelas sobre as quais queria reflectir. E talvez seja isto que o Tiago está a dizer, se calhar é preciso agora outra geração... Acho que em Portugal as pessoas são muito agarradas às coisas. Nunca se deve parar de fazer recolhas etnográficas, mas elas têm de se tornar públicas. E não é pôr num Museu para ninguém ver, porque aí não há oportunidade da geração seguinte poder reconstruir essas recolhas e fazer outro trabalho diferente com elas, e ramificar essas recolhas para outros temas. É preciso criar essa noção de que não devemos ser agarrados aos nossos pequenos espólios. Os espólios devem ser globais. TIAGO PEREIRA. 58 PANORAMA ’06 | da memória debate DA CIDADE filmar e intervir? PROGRAMAÇÃO: O Jardim | Gonçalo Palma [ 13’] Príncipe Real | Maria Aurindo, Paula Alves, Sónia Ferreira, Tânia David [ 12’] Lisboa Imaginada | Marta Rosa, Maria Carita [ 22’] Feira da Ladra | Cláudia Silvestre, Sílvia H. [ 20’] Cidade Só | Ana Margarida Penedo, Cecília Dionísio [ 22’] A Guerra dos Anjos | Ossanda Líber [ 35’] Palco Oriental | Maria Antunes, Miguel Vasconcelos [ 25’] A Praça | Luís Alves de Matos [ 60’] CONVIDADOS: Graça Cordeiro (antropóloga) e José Sá Fernandes (advogado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa) MODERADO POR: Fernando Carrilho 30.Janeiro.2006 PANORAMA ’06 | da cidade 59 60 PANORAMA ’06 | abc Tentar compreender criticamente, como se viu e comentou em relação à memória, não é o único elemento de acção interventiva observável no seio do cinema documental. A história do género, aliás, é feita de contactos permanentes com o poder ou com movimentos de resistência a esse poder, servindo muitas vezes de instrumentos de denúncia, acção sobre uma situação, material para a acção crítica do seu público. É até, a este nível, um elemento nivelador, tendo sido igualmente utilizado por estados, patrões e operários. São conhecidos os exemplos de Leni Riefenstahl e os seus filmes de propaganda Nazi, ou o desejo de Estaline controlar o conteúdo do documentário fazendo-o coincidir com objectivos políticos, ou os investimentos do Estado americano durante a II Guerra Mundial em filmes que vendessem a guerra aos seus soldados. Mas o género é também (e talvez especialmente) feito de histórias no negativo destas. John Grierson, considerado um dos pais do documentário, nos anos 30, foi um dos cineastas que mais sublinhou a potencialidade de alterar uma realidade social patente no género documental. Os seus filmes eram construídos de forma didáctica (recorrendo, por exemplo, à voz-off), e tentavam apresentar outras leituras da realidade, diferentes daquelas perpetuadas pela escola, o Estado, e a Igreja. Grierson desejava que o documentário acordasse a consciência política dos seus espectadores, contruindo os seus filmes como uma espécie de contra-propaganda. Em 1960, novo impulso animou o documentário, com diferentes pontos de explosão activista consoante os países onde estas se deram (explosão esta iminentemente ligada ao aumento da portabilidade dos equipamentos). Nos EUA, os cineastas tornaram-se observadores, e nasceu o “cinema directo” (de que é exemplo máximo Frederick Wiseman) que deixava à vista a ambiguidade das situações (sociais, políticas) que tratava, olhando, maioritariamente, para objectos de outra forma invisíveis. Quando a Instituição de Psiquiatria Criminal de Massachusetts onde o advogado tornado cineasta Wiseman fez o seu primeiro filme, Titticut Follies, tentou impedir que este fosse visto, o cineasta argumentou que já que as instituições estatais recebiam dinheiro dos contribuintes para sobreviveram, então estes tinham direito a ver o que acontecia ao seu dinheiro. É esta a forma de intervenção que toma o lugar do documentário pedagógico dos anos 30: o ‘dar a ver’. Em França, por seu lado, nasce pela mesma altura o “cinema verdade”, um cinema que punha à vista o seu próprio mecanismo de construção (e talvez o exemplo mais claro, ou pelo menos o primeiro, deste cinema seja o Chronique d’un Été de Edgar Morin e Jean Rouch). Partindo do pressuposto de que a verdade não é directamente acessível, que só transcrita se torna visível, e que cada operação cinematográfica (movimento de câmara, montagem, enquadramento) é manipulação, o “cinema vérité” diz que a função do cineasta é deixar que o espectador veja esta manipulação, e perceba que o que vê é parcial e mediado. Por volta dos anos 70 a tecnologia vídeo permitiu uma acessibilidade aos meios cinematográficos, e aqueles que habitavam as margens começaram a fazer filmes. Nasce a “televisão guerrilha”, a televisão usada como janela para aqueles que queriam ter e dar voz à contestação. E da voz-off dos anos 30, passa-se por esta altura para a entrevista e depoimento directo para a câmara, acto de dar voz aos esquecidos, aos ignorados. Do narrador manipulador, passa-se para os objectos que falam por si. Este documentário era, contudo, pouco acessível ao público cinéfilo, dirigindo-se maioritariamente aos grupos que o faziam ou que estes queriam atingir. O terceiro impulso do documentário activista e interventivo, preparado pelo anterior, que o re-aproxima do público de cinema, deu-se por volta dos anos 80 e caracteriza-se por um “estar com”: o cineasta acompanha os objectos e as lutas que trata, caracterizando as suas PANORAMA ’06 | da cidade 61 fases, retratando os seus intervenientes. Por esta altura um documentário activista é aquele que toma partido, acompanha, tendencioso, um lado da questão. Torna-se, de alguma forma, interventivo: se um filme activista é aquele que deixa a descoberto as intenções do realizador e as suas tendências ideológicas (anteriores ao acto de realização em si), ou que no seu conteúdo alimenta uma discussão política ou moral; um filme de intervenção é aquele que não observa, mas faz parte e age num acontecimento. [Serviu de fonte para esta pequeníssima e incompleta história a Encyclopedia of the documentary, editada por Ian Aitken]. Ao longo deste debate sentem-se, em momentos dispersos e pouco desenvolvidos, ecos desta história e desta ligação entre cinema documental e intervenção política. Num dos debates da edição de 2009, aquele que juntou os criadores de Bab Sebta e do Via de Acesso, faz-se uma distinção muito sagaz entre cinema activista e interventivo, que completa de forma perfeita a temática introduzida, ao de leve, por este debate e continuado no que se lhe segue, “A Fazer”. [vale a pena, por isto, consultar este debate no 3.º volume da presente edição]. Na nossa programação criámos, a partir dos filmes inscritos, o bloco “Da Terra” e vamos ter no próximo fim-de-semana o bloco “Do Sair”. Achamos que existe da parte dos realizadores uma vontade de sair dos meios urbanos. No sábado passado discutimos essa vontade, esse regresso à origem, a vontade de rumar direito ao campo. E vamos, no próximo sábado, falar ”Do Sair”, ou seja, da vontade que os cineastas têm de ir buscar outras realidades, a outros países. Esta rubrica, “Da Cidade”, por seu lado, mostra, no movimento contrário das que referi, uma vontade de olhar o que está mais próximo, a realidade que nos circunda. Queria salientar o facto de nesta secção apenas dois documentários – que é o caso da Praça e do documentário Guerra dos Anjos, da Ossanda – não serem filmes de escola. E de todos estes documentários, curiosamente, se dedicarem à análise da cidade de Lisboa, e não outra. Começo por pedir que façam uma apresentação dos filmes. Mais concretamente, que falem um pouco daquilo que vos motivou para a sua realização. FERNANDO CARRILHO. CECÍLIA DIONÍSIO [ CIDADE SÓ ]. O exercício, ou o filme Cidade Só, foi feito por mim e pela Margarida, e a intenção por detrás dele não se concretizou a 100% no resultado final. O objectivo inicial era abordar o contraste da cidade, através da questão da solidão das pessoas idosas. E esse contraste seria construído focando um dos recursos que tenta combater essa mesma solidão: o voluntariado. Mas a solidão acabou por ser mais forte, os voluntários desapareceram, e o filme centrou-se muito mais no contraste entre a cidade movimentada, a cidade frenética, e a solidão de uma pessoa que vive sozinha. Talvez tenha ganho com isso. ANA MARGARIDA PENEDO. Acrescento que o trabalho teve o enquadramento do Curso de Documentário da Videoteca, e o objectivo era também pôr em prática o que aprendemos aí. É por isso que se diz que é um exercício. Eu e o Miguel Vasconcelos já tínhamos alguma proximidade com a questão da Associação Cultural Palco Oriental, e tivemos vontade de fazer alguma coisa por eles. É uma obra feita há muitos anos, e não tem, para nós, razão de ser deixar de existir apenas por se tratar de um imóvel da Igreja, que por sua vez não sabe muito bem para que quer o edifício, sabe apenas que o quer. Suspeitamos que existem interesses imobiliários por trás MARIA ANTUNES [PALCO ORIENTAL]. 62 PANORAMA ’06 | da cidade daquela questão jurídica, que fazem com que a Igreja queira recuperar o espaço tão de repente. Foi para isto que quisemos chamar a atenção, com este trabalho. Quando chegámos ao Beato, encontrámos um bairro completamente abandonado, destroçado, envelhecido, e as pessoas, quando fomos falar com elas, serviram-se um pouco do Palco Oriental como cavalo de batalha, aproveitando-se dele para falar das suas questões, do sentirem-se abandonadas, esquecidas, e do facto de saberem que há um projecto de reconstrução para o que está à direita e à esquerda do Beato, e o bairro continuar ali entalado no meio, sem ninguém que queira fazer alguma coisa com ele. Foi esta a nossa motivação. Bom, eu vivo nos Anjos, na Antero de Quental, não sei se conhecem, é uma das perpendiculares à Almirante Reis. Estou lá há cerca de dois anos, e ando de carro, portanto não vivo propriamente a vida do bairro. Mas bom, lá estou, chego e saio. E fui reparando que havia alguns toxicodependentes na rua e em todas as ruas à volta, mas nunca me tinha apercebido da gravidade do problema. Até que um dia, no prédio ao lado do meu, estava um vizinho a pôr água na entrada. E eu pensei, “bom, o senhor é velhinho e tal, não deve ter nada para fazer”. Mas perguntei-lhe o que é que se passava, e ele diz-me que estava a fazer aquilo para ‘eles’ não se sentarem. “Mas eles quem?”, perguntei. “Ah, os toxicodependentes, não costuma ver? Mas também não adianta de nada porque eles põem aqui um tapete ou um saco e vão-se sentar à mesma. Mas isto é muito aborrecido porque a minha mulher é velhinha e fica com medo de sair”. OSSANDA LÍBER [ GUERRA DOS ANJOS ]. Eu não conhecia, para começar, o problema da toxicodependência. Não conhecia mais do que alguém que vê televisão ou lê jornais. Conhecia ainda menos o bairro, estava lá há um ano, na altura. E o que queria era de facto eu própria perceber o que é que se estava a passar ali. E acho que se sente perfeitamente no documentário que não tenho de facto um ponto de vista – não tinha, na altura. A minha intenção era informar. Eu não sou jornalista, mas tinha acesso a uma câmara, acesso aos meios e, sobretudo, eles estão familiarizados comigo, viam-me entrar e sair. Então achei que tinha o dever de fazer este filme. Pedi aos moradores e aos comerciantes para se manifestarem – porque as pessoas queriam falar sobre a questão – e depois eu, um operador de som e um assistente de produção fomos ao Intendente – ao coração da coisa – para tentar constatar, para ver e perceber o que é que se estava realmente a passar. E o resultado foi o que viram no documentário. O tema de partida deste trabalho era a apropriação do espaço público. E dentro deste tema tínhamos algumas intenções em comum, mas com perspectivas diferentes, porque temos formações distintas – Antropologia, Arquitectura, Filosofia, Geografia. Tivemos, então, que encontrar um patamar comum e foi daí que surgiu o filme. TÂNIA DAVID [ PRINCÍPE REAL ]. Sou arquitecta e, então, tenho sempre curiosidade relativamente à forma como as pessoas se vão apropriar e viver os espaços que os arquitectos projectam. Foi daí que parti e depois foram surgindo as vivências e as pessoas que muitas vezes acabam por subverter aquilo que nós projectamos. SÓNIA FERREIRA. Este filme foi feito no âmbito de um workshop de criação em vídeo documental. É portanto um projecto muito iniciático, e acho que isso está patente no filme. PANORAMA ’06 | da cidade 63 Vou agora explicar um pouco os seus bastidores. Para além da questão das diferentes formações, nós não tínhamos propriamente uma nota de intenções, a coisa não estava assim muito bem preparada, e quando fomos para o terreno filmar, cada uma puxava um bocadinho para o seu lado: eu sou de Antropologia, a mim interessavam-me muito as pessoas e as interacções no espaço; a ela interessavam mais os equipamentos... enfim, havia estas diferentes perspectivas, e foi preciso, aos poucos, ir chegando a uma visão mais ou menos comum sobre o filme. Depois também havia o problema do Jardim do Príncipe Real ser um espaço muito mediatizado. Ou seja, é um jardim muito filmado, e isso também se revela nas próprias pessoas. Por exemplo, aqueles senhores das cartas que aparecem no filme, já estão habituados a que apareça lá alguém com uma câmara, desde jornalistas, a realizadores, seja quem for. Mesmo na forma como eles lidavam connosco, e na postura que tomavam, se percebia isso. Mas eu acho interessante filmar estes sítios que já foram muito filmados, e onde os nossos personagens já quase nos dão indicações sobre o que acham que se devia filmar. PAULA ALVES. A minha formação é em Filosofia, e aquilo que me interessava, como ponto de partida, eram as relações entre as pessoas num jardim que apareceria como uma Ágora, o espaço grego do encontro, do debate de ideias. Isto pressupunha dois conceitos: a igualdade e a liberdade. Portanto, este foi o exercício primeiro que fiz e interessei-me em ver como é que isto se poderia reflectir nas várias relações tidas num único espaço. Depois, aos poucos, fomo-nos dando conta que esse espaço também tinha ritmos de ocupação, e havia patamares de igualdade, e hierarquias diversas. As horas do dia tinham diferentes ocupações por parte das populações que ali passavam, que tinham formas próprias de deixar marcas e inscrições dessa passagem. Por exemplo, as inscrições das mesas: algumas delas eram agressivas e às vezes os idosos, quando jogavam cartas, tapavam essas marcas. Neste sentido era bastante interessante ver como é que o mesmo espaço era apropriado de forma diversa por diferentes grupos e tinha, aqui, duas vertentes. Uma, como o professor José Gil diz, assente na questão da marca ou da inscrição: a marca como algo que deixa um traço indelével que impede que outros se apropriem livremente do elemento onde foi feita a inscrição; outra, a inscrição que permite um apagamento progressivo para que outras coisas venham. Isto cruzou-se depois com a questão dos fluxos, que interessava tanto a mim como à Maria pelo lado da Geografia, e como esses fluxos são, no fundo, confrontos de indivíduos que vão para um espaço que não tem um uso determinado. E esta última questão era uma outra premissa para o trabalho: queríamos abordar um espaço público que não tivesse à partida um fim pré-estabelecido, ao contrário de um centro comercial ou outro espaço que as pessoas hoje procuram exactamente porque têm dificuldade em definir por si próprias, procurando assim espaços já com pré-definição. Queríamos perceber como é que o espaço do jardim que, em princípio, cada um tem de criar, era vivido. E isso está directamente relacionado quer com a forma como o espaço está desenhado, com os equipamentos que estão ao dispor, quer também com a própria sensação interna de liberdade. Antes de fazer este filme, tinha trabalhado num documentário, o Lisboa, Capital do Nada, onde filmei um evento cultural que juntou uma série de artistas que iam intervir em Marvila, em 2001. E uma destas artistas, a Fernanda Fragateiro, iria agir sobre a zona LUÍS ALVES DE MATOS [A PRAÇA]. 64 PANORAMA ’06 | da cidade filmada neste filme, A Praça, naqueles talhões onde depois se vêem as pessoas a semear e a plantar. Entretanto o projecto da Fernanda Fragateiro não se desenvolveu (ela ficou doente...), mas eu fiquei fascinado com aquela praça, com a sua configuração, com a atmosfera que se vivia ali. Aquele espaço é um projecto do final dos anos 70 de um arquitecto muito importante, Gonçalo Byrne, e a ideia subjacente à sua arquitectura é a de integrar uma série de comunidades. Um projecto de certa forma idealista: era como se a arquitectura conseguisse pôr as pessoas a darem-se bem. Foi um projecto que falhou, depois, completamente nos anos ’80. As pessoas começaram a cortar aqueles corredores, apareceram imensos problemas de droga, como em qualquer outra zona, na altura, etc. Comecei por me aperceber que havia ali um projecto já antigo, e que as pessoas ansiavam alterações, queriam ter um jardim infantil, uma praça, tinham uma série de necessidades, e inicialmente a ideia era registar todo o processo. Depois percebi que as questões políticas, as questões da cidadania, e a maneira como as coisas funcionam numa zona que é... se fosse na Avenida de Roma se calhar tudo seria mais rápido. Sendo ali... aquela é realmente uma terra esquecida. Dei por mim a pensar naquilo como uma espécie de processo kafkiano. Quer dizer, pensei fazer o documentário como se fosse composto por capítulos de um livro do Kafka, em que cada um teria o seu tom. E depois, para não tornar o filme demasiadamente literário – estamos a trabalhar em cinema – iria tentar que cada capítulo transmitisse uma espécie de emoção ou de sentimento. A própria evolução da praça ajudou, pelo tempo e pela ironia que envolveu todo o processo. Eu acho que todos estes documentários constituem uma viagem magnífica por Lisboa. E digo isto porque me emocionei, ao vê-los. E emocionei-me particularmente porque tive uma intervenção cívica em quase todas as questões abordadas nestes filmes. Não consigo ver estes filmes sem emoção, e por isso de facto não sou o melhor crítico. Não consigo ver o Cidade Só sem remorsos. Não sei se a senhora estava triste ou não, mas sei que estava só. E isso fez-me muita impressão, há milhares de pessoas assim. E portanto eu tenho remorsos disso. JOSÉ SÁ FERNANDES . (E aqui José Sá Fernandes deixa-se levar pela descrição de uma viagem pessoal feita a partir dos filmes programados, construindo um autêntico percurso pela cidade através de todos eles. Não se irá transcrever aqui esta intervenção, por se afastar do rumo mais interessante do debate, em volta da proximidade entre um cineasta e um objecto, e a vontade de intervir sobre este (que desde logo se pôde sentir nas apresentações dos filmes, feitas pelos realizadores). É portanto uma intervenção, que por ser muito pessoal, faz mais sentido, talvez, ser ouvida, no encontro que aconteceu ali, no Fórum Lisboa. Mesmo assim e exactamente por ser pessoal, é uma intervenção que revela o movimento pressentido em todos os filmes: a vontade, não de sair, de encontrar o “outro”, o “diferente”, mas de olhar o próximo, o quotidiano, e as suas excepções ou repetições, e agir sobre isso que se olha. No final da sua intervenção, José Sá Fernandes acaba mesmo por pedir os filmes, para apresentar em sessão de câmara, e poder mostrar algumas problemáticas da sua cidade (e não só falar sobre elas)...) PANORAMA ’06 | da cidade 65 A propósito da Guerra dos Anjos, queria dizer que gostava de mostrar alguns destes filmes como fundamento para algumas das propostas que vou apresentar na Câmara (eu depois peço autorização). E isto não tem nada a ver com partidos. Gostava que os outros vereadores vissem este filme para que pudesse propor, por exemplo, a sala de injecções assistida. Para que percebam que alguma coisa temos de fazer. De facto os documentários têm esta força, mostram muito bem as coisas, e acho que têm de ser divulgados. Acho que os documentários servem para isso, não é? São exercícios cinematográficos mas servem para mostrar, essa é a sua força. JOSÉ SÁ FERNANDES . Depois seguiu-se o comentário de Graça Cordeiro, antropóloga... GRAÇA CORDEIRO. O que eu vou tentar dizer sobre estes filmes tem a ver com a minha própria subjectividade, um pouco deformada pela minha formação. Como sou antropóloga, tenho sempre um olhar que quer ser mais ou menos analítico, reflexivo. Para já, parece-me que há aqui um conjunto de filmes sobre espaços públicos, que é aquilo em que tendemos a pensar quando pensamos em cidade. As cidades são feitas de espaço, tempo, pessoas (pessoas em interacção, evidentemente). Relativamente aos filmes que tratam espaços públicos temos o Jardim, o Príncipe Real, a Feira da Ladra, a Praça. Todos eles cruzam estes três elementos, ou seja, o espaço, o tempo e as interacções. Relativamente ao Jardim, o seu mote é muitíssimo interessante e merecia ter sido, talvez, melhor desenvolvido. Isto faz-me dizer que me parece existir um grande desequilíbrio entre estes filmes. Há filmes que se vê que foram trabalhados de um ponto de vista da pesquisa – quando eu digo pesquisa não é necessariamente antropológica, nem histórica – são filmes que têm uma estrutura, uma história, enfim, têm perguntas, abrem para um sem-número de questões. Há outros filmes que as sugerem, mas onde se vê que não houve esse trabalho que permite que quem veja possa reflectir mais sobre o assunto. No caso do Jardim eu acho que a ideia é muito boa, a ideia das toponímias da cidade. Perguntar como é que afinal as coisas se chamam, e descobir-se que não é nada daquilo que usualmente se pensa e que afinal o nome depende das pessoas que estão a falar e da experiência que elas têm desse sítio. Quer dizer, todas as praças (Alvalade, o Rossio) normalmente têm o outro nome para além daquele que nós usamos; cada lugar tem vários nomes, para além do oficial que é o que está nas plantas, nos mapas. Acho que é um tema engraçado. E ali foi tratado, enfim, quase como se se estivesse à procura da verdade. E nunca se encontra a verdade, porque são múltiplas as verdades nesta questão dos nomes. O Príncipe Real acaba por pegar também nesta questão dos espaços públicos, e acho que a desenvolve muito bem. A questão dos espaços abertos, o registo da interacção em torno de vários actores muito diferentes: há os comerciantes, há pessoas que vendem serviços, há pessoas que vendem coisas; há pessoas que circulam, passeiam, compram, que vão só apanhar sol. O filme acaba, então, por dar uma visão muito completa, mostrando as várias possibilidades de actividades, de interacção social, de interacção humana que um jardim como o Príncipe Real pode ter. Eu descobri de certa forma estas várias possibilidades do jardim com o filme, porque quando uma pessoa apenas passa, não se apercebe de tudo isto. 66 PANORAMA ’06 | da cidade Em relação ao Feira da Ladra, o que para mim foi mais marcante neste filme não foi tanto a Feira da Ladra. De facto, o filme está muito centrado nos indivíduos, e no seu discurso, e o que mais me chocou foi observar a dificuldade em ultrapassar a exibição permanente das pessoas (e aqui tenho, se calhar, uma nota crítica a fazer em relação ao filme; é pena os realizadores não estarem cá). As pessoas exibem-se e fazem a sua própria performance, o filme torna-se um palco de quem está a falar para a câmara. Para mim, foi um exercício relativamente desagradável porque há demasiado cliché, e eu julgo que um documentário tem que conseguir ultrapassar essa primeira impressão, e a armadilha de se centrar nos discursos para a câmara. Acho que houve uma dificuldade em entrar na Feira da Ladra, e o filme ficou um pouco aquém do documentário no tanto que este permite que se entre numa determinada realidade e se consiga ver outras coisas para além do que já se conhece ou imagina. Foi a conversa que conduziu o filme, aliás, o monólogo, e poderia ter sido filmado num outro lugar qualquer. Com o Lisboa Imaginada passamos para um outro plano, um plano mais do imaginário e das imagens que as cidades produzem. Neste caso, há os discursos dos turistas que falam das razões por que vêm a Lisboa. E por trás do seu discurso há sempre o Lisbon Story que representa uma espécie de modelo, referido até por alguns deles. E é interessante esta ideia de trabalhar as imagens de uma cidade, embora, mais uma vez, os actores pudessem ter sido, eventualmente, mais diversificados. Ficamos muito centrados nos turistas, e há alguns estrangeiros que não são turistas, que vivem cá. O filme fica-se muito pelo estereótipo, Lisboa é ali olhada como um conjunto de imagens já muito identificadas, muito conhecidas, e este estereótipo vai desde elementos mais visuais, até ao próprio calor humano, ou a comida, o clima, a luz. Temos também o Guerra dos Anjos, que é um filme incómodo, está claro, por todas as razões e mais alguma. É-o pelo tema, e por uma visão que, na minha opinião subjectiva, é duplamente incómoda: o bairro é visto pelo seu lado mais desagradável, e que é o lado pelo qual os Anjos e a zona do Intendente, desde há poucos anos a esta parte, são mais conhecidos. É um filme que marca muito pelo incómodo e creio que esse era precisamente um dos seus objectivos: que quem vê ficasse com esse problema do seu lado, digamos. Relativamente à Praça, ainda dentro desta organização que estou a fazer no meu discurso em volta dos espaços públicos, e apesar de ter fugido para o Lisboa Imaginada, acho que A Praça cruza de facto muito bem o espaço, o tempo, e as pessoas. E é muito um filme sobre o tempo, apesar de ser sobre o espaço, não é? Noutra ocasião já discutimos isto longamente, num momento em que o filme passou na Malaposta, num outro ciclo de cinema, documental também, e, de facto, o que acabou por ficar mais premente, acho eu, também nas pessoas que viram, e no debate que foi feito, foi esta dimensão pesada do tempo. Depois há também o acompanhamento da construção da praça e todo o impacto que os acontecimentos vão tendo sobre as pessoas. Mas o cruzamento entre estes três elementos que tenho vindo a referir, neste filme é feito através do tempo. E exactamente o tempo é uma das dimensões importantes do Palco Oriental, neste caso do ponto de vista da resistência. No fundo, há uma insistência em estar naquele lugar, em fazer aquele conjunto de actividades, e acho que isso é muito bem mostrado. Aliás, num filme documentário com pouco tempo, é bom encontrar um tema que organize, de certa forma, as ideias, e acho PANORAMA ’06 | da cidade 67 que aqui isso está muito bem conseguido. As entrevistas, o filmar do espaço e as actividades nesse espaço, vão-nos dando conta daquela insistência e resistência. Percebemos, assim, como é que o Palco se tem mantido ali. E depois aquelas imagens de carro completam tudo isto. Aliás, isso é qualquer coisa que todos estes filmes utilizam muito, as imagens da cidade são muitas vezes imagens de carro... Enfim, imagens feitas em viagem, em que tudo passa a uma velocidade relativamente grande. Gostei bastante deste filme, acho que está muito bem conseguido. Falta-me falar de um filme que eu julgo notável porque mostra um outro lado da cidade. Quando pensamos em cidade temos sempre a tendência em pensar em espaços públicos, espaços ao ar livre, ruas, praças, no fundo aquilo que tem visibilidade. Aliás, este é um dos estereótipos sobre a cidade, a ideia de que a vida social se passa no espaço público. E raramente se entra para dentro de casa. O que eu gostei especialmente no filme Cidade Só foi precisamente isso: a cidade também é estar dentro de casa. E achei que a inclusão deste filme nesta rubrica do programa funciona muito bem. No fundo damo-nos ali conta do tempo em que uma pessoa já não trabalha, que é idosa... eu por acaso não senti remorsos, porque acho que não tenho de sentir. Acho que há uma certa tranquilidade naquela senhora, que conta a sua vida, e que faz as suas rotinas domésticas, bem como em todo o espaço que a rodeia, muito cuidado, muito organizado, muito arrumado. É um filme muito centrado, no fundo, no quotidiano feminino de certas mulheres de uma certa geração, e centrado em coisas como o lavar os legumes, aqueles ruídos, o barulho da água, o silêncio também... acho que isto é tudo filmado com muito cuidado. Gostei sobretudo do contraste que é feito entre a vida desta pessoa aposentada, que já não trabalha, e o rebuliço da cidade, esse sim no espaço exterior ou em lugares públicos. Há, portanto, um contraste claro entre a casa e a rua, sendo que a rua está ligada à actividade, ao trabalho, à vida activa... à juventude, também, porque quando se olha para aquela massa, a partir dos olhos daquela senhora, a partir da sua janela, é a juventude que circula ali. Portanto, acho que aqui as realizadoras conseguiram dar visibilidade a uma coisa que normalmente não o tem e que por isso é menos falada, menos analisada, e é menos objecto de reflexão, e é tão importante ou mais porque é o contexto de vida dessas tais pessoas que circulam na rua. FERNANDO CARRILHO. Agora passo a palavra ao público. É a vossa oportunidade para questionar os realizadores e os convidados. PUB ( LUCIANA FINA ). Talvez quisesse provocar a conversa para um outro sentido, talvez respondendo também a essa questão da cidade. Queria só sublinhar que a cidade é um tema posterior, ou seja, é um tema sugerido pelos programadores e provavelmente não o tema de partida para todos estes realizadores. Portanto, podemos realmente olhar por aí, mas provavelmente o ponto de partida de cada um destes filmes é diferente. Quanto à questão do tempo, sendo uma matéria tão importante para o cinema, gostava também de dizer que há abordagens possíveis e diferentes nestes filmes, o que tem a ver com o facto de se contar uma história que tem o seu tempo, e de se procurar uma correspondência entre a linguagem do cinema e a percepção que cada um tem desse tempo das coisas que filma. Nesse sentido eu senti... fala-se do peso do tempo no filme A Praça, mas eu não sinto o peso do tempo. 68 PANORAMA ’06 | da cidade Sinto, sim, uma conseguida correspondência entre a questão do tempo e a linguagem que o Luís utilizou. Faço esta intervenção só para convidar um pouco a sentir também estes filmes de outro ponto de vista. Um convite para falarmos também da sua linguagem, tendo em conta que o tema de partida “da cidade” não é a vocação, intenção, intuito de todos eles, provavelmente. Obrigada. LUÍS ALVES DE MATOS . Eu não percebi uma coisa... o tempo é o peso da praça? Não... a mim não me interessava contar uma narrativa, não me interessava fazer entrevistas, nem me interessava seguir as pessoas. Interessava-me fazer um filme sobre um lugar. E embora um espaço seja sempre ocupado por pessoas, há sempre percursos, e uma determinada habitação dentro dele. Não queria ver um rosto, em si. Queria uma espécie de rosto colectivo. E achei que se filmasse a praça de uma forma mais afastada, teria essa ideia de coro, como se fosse um coro trágico, de uma tragédia grega. Não me interessava ter ali indivíduos. Claro, por vezes a câmara aproxima-se, e isso faz parte dos ritmos que são necessários em termos de montagem. Mas o cinema é um trabalho sobre o tempo, sempre. E é sempre um tempo que já passou, é sempre um tempo que fala da morte, é sempre um tempo que fala daquilo que nós achamos que podíamos ter vivido. Talvez seja na ideia dos cartões negros que o tempo está mais assinalado, no filme, quase como se fosse uma espécie de peso, quero dizer. É quase como se houvesse alguém a mudar os cartões e a dizer “já viveste 20 anos, já viveste 40 anos, já viveste 100 anos”. Simultaneamente, o percurso da praça não vai de encontro ao que a maioria das pessoas quer. Há também ali um certo absurdo. O tempo vai avançando, mas o espaço transforma-se numa coisa que as pessoas não querem. E o plano final do filme fala um bocado sobre isso. Um documentário é sempre o produto de vários acidentes, e parece-me que isso é o lado mais rico neste género. Não acredito que alguém queira começar um documentário e decida exactamente o que quer, porque isso é ficção, onde há um guião, etc. (e mesmo os filmes com guião são alterados). No caso da Praça tive várias ideias ao longo do filme. É um pouco como um pintor que vai trabalhando e trabalhando, e às vezes pinta por cima e torna a repintar. O documentário também pode ser isso. Esta programação é de alguma forma uma proposta – juntar todos os nossos filmes num tema – e de facto acho que cada um de nós fez o seu filme a pensar na cidade de maneiras diferentes. Mas talvez falte a vontade de documentar a cidade como propósito de início. E acho que a Câmara poderia perfeitamente convidar várias pessoas a fazerem isso. Nós, como cineastas, queremos fazer filmes, queremos fazer documentários, e talvez fosse uma boa ideia a própria Câmara desafiar-nos a fazer uma espécie de inventariação dos bairros, dos grupos sociais, que mais tarde sirvam como uma espécie de documento. Apesar da tentativa, o debate voltou a centrar-se nos temas dos filmes, esquecendo a discussão em volta da abordagem específica ao cinema. Esqueceu-se o lado da intervenção, da vontade de tratar e olhar um objecto para alterar a sua realidade, de perceber o que fará, numa convivência com qualquer coisa que está próxima, nascer a motivação para a olhar através de um filme. Que movimento e impulso será esse? E como se fará a transição entre um quotidiano vivido e a distância crítica essencial à construção de um filme? PANORAMA ’06 | da cidade 69 FERNANDO CARRILHO. Compreendo que quando nós fazemos esta programação, e reunimos os filmes em torno de temáticas, construídas por nós (toda a programação é uma construção), os debates acabem por ter esta tendência. Há pouco a Luciana dizia que seria interessante conhecer os processos de trabalho do realizador, a sua perspectiva de cineasta. Mas depois, pela presença de pessoas ligadas à cidade, surgem curiosidades e o debate concentra-se mais nestas questões autárquicas, se podemos dizer assim. Eu acho que a riqueza está em ambos os lados e tudo depende da forma como o próprio público puxa pelo debate. Nós não temos muito mais tempo para continuar, mas mesmo assim gostava de lançar uma questão aos realizadores para tentar ligar um pouco estes dois lados. Penso particularmente no Palco Oriental, mas é uma questão que pode ser colocada em relação a todos os outros filmes, também: pensaram primeiro nos espaços ou foram directamente à questão humana? O vosso interesse centrou-se logo no conflito existente, nas pessoas que habitam o espaço, ou primeiro partiram do espaço e acabaram por ir dar aos conflitos sociais? No filme Palco Oriental existe o ponto de vista do teatro, das pessoas, e depois, ao mesmo tempo, um retrato de toda aquela zona. Como é que foi feita essa construção? MIGUEL CLARA VASCONCELOS . O trabalho do Palco Oriental tem uma dimensão importante que é ser um trabalho de escola. E dentro da formação houve um período de pesquisa, e um tempo em que vários temas co-habitaram até se encontrar o trabalho final. Durante essa fase de pesquisa, e de tomada de decisão sobre qual iria ser o nosso trabalho, andámos a ver zonas da Grande Lisboa, onde conhecíamos algumas questões que nos interessavam. Portanto, eu acho que foi um trabalho mais ou menos paralelo. Ou seja, por um lado havia um interesse em trabalhar uma área de Lisboa, acessível do ponto de vista da exequibilidade, que tivesse interesse visual para filmar, ao nível de ambientes e exteriores. Por outro lado, e em simultâneo, a escolha assentou em zonas onde sabíamos existirem temas que poderiam ser interessantes. Eu conhecia a sala Palco Oriental, conhecia o Jorge Meirim há algum tempo, e estava a par deste problema que tratámos no filme. E esta junção de um factor visual, inerente àquela zona, o facto de ser uma zona portuária, de ser ao mesmo tempo uma zona decadente mas também rica arquitectonicamente e existir ainda por cima este tema forte, levou-nos a decidir trabalhar sobre isso. MARIA ANTUNES. Eu também gostava de dizer mais uma coisa em relação ao Palco Oriental. Eu já tinha dito no início quais tinham sido as nossas motivações para fazer este trabalho, pelo menos da minha parte. Queria, de facto, fazer alguma coisa por aquela luta, e a esse nível houve uma coisa muito gratificante no decurso do trabalho: quando eu conheci o Jorge Meirim – o Miguel já o conhecia – achei-o um homem derrotado, de certa forma. Ele estava com pouca esperança, achava-se com pouca força para lutar contra uma estrutura tão pesada como a Igreja. E passados três ou quatro encontros sentimos que ele estava mais dinâmico e com mais vontade de fazer alguma coisa, e de lutar. Já não se sentia tão vencido. Só por isso este trabalho já me preencheu. 70 PANORAMA ’06 | da cidade debate A FAZER filmar e intervir? (parte II) PROGRAMAÇÃO: Contornos | Rita Bonifácio [ 5’ ] Pescadores de Vila Chã | João Lisboa [ 14’] Comunitários | João Romão [ 52’] Nocturnos: a outra face da lua | Hugo da Nóbrega [ 10’] Na Rua | Nuno Miguel, Sara Morais [ 20’] O Sítio de Castelo Velho | Catarina Alves Costa [ 53’] Doutor Estranho Amor | Leonor Areal [ 84’] À L’Écoute de son Corps | Alex Eisinger [ 10’] O Sal da Terra e do Mar | Luís Margalhau [ 26’] Destroços ou o Trabalho do Homem | Hugo Maia [ 5’] Mão-de-Obra | Ana Rita Ferreira [ 23’] CONVIDADOS: António Cunha (fotógrafo), Eduarda Dionísio (entre outras e intensas actividades de âmbito cultural, foi fundadora da Associação Abril em Maio) MODERADO POR: Madalena Miranda 1.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | a fazer 71 72 PANORAMA ’06 | abc O debate que se seguiu na programação, em volta do filmar o trabalho, dá continuidade aos problemas sugeridos pelo anterior, “da cidade”. Assim, para além da apresentação dos filmes feita pelos seus autores, que se repete em todos os debates e que servirá para perceber as distâncias e proximidades entre os objectos postos em contacto em cada bloco de programação, serão incluídos nesta memória apenas os excertos que poderão contribuir para a continuação dessa reflexão, nomeadamente na relação entre os filmes e as fórmulas (no âmbito daquilo a que a Eduarda Dionísio chama “manual lido em voz-off”). Ao contrário dos filmes incluídos no bloco anterior, que nasciam de uma convivência com um espaço ou uma situação, de uma proximidade, os filmes incluídos no “A Fazer” procuram a excepção. Em vez de filmar aquilo que está próximo, e conhecem bem, e sentirem o impulso de o conhecer ou compreender através do cinema, há por entre estes realizadores a tendência para procurarem o diferente, a excepção, o “outro”. Sobre isto, diz Luis Miguel Oliveira numa entrevista feita para o catálogo da 2ª edição do PANORAMA: “O outro é um tema clássico no documentário. E tem muito a ver com a própria génese e história do documentário: a descoberta de outros povos, de outros modos de vida, de outras culturas. E, se formos a ver, uma grande maioria do documentário é sempre uma maneira de filmar o ‘outro’. E o ‘outro’ podem ser os pobres, podem ser os doentes... (...). O Wiseman não tem filmes sobre o ‘outro’. Ou tem muito poucos. Filma o comum. Em oposição ao ‘outro’ filma o ‘mesmo’(...) Num certo sentido não filma o desconhecido (...). Se me perguntarem, numa perspectiva puramente pessoal, puramente de espectador, o que é que eu gostava de ver, gostava de ver mais filmes banhados naquilo que é a normalidade, que não é o limite, que não é o extremo, mas que é o convencional, que é o normal. Porque, se calhar, o que se revelar aí sobre nós todos, sobre o mundo, sobre o nosso mundo, se calhar é mais forte. O limite cega, ofusca. E é muito mais fácil não vermos, e é muito fácil ser arrumado, ser engavetado.” Esta reflexão é aqui aplicada concretamente ao universo dos filmes sobre trabalho, através do problema encontrado pela Madalena (enquanto programadora, e portanto espectadora dos filmes produzidos num ano, corpus do PANORAMA) ) e, de certa forma, também pela Eduarda (como comentadora e espectadora apenas deste bloco de filmes): não há filmes que tratem o trabalho ou este é filmado de uma forma extremamente enviesada. “Porque é que o cinema filmou tão pouco o trabalho? Pelas mesmas razões, sem dúvida, que pelo contrário o levaram a filmar tantas vezes o amor ou a sedução. O primeiro filme oferece a primeira destas razões: é ao sair da fábrica Lumière – depois do final do dia de trabalho – que os operários se entregam ao cinema, que acedem ao estatuto de actores e, ao mesmo tempo, aos espectadores. Afastando-se do trabalho, entram no mundo encantado do divertimento. O mundo do trabalho, de facto, é um mundo apenas debilmente encantado (encantador), e pouco suscetível de ser encantado pelo cinema, a não ser sob a forma de pesadelo (Metropolis, Tempos Modernos).” É a resposta que dá Jean-Louis Comolli (cineasta, e redactor principal dos Cahiers du Cinèma entre 1966 e 1976), num texto com o título: “O trabalho cansa, a luta mete medo”, incluído na revista Images Documentaires (nº24 e nº37-38). E introduz uma ligação com os vários debates anteriores: não só, apesar de mais directamente, com o anterior que esboça uma reflexão em volta do poder interventivo do cinema; como também com o “Da Memória” e as reflexões em volta do conceito de “distanciação” de Brecht: é deixando à vista as rodas dentadas da construção cinematográfica que se destrói a ilusão permitindo a crítica ao espectador. Filmar o trabalho é abordar de frente essas rodas dentadas. É portanto uma forma de resistência (que, como se viu, está na base do cinema documental nascido nas margem do cinema industrial PANORAMA ’06 | a fazer 73 americano). Onde estará essa resistência, hoje, no cinema português? É a pergunta que no limite se coloca quando se pergunta: “onde estão os filmes portugueses que filmam o trabalho?”. O debate acaba por se fixar no carácter político do gesto cinematográfico, e dos gestos filmados por esse – também – gesto (daí que filmar o trabalho dos outros, seja expôr o próprio trabalho do cinema: é um reflexo entre gestos). E desta discussão, que é acesa e permite, por isso, uma reflexão crítica rica (por não dar respostas directas), sublinha-se o que é dito sobre a qualidade técnica dos filmes: será que a facilidade que hoje existe em filmar resultou numa dispersão da vontade de fazer cinema? Será que anulou a força do impulso? Será que a possibilidade anulou a necessidade? Começa-se então pelas apresentações dos filmes pelos realizadores, e depois segue a intervenção da Eduarda Dionísio que no seu comentário geral aos filmes, acaba por reflectir exactamente sobre estas questões. JOÃO ROMÃO [COMUNITÁRIOS]. Trouxe aqui um filme sobre as comunidades de pescadores do Sul da Península Ibérica, das margens do rio Guadiana, e sobre a maneira como em Portugal e em Espanha essas comunidades perspectivam o seu futuro em termos da actividade profissional que desenvolvem. Não estudei cinema, nem venho de áreas afins, e portanto estou aqui um pouco deslocado, e posso não dizer nada que vos interesse. Mas posso, mesmo assim, contar o percurso do filme. Isto foi feito por mim e outra pessoa, conhecemo-nos no jornalismo, ele era fotógrafo e eu escrevia. Ambos tínhamos a intenção de experimentar o registo do documentário, e foi nesse sentido que fizemos este filme. Foi feito praticamente apenas com uma camarazinha minidv e um computador. Os que tiveram oportunidade de ver hão-de ter reparado em bastantes deficiências de captação de som, de iluminação, e mesmo, enfim, nalguns planos que não estão muito bem conseguidos. De qualquer maneira a nossa ideia tinha pouco a ver com expressão artística, tinha mais a ver com o documentário enquanto pesquisa sobre um tema sociológico, ou sócio-económico. Portanto, a nossa ideia era, não só experimentar a nossa habilidade para produzir um objecto razoável, como também tentar perceber em que medida conseguiríamos que esse objecto fosse atractivo para determinados grupos de profissionais (não nos interessava, nem estávamos preparados para fazer grandes produções para públicos muito alargados). Do ponto de vista da concepção, o desafio mais complicado era combinar uma série de suportes informativos diferentes, desde dados estatísticos, referências geográficas, mapas, a opiniões de pessoas que falam, registos visuais de determinadas situações. O desafio era, portanto, tentar combinar isso tudo de uma maneira que não fosse muito chata, com uma solução gráfica que não fosse muito enjoativa. O resultado final acabou por ficar francamente melhor do que nós esperávamos, e acabámos por apresentar o filme aqui, sendo que também já passou na RTP2 umas três ou quatro vezes (apesar da miséria que nos pagaram...). E foi muito gratificante para nós, as pessoas envolvidas no filme – fizemos muitas entrevistas – terem gostado bastante do trabalho. Acharam que o filme valorizava o seu próprio trabalho, e acharam-no útil. Isto é um filme que eu fiz para uma cadeira da Faculdade, na Universidade Nova, chamada Géneros Cinematográficos, dada pelo José HUGO MAIA [DESTROÇOS OU O TRABALHO DO HOMEM]. 74 PANORAMA ’06 | a fazer Manuel Costa. Tínhamos um limite de duração: cinco minutos. E ao princípio não sabia bem o que havia de fazer, nunca tinha pegado numa câmara de filmar, por isso não me sentia muito à vontade para pegar numa e pôr-me a fazer um documentário. Pus-me a pesquisar umas fotografias antigas que tinha e reparei que tinha muito o hábito de fotografar destroços. Foi daí, praticamente, que surgiu a ideia de montar um filme sobretudo com fotografias. Depois acabei por utilizar algumas filmagens, e basicamente o filme... é um filme sobre destroços. No fundo é o sentimento de alguém que quer fugir de algum pequeno inferno, ou que quer procurar o seu pequeno paraíso, e quando o encontra descobre que é também um grande destroço. É capaz de ser isso. LEONOR AREAL [DOUTOR ESTRANHO AMOR]. Eu, já agora que o João Romão falou disso, também devo dizer que o filme que eu fiz não teve muitas ambições de perfeição técnica. Ou seja, não é que eu não me preocupe com a qualidade técnica do filme, mas o que não há é meios para suprir isso. E hoje até fiquei um pouco desiludida com a imagem – pareceu-me escura. Ao pé dos outros filmes, o meu pareceu-me muito deficiente. Mas foi filmado com uma mini dv, se calhar como todos os filmes hoje em dia, ou os documentários, são. Portanto, também não é nada de especial que isso aconteça, é de certa forma a situação a que estamos sujeitos, e não creio que possamos fazer muito melhor do que isto (a não ser agora com o HDV, claro). De facto senti isto em relação ao meu filme. E como ainda por cima não filmei o mar, não filmei as salinas, não filmei a preto e branco, filmei numa sala de aula com péssimas luzes florescentes e com adolescentes todos vestidos de ganga e azul-escuro (embora lindos...), o filme ficou ainda mais empobrecido, nesse lado técnico. O que me interessava quando comecei a filmar era testemunhar o processo de trabalho de uma brigada de estudantes de medicina que ia fazer a prevenção da SIDA, prioritariamente, e educação sexual de modo geral, numa turma. Os estudantes de medicina tinham poucos mais anos que os outros miúdos, e isto era a base do projecto, adivinhando que talvez não viesse a ser fácil. Depois não foi nem tão fácil, nem tão difícil como se calhar eles esperavam e eu esperava. E portanto na montagem a minha intenção foi pôr em evidência não tanto as dificuldades do processo, mas as contradições inerentes. Era um projecto de voluntariado com uma dimensão mais vasta que era a do programa em que se inseria, e que passava por uma acção política de informar, alertar, educar os jovens. Acabei por criar uma espécie de escala descendente que começava nos políticos – estavam lá os ministros, ao princípio – e que depois se ia resolvendo em coisas muito pequenas, como pequenos jogos de contacto humano, por exemplo, até chegar à mensagem de prevenção da SIDA. A minha intenção foi, portanto, acompanhar a vida dos personagens, segui-los nas suas actividades sem interferir nem tomar uma posição pessoal sobre o que via, mas tentando fazer ressaltar as contradições inerentes. O meu filme, tal como o do Hugo, foi feito para a cadeira leccionada pelo professor José Manuel Costa. A proposta era fazer um documentário de cinco minutos. E como eu sou da Marinha Grande, quis fazer um filme sobre vidro. E quis fazer isto mesmo, apesar de não problematizar a questão: queria fazer um filme essencialmente visual, RITA BONIFÁCIO [ CONTORNOS]. PANORAMA ’06 | a fazer 75 queria expor a beleza que o vidro para mim transmite, e não os problemas que aqueles homens têm a trabalhar, o facto de beberem oito litros de água por dia, o terem trabalho precário, e serem despedidos constantemente, as fábricas encerrarem. CLÁUDIA OLIVEIRA [ NOCTURNOS ]. Não há muito a dizer sobre aquela curta, acho que o nome já diz tudo. Quisemos falar sobre pessoas que trabalham à noite, e mostrar que essa é uma altura em que nem toda a gente está a gozar. Há muita gente que ao fim de um dia de trabalho vai sair à noite para desanuviar, e no entanto há outras pessoas que começam a trabalhar nessa altura. E é daí que vem o subtítulo do filme, A outra face da lua. Só tem 10 minutos porque foi um documentário feito para a minha escola, e tinha mesmo de ser uma curta-metragem de pouca duração. Por isso é que foi assim um relance. Quisemos abordar poucas pessoas, mas acho que deu para transmitir a ideia, isto é, mostrar as pessoas que trabalham à noite, e intercalar com algumas imagens de pessoas que se estão a distrair nesse mesmo horário. Era esta a intenção. MADALENA MIRANDA . Eduarda, o que é que neste conjunto de filmes viste de “a fazer”? EDUARDA DIONÍSIO. Acho que isto não é um conjunto de filmes. Há aqui uma sucessão de objectos, mas que são tão diferentes uns dos outros que é para mim difícil encará-los com um lote de que se possa falar no seu conjunto. Começando pelas minutagens: cinco minutos, 80 e não sei quantos minutos... Não é por ser um filme grande ou um filme pequeno, mas porque a própria minutagem já diz o que é que as pessoas querem fazer com os filmes. Ou seja, um filme de cinco minutos se calhar não é para nada, ou pelo menos nasceu de maneira diferente daquele que tem os 50 minutos (ou a metade dos 50 minutos) para vender para a televisão. Ou seja, há filmes que nascem de necessidades interiores, e outros provavelmente de uma conjugação entre umas necessidades interiores e outras exteriores. Isto origina objectos muitíssimo diferentes, e torna-se difícil analisá-los em conjunto. Aquilo que penso que vocês tentaram fazer para tornar estes filmes um conjunto, foi pôr aquela palavrinha – que são duas – “a fazer”. Ora, quando me contactaram disseram-me que seria uma sessão de filmes sobre trabalho. E portanto o “a fazer” deve querer dizer isso, de uma forma mais dúbia. E mesmo assim é muito complicado reunirmos estes filmes dessa forma, porque “fazer” é tudo. Acho que grande parte destes filmes podia estar na secção “a acabar” porque a maior parte das coisas aqui apresentadas estão a acabar: estão a acabar os pescadores, estão a acabar as salinas, são várias coisas e está tudo a acabar. Portanto, se calhar também podia estar noutro tema, e está aqui porque está aqui. E por outro lado há coisas que podiam estar num “a começar”. Mas o que fica de trabalho é uma imagem muito diferente daquela que temos geralmente do trabalho. Há até alguns filmes... o caso do Hugo, que foi puxado pelos cabelos porque há uma palavrinha no esplêndido poema do Herberto Helder que diz “trabalho”. O que achei curioso, e se calhar é um aspecto de que se pode falar no conjunto, é que toda a gente pegou em excepções. Abordou coisas que não são o vulgar, o normal. Não é o trabalhador da fábrica, não é o trabalhador do campo – que também já pouco existe, mas enfim, ainda 76 PANORAMA ’06 | a fazer existe – não é o trabalhador do escritório: esses não existem nesta secção “a fazer”. Existe tudo aquilo que é invulgar: o trabalhador da noite, o tal que está a acabar, o que está a fazer experiências artísticas, aquele que não sei quê, a Marinha Grande. E tratam esses casos com muita normalidade. Ou seja, tudo é normal. E a gente pode dizer: é um documentário, portanto documenta; não tem nada que ter nem opinião, nem visão... mas, quer dizer, nasce pouca inquietação destes filmes, quando os temas e aquilo que se vai buscar é altamente inquietante. Os filmes dizem “é isto, é assim”, talvez isso seja o documentário – podemos discutir aqui se é ou se não é. Acho que há poucas caras – “caras” no sentido que está no texto do Jorge Silva Melo, do catálogo. Aliás, onde eu vi imensas caras foi neste último filme, onde só há mãos [Mão de obra]. Vi mais caras nas mãos que estavam a fazer aquelas coisas a partir da música no último filme, do que na maior parte das caras que vi nos outros. E há por acaso uma cara naquele filme das limpezas, uma cara de uma mulher... e para mim o filme tinha sido sobre aquela mulher. De vez em quando aparecem assim umas caras... Eu não sou de cinema. E uma coisa que acho engraçado é que as pessoas hoje usam as câmaras como no meu tempo se usavam as esferográficas. Há uma familiaridade com o registo de imagem que eu acho curiosíssima. E isso vê-se nestes casos de pessoas com origens completamente diferentes, que pegaram nas esferográficas de maneira diferente – mas é sempre uma esferográfica – e com facilidade fizeram estes registos. A questão da qualidade técnica não me interessa muito, existe sempre uma qualidade mínima fornecida pela máquina, pela maneira de pegar naquilo, que não aflige. Onde eu acho que há imensa coisa a discutir é na questão do som e da palavra. Talvez eu seja mais sensível à questão da palavra, e nos documentários muitas vezes há depoimentos, pessoas a falarem, essas coisas todas. E tenho a impressão que é aí que estão os problemas maiores deste conjunto de filmes. Uns resolvem esse problema de uma maneira, outros resolvem de outra, e uns de maneira interessante e outros não. Mas acho que tudo o que é voz off... por exemplo, faz-me muita impressão ouvir um manual lido, num filme. Quer dizer, a voz off ser de um manual de qualquer coisa, seja de economia, ou seja de salinas: faz-me impressão o som off ser feito numa linguagem de manual. Acho que isso não liga com o facto da câmara ser uma esferográfica, e acho que a questão da inserção dos depoimentos, da voz off, da informação à vista declarada, é dos problemas mais terríveis no momento em que toda a gente pode usar uma máquina de filmar. E a partir daí, de facto, há tratamentos diferentes de uns filmes para os outros, e é curioso para mim ver isso. Pronto, se calhar tenho dificuldade em aceitar este título. Ou então dava esta designação a todos os filmes. Porque em todos há pessoas “a fazer” e, por exemplo, aqui no filme do João Romão, nunca vemos os trabalhadores propriamente ditos a trabalhar. Vemos é um museu do trabalho, que esse é que é interessante analisar, vemos os gestores e os intermediários. E esses só falam, só “parlapateiam”. Pronto. MADALENA MIRANDA. Devo dizer que, pessoalmente, quando nós pensámos organizar o Panorama, uma das coisas que eu gostaria de encontrar era filmes que falassem precisamente do trabalho, o que não se verificou. E portanto, uma das coisas que eu gostava de ver discutida neste debate é porque é que o trabalhador é uma figura mítica que está a deixar de estar na moda. PANORAMA ’06 | a fazer 77 E porque é que filmes sobre o “a fazer” se diluem em filmes sobre os gestos. Filmes sobre as acções, sobre algumas actividades, mas onde o questionamento social, político, cultural à volta da dimensão humana não está presente, quando eu pensava que era sobre essas questões que o documentário verdadeiramente se debruçava. Quando olhámos para este conjunto, penso que o “a fazer” se tornou muito mais rarefeito, heterogéneo, e com muitos mais pontos de fuga do que aquilo que eu, pessoalmente – volto a afirmar –, achava que existia. Pensei que as pessoas iam filmar os operários na fábrica, os camponeses no campo, os despedimentos, o trabalho precário. Mas não. E neste Panorama, foi esta a categoria que conseguimos encontrar. Eu gostava de ter aqui, para ouvirmos (mas não tenho), uma entrevista com a [Marguerite] Duras em que ela fala precisamente do que se está a falar aqui. Não o diz em relação a filmes, mas em relação ao comunismo, e fala precisamente contra essa ideia terrível de que um trabalhador de uma fábrica é um trabalhador de uma fábrica, não é uma pessoa. E, apesar de eu perceber o que a Eduarda está a dizer, parece-me que tem algum sentido lembrar esta ideia. Porque, perante o que a Duras diz, faz sentido o gesto, que é de cada pessoa – e talvez por isso com as mãos se vejam mais caras. E outra coisa que ela diz é que o trabalho tem de ser repensado. Tem que ser pensado como qualquer coisa que se gosta de fazer, qualquer coisa que se pensa. Ou seja, não considerar o trabalho apenas como categoria social, económica, política, mas reduzir a escala, olhar para a pequena escala, o gesto, o vidro, ou a repetição dos destroços. Vi poucos filmes mas parece-me que há aqui qualquer coisa, uma questão política, que teria de ser pensada. Uma questão política e não tanto a-política. PUB ( ANA ELISEU ). Quando referes, Eduarda, que se foi à procura de profissões ou de trabalhos que são excepção: isso depende um bocadinho do contexto. Tu sabes, mas eles não, eu vivo no Algarve e lá os pescadores não são excepção, é coisa relativamente normal nas comunidades do litoral, haver pescadores. JOÃO ROMÃO. EDUARDA DIONÍSIO. Não há pescadores no teu filme. Há o assunto dos pescadores. Não há pescadores. (Regressa-se à conversa já citada, com Luis Miguel Oliveira: “O cinema dá-se mal com a abstracção. Ao contrário da Literatura onde se pode escrever que a personagem comeu uma peça de fruta, o cineasta não consegue pôr a personagem a comer uma peça de fruta, tem de ser uma laranja, ou uma maçã, ou uma banana. Quer dizer, o cinema parte sempre do concreto. (...) Mas nem sempre me parece que esta ideia seja muito clara para os documentaristas. Porque se vêem muito filmes em que se tenta o oposto, em que há uma ideia de filmar qualquer coisa que é geral, digamos, um tema. Mas não são capazes de pensar a maneira como esse tema vai aparecer. Porque não se filma “um tema”, gera-se um tema a partir do que se filma.”) De qualquer maneira o nosso objectivo era precisamente colocar as questões sociais, políticas e culturais que nos pareceram relevantes. E relevantes para uma actividade que JOÃO ROMÃO. 78 PANORAMA ’06 | a fazer não é excepcional, que é relevante também ao nível daquelas pequenas comunidades locais, quer em Portugal, quer em Espanha. E estão ali representados, a falar sobre as suas experiências, pescadores portugueses, pescadores espanhóis, donos de barcos, investigadores científicos, gerentes das lotas... Portanto, tentámos que uma série de trabalhos ou de profissões se exprimisse. Para filmar trabalho, propriamente, há coisas mais fáceis do que outras. Por exemplo, uma lota a funcionar, as pessoas a comprar, a vender, isso é fácil e está ali. Dentro do barco, com tudo a abanar, às vezes de noite e sem luz, e com o som do motor, torna-se um bocadinho mais complicado. Por isso acabámos por reduzir esse tipo de imagens ao genérico inicial. De qualquer forma, o nosso objectivo era semelhante ao que tu dizes que tinham para o ciclo, colocar as questões sociais, políticas e culturais em relação ao trabalho. A nossa preocupação passava exactamente por descobrir como fazer uma abordagem desse tipo, sem ter experiências anteriores. O problema que acabámos por ter foi o de algum excesso de palavras. Como era difícil filmar o trabalho em si, a coisa acabou por se resumir praticamente a depoimentos sucessivos, que se tornam um bocado pesados a partir de certa altura, e depois graças à entrada do João Aguarela (a equipa foi-se constituindo), que fez uma música original bem gira, conseguimos pontuar o filme com alguns trechos musicais para tornar a coisa um bocadinho mais leve. Mas o filme está completamente vinculado às palavras que são ditas, e nesse sentido se passasse na rádio percebia-se completamente. Não disse que todos os filmes tratavam excepções, só disse que havia uma tendência para o fazerem. De facto, é um bocadinho difícil pensar que os pescadores são uma excepção, mas há ali alguns que dizem que já não têm redes, que vão acabar... mas acho que não temos de discutir isso aqui. Agora, o meu problema é que isso que tu dizes, no cinema – porque não se trata de outra coisa qualquer –, não passa por “falar sobre” mas por “mostrar o”. Ou seja, um dicionário pode “falar sobre”, mas um documentário não. Quanto à questão do filmar o trabalho ser difícil: também reparei nisso. E, por exemplo, os tais cinco minutos tinham de ser para ver como o vidro é bonito, e, caramba, aquele filme é lindíssimo. A minha questão não cabe nos cinco minutos então, ou se calhar não cabe num exercício de escola. E o que me pareceu, ainda, foi que, numa série de filmes, o trabalho tinha de ter uma paisagem por trás. Não é o caso do filme da Marinha Grande, porque não se pode chamar paisagem a uma espécie de fábrica – porque aquilo já não são bem fábricas –, aos sítios onde as pessoas estão a trabalhar. Mas de facto é muito curioso quem faz os filmes não se atrever a filmar uma pessoa a trabalhar sem mar, rio ou natureza. Acho que são raros – não estou a dizer que não há, mas são raros – aqueles filmes em que não tenha que estar lá a paisagem para, digamos, avalizar o poder mostrar-se uma pessoa a trabalhar. Parece-me. EDUARDA DIONÍSIO. Eles trabalham em fábricas. Ainda. Há pessoas que ainda fazem o vidro em casa, mas aquele trabalho é feito em fábricas. RITA BONIFÁCIO. EDUADA DIONÍSIO. As fábricas, em 1930, ou já não sei quando as conheci, tinham um outro aspecto físico. Agora até já são paisagem, se calhar. E se calhar já se pode falar sobre elas, porque é bonito. PANORAMA ’06 | a fazer 79 RITA BONIFÁCIO. Relativamente aos cinco minutos: claro que era um tempo imposto. E um documentário é uma coisa pessoal – falámos bastante disto nas aulas. Um documentário, segundo o meu ponto de vista, é ficção. É ficcionado a partir do momento em que eu decido filmar aquele plano e não o outro. E portanto, o trabalho que eu filmei é só uma parte do trabalho do vidro. O vidro não é só aquilo. Há coisas antes, coisas depois, também. Agora, como a Ana disse, se é político ou a-político, isso, quer dizer... acho que nem sequer tive tempo para pensar. Mas talvez seja mais político do que a-político, certo? E tendo vivido lá, aquilo é uma coisa que mexe muito comigo. Apesar de não ter ninguém da família directa a trabalhar no vidro, é uma realidade com que eu cresci, com que eu nasci. Portanto, acho que politicamente pode fazer sentido. Se bem que não me questiono, lá está. Eu acho que em relação a mostrar os problemas da profissão, e mostrar mais as caras e não tanto os gestos, isso teria que ficar para outro trabalho. E não quer dizer que eu não pense nisso – eu penso. Mas para aquilo que me foi proposto, era isto que eu queria fazer. PUB (ANA ELISEU). O que eu disse tinha mais a ver com o que a Madalena estava a dizer, acerca do que esperava encontrar, de uma espécie de papel do documentário, ou de uma expectativa que o documentário tivesse um papel político. E se um filme não tivesse manifestos, ou não reivindicasse, ou denunciasse, falhava no seu aspecto político. E que estes documentários que passaram aqui – eu vi muito poucos – por não se debruçarem sobre essas questões, seriam a-políticos. E o que eu estava aqui a dizer é que o gesto político não tem já a ver com o assunto do documentário, tem a ver com a postura que se tem em relação a uma câmara, ou em relação a uma coisa que é proposta, ou em relação a uma necessidade que se tem... Isso é estar no mundo, e não é a-político: é político. Ou seja, parece-me que esta discussão devia ser mais a propósito disto, da pequena escala, e de uma espécie de... impossível herança da esquerda. O colectivo que desaparece, a comunidade que desaparece, as figuras como operário, camponês que não chegam, têm que se encontrar outras... Há outras? A pequena escala, o gesto, para mim é qualquer coisa de muito político, que precisamente vai ao fundo desta questão. É óbvio que as expectativas são de olhar para os filmes através de uma ideia de grande formato, é verdade. Mas quando olhas para aquilo que aconteceu, o que aconteceu foram filmes sobre o gesto, onde a política passa exactamente e apenas pelo gesto. Se calhar aí eu concordo que é preciso deixar de olhar com os tais filtros da esquerda impossível de que estavas a falar, para olhar para o que realmente está aqui. MADALENA MIRANDA. PUB ( ANA ELISEU ). Não é a esquerda que é impossível... MADALENA MIRANDA . Eu também acho que é preciso perceber onde é que estão as coisas. E quando é que os gestos, o pequeno ou o grande gesto, se torna político, ou não... Pensei que houvesse documentários sobre trabalhadores, sobre questões laborais, e não apareceram. E daí dizer que chegámos a um conjunto sobre o gesto, sobre a acção, sobre a actividade, sobre os processos, sobre os projectos, sobre os trabalhos de excepção. O que eu disse foi que esta grande 80 PANORAMA ’06 | a fazer categoria laboral que eu imaginaria que continuasse a ser, de alguma forma, objecto de documentários, se tornou rarefeita. Daí eu achar que se deve repensar esta ideia de trabalho, e este confronto com a pequena escala de que tu estás a falar. É isso. Acho que estamos as duas a dizer coisas mais ou menos complementares. Porque é que quando falamos de documentário falamos sempre de assuntos e não falamos de cinema? Porque é que aqui, havendo uma série de filmes tão diferentes (vi muito poucos, mas pelo que a Eduarda estava a dizer, e pelo próprio catálogo se percebe que há esta diversidade) não se fala da natureza dos planos, das condições, do fazer esses filmes, e não tanto dos assuntos? Porque não é uma questão de tema, às tantas, não é? Pode ser um modo de programar que dá para pensar esses temas, mas a questão aqui fundamental parece-me ser o cinema. O documentário é cinema. São imagens, desculpem lá. O facto de dizer que o seu filme podia passar na rádio, não abona muito ao filme. Eu não o vi, por isso não sei, mas não abona à partida. Ou seja, a imagem ou é uma coisa necessária ou não é... Mas não é indiferente. Não pode ser. PUB (ANA ELISEU). JOÃO ROMÃO. Não tenho uma ideia muito definitiva de como é que se distingue uma reportagem de um documentário, ou a ficção de um filme. Não me choca nada que esse objecto que eu fiz seja tratado como uma reportagem. Não me choca absolutamente nada. Há, no entanto, uma coisa que eu acho que distingue os dois tipos de trabalho, que é a questão temporal. Normalmente a reportagem é feita em relação a um acontecimento conjuntural, ou circunstancial, e os documentários normalmente são feitos sobre coisas mais estruturais, mais permanentes. Como o nosso país é lento, o filme que eu fiz há dois anos vê-se agora com total actualidade. Mas isso não faz dele um documentário, se calhar continua a ser uma reportagem, o país é que é lento e não se mexe, não sei... Faço questão que as pessoas percebam o que se está a passar ali. Agora, se lhe querem chamar documentário ou reportagem isso já não me faz muita impressão. Depois, quando disse que aquilo poderia passar na rádio, e tu disseste que isso não abona nada a favor do filme: tens toda a razão. Até pela constituição da equipa: o filme foi sendo construído. Tinha um guião, até bastante estruturado, mas não fomos ouvir dois lados, fomos ouvir oito, nove perspectivas diferentes de pessoas diferentes que têm um tipo de intervenção diferente neste trabalho. Daí não concordar com o facto de se dizer que não apareceram aqui filmes sobre questões laborais. O filme pode ser para a rádio, e pode ser uma reportagem, mas que estão lá as questões sociais e laborais, isso estão, ou pelo menos esforçámo-nos por isso. Eu acho que o documentário em princípio tem de estar bastante vinculado a uma pesquisa documental. Quer dizer, o autor ou... tem que ir pesquisar, tem que ir recolher documentos, tem que organizá-los e depois tem de encontrar uma forma de os transmitir. Eu acho que isso é que é a essência de um documentário, por assim dizer, e acho que a generalidade dos documentários, talvez por serem experiências, ou por as pessoas não terem condições para fazer o trabalho como deve ser, acabam por não ter a pesquisa que eu esperava que um documentário tivesse. Depois há tipos economistas, como eu, que sabem fazer pesquisas mas não sabem fazer filmes. E de facto este não foi muito trabalhado em termos de imagem. Foi muito trabalhado em termos de texto e a imagem ali é acessória, completamente. PANORAMA ’06 | a fazer 81 EDUARDA DIONÍSIO. Não consigo entrar nestas conversas dos géneros, mas em termos de reportagem penso que dos documentários que eu vi aqui os que têm que ver com reportagem são o da Leonor Areal e o da Catarina Alves Costa. Esses para mim é que são reportagem. Ou seja, reportagem é seguir um processo durante um tempo e reportar aquilo que se passou ao longo desse tempo. E acho que esse tipo de filmes é que é de outro género – não “género” no sentido da teoria do cinema ou da teoria da literatura – daquele em que se insere uma encomenda. Outra coisa é quando se gosta muito da Marinha Grande (eu também gosto muito, pronto) e se tem de mostrar aquelas imagens porque se gosta muito. E essa história da política ou da não política penso que se relaciona é com a distância ou proximidade que as pessoas têm aos temas que são levadas a tratar. Porque se há uma empresa que encomenda, a pessoa faz; se na escola o professor diz para fazer de uma certa maneira, a pessoa também faz; mas há filmes que nascem de uma necessidade, ou de um encontro entre uma proposta ou encomenda e aquilo que a pessoa está a pensar, e daí é que eu acho que pode vir a tal política, chamemos-lhe assim. É a pessoa estar próxima ou distante de um assunto, e aquilo dizer-lhe alguma coisa, e contar para a vida dela (não para o currículo). Tanto o filme da Catarina Alves Costa, em relação à Arqueologia, como o filme da Leonor em relação àquela equipa, são filmes que pegam num processo. E aí já é mais difícil – penso eu – não aparecer a política. Neste sentido em que se a pessoa seguiu um processo, teve de assistir a uma data de coisas, e teve de perceber que há opções e que provavelmente está mais de um lado do que doutro. Por exemplo, no filme da Arqueologia, para mim, ao fim daquilo tudo, nasceu-me a dúvida. E eu fiquei a pensar que se calhar aquilo que estava ali dito era tudo errado (dito – mostrado, quero dizer). É que se calhar não era nada daquela coisa que a pessoa achou que era. Mas isso é que é interessante no filme, para mim. É que eu estive em dúvida sobre aquilo. Não foi me mostraram uma coisa que já está feita, uma ideia que já se tinha e que se vai documentar com umas entrevistas. LEONOR AREAL. Eu concordo com essa análise. Os termos é que eu acho que estão usados ao contrário do que é mais consensual. Ou seja, documentário não tem tanto que ver com documentar o assunto e a reportagem não tem tanto que ver com o trabalho ao longo do tempo. A reportagem, digamos, está entre o documentário e o jornalismo, e é uma coisa geralmente considerada mais breve no aprofundamento do assunto. E o documentário ao contrário. Foi só para dizer de outra maneira, se não não valia a pena. EDUARDA DIONÍSIO. LEONOR AREAL. Em termos de terminologia nem sempre se usam assim essas palavras. EDUARDA DIONÍSIO. Pois não, mas podemos ver que às vezes as palavras não estão a ser usadas da melhor maneira. Bem, eu acho que as palavras são sempre um problema. De um modo geral a gente tem sempre que perceber como é que elas são usadas pelos outros, e não para nós. LEONOR AREAL. EDUARDA DIONÍSIO. Mas assim provavelmente não haveria este festival porque teriam de definir primeiro se estavam de acordo com a definição de documentário a propósito dos filmes que puseram aqui. 82 PANORAMA ’06 | a fazer LEONOR AREAL. Anda-se a discutir isso lá em baixo nos átrios, anda. No debate “Em Comum”, o Miguel Clara Vasconcelos já tinha abordado ao de leve esta distinção problemática entre documentário e reportagem (e José Manuel Costa citará Joris Ivens no debate final com a sua definição de documentário: “uma no man’s land entre a reportagem e a ficção” ). Documentário, segundo o dicionário, é: “aquilo que é relativo ou tem valor de documento; filme, geralmente de curta duração, de carácter informativo”. E a reportagem: “actividade que compreende a recolha, análise e preparação da informação sobre um dado tema, de forma a poder ser transmitida num órgão de comunicação social; notícia desenvolvida, em que se pretende cobrir os acontecimentos com pormenor; função ou serviço de repórter”. Do conceito ‘documentário’ sublinha-se a palavra ‘filme’ (que num sentido figurado é, eloquentemente: “história rebuscada e exagerada”...), isto é, sublinha-se a existência do documentário enquanto objecto cinematográfico, produto da “arte de fazer filmes”. Por outro lado, do conceito ‘reportagem’ enfatiza-se a palavra ‘transmissão’: “passagem; dar a conhecer; emissão”. Assim, apesar de serem objectos relacionados intimamente com a informação (“conjunto de dados, em princípio imprevisíveis, recebidos do exterior, ou por um ser vivo (especialmente o homem) por intermédio dos seus sentidos, ou por uma máquina electrónica”), o documentário tem valor de documento por si só, por ser a construção fílmica de um autor; enquanto a reportagem é um elemento de transmissão do documento – daí que seja um produto dos media –, qualquer coisa que se procura construir da forma mais neutra possível, de modo a manter-se e não ser mais do que canal – e isto apesar de corresponder à actividade de uma pessoa, um repórter. Tal como sublinhou o Miguel nesse tal debate, e como aqui é desenvolvido, um dos elementos primordiais de distinção entre documentário e reportagem é o assumir a dimensão de criação no primeiro, e a procura da neutralidade na segunda. PUB 2. Gostava de dar os parabéns a todos. De cinema percebo muito pouco, estou aqui como mera espectadora e portanto não me vou prender com considerações sobre documentário, reportagem ou o que quer que seja. Apanhei isto a meio e julgo que no início a Madalena estava a falar da temática do trabalho ou do “a fazer” e de como afinal os filmes tinham fugido do trabalho e se tinham voltado todos para o “fazer”. Eu gostava de lhe dar os parabéns porque mesmo contra a sua vontade ficou a ganhar. Há diferentes formas de abordar a temática do “fazer” e o festival, a mostra, o que lhe quiserem chamar, saiu enriquecida. Há um ponto que a Eduarda tocou que eu achei fundamental. Para lá dos planos, da questão da reportagem, do documentário – não posso pegar por aí – ela falou das palavras. E daquilo que eu vi – não vi todos (vi o do Hugo, vi o do sal [O Sal da Terra e do Mar], o do João, vi o dos gestos [Mão de obra], também) – muitas vezes acho que a palavra (tal como a Eduarda sou mais sensível a isso) não foi tão bem usada como aquilo que nós esperávamos. Ou pelo excesso ou pela falta. No caso do Hugo eu gostava de lhe dar os parabéns porque acho que a imagem conseguiu estar ao nível da palavra. Obviamente que ao usar Herberto Hélder ganha muito, mas ele conseguiu equilibrar as coisas. E não sabia – e é aqui também que eu gostava de dar os parabéns, e calo-me já – que a nível académico se faziam trabalhos tão interessantes e para nós, que estamos a ver, e que não temos pretensão alguma de fazer o que quer que seja nesta área, é bastante enriquecedor. PANORAMA ’06 | a fazer 83 PUB 3. Vou fazer uma provocação à Eduarda, não ia resistir. Bem, em primeiro lugar gostaria de dar os parabéns a todos, também. E depois, quando se falou aqui de questões políticas e questões sociais relacionadas com o trabalho, isto é um lugar-comum, mas eu vi-me situado quase no neo-realismo italiano. Acho que já não faz muito sentido o gesto, como foi dito. E toda a simbologia, todas as referências, quer os significantes, quer os significados, remetiam-nos para questões políticas. Eu às vezes dei comigo a pensar que íamos ficar confrontados quase com uma visão épica do trabalho. Vocês são jovens, têm uma visão completamente diferente do trabalho, e por isso remetem-nos para uma individualidade e para um olhar único sobre esse trabalho. Não tenho nada contra o neo-realismo, bem pelo contrário, aprendi muito com os autores neo-realistas, mas um documentário não pode ficar circunscrito apenas ao universo, digamos, enfim... EDUARDA DIONÍSIO. PUB Mas é a mim que está a dizer isso? 3. Não, não. Estou a dizer... é uma provocação. EDUARDA DIONÍSIO. Como era uma provocação para mim, achei que me estava a dizer isso a mim. PUB 3. Não, não. Quando se falou ali do gesto... o gesto pode ter um significado muito importante em termos das diferenças sociais, das diferenças relacionadas com o trabalho, e é por aí que eu gostava de referir esta questão. Vou ser mais claro. O trabalho não aparece... ou seja, há ali gestos, há referências, há todo um conjunto de situações que nos remetem para o mundo do trabalho. Agora, depende do ponto de vista, e depende da perspectiva, e da abordagem. Não é preciso fazer uma abordagem neo-realista ou muito datada relativamente a essas questões. É justamente isso que eu gostaria de referir. EDUARDA DIONÍSIO. PUB 3. Pois. EDUARDA DIONÍSIO. PUB Então não vale a pena falar no assunto. Não é possível, e pronto. 3. Não, possível é. EDUARDA DIONÍSIO. PUB Nem é preciso, nem é possível. É? 50 anos depois...? 3. Por exemplo acho que basta aparecer um texto do Herberto Hélder, e mesmo aquelas imagens são muito significativas em relação a uma dimensão política, e a uma maneira de estar e de sentir e de ver o mundo. Mas eu não falei de política nenhuma. Quem falou, para provocar, foi a Ana, para responder à Madalena, e depois já se esteve a falar de outras coisas e depois eu, muito tempo depois, usei essa palavra. EDUARDA DIONÍSIO. PUB 3. Sim, mas ó Eduarda, parece que se resvalou aqui quase para a ideia de um documentário comprometido, literatura engagé, ou... 84 PANORAMA ’06 | a fazer EDUARDA DIONÍSIO. Não vi isso da parte de ninguém. Há é uns ouvidos que assim que ouvem umas palavras ligam a outras que ninguém disse. PUB 3. Pronto, então peço imensa desculpa. Foi um equívoco meu. É que isto quase que resvalou aqui para uma visão comprometida do... MADALENA MIRANDA . Mas porque não falar de cinema comprometido? Porque é verdade, e quando a Rita diz “vamos fazer escolhas”, quando ela decide mostrar uma pessoa que está a trabalhar na Marinha Grande e bebe oito litros de água por dia, e em vez de mostrar isso, mostra os planos do vidro, essa é uma decisão política. PUB 3. Claro que é. Pronto. No gesto daquele homem há imensa política, a imensos níveis, podemos tirar daí imensas coisas. Mas é verdade que há coisas que são umas e que não são outras. MADALENA MIRANDA . PUB 4. Isso por um lado tem a ver com o que a Eduarda tinha dito. Ela não falou em política, mas acho que há uma coisa mais importante na política, que é a escolha dos temas. Ninguém financia um filme que tenha uma visão própria. Financiam-se coisas mais formatadas. Tal como há a formatação do tempo, também existe um bocado a formatação dos temas, e do que é suposto as pessoas gostarem de ver e fazer. EDUARDA DIONÍSIO. Agora, se estivesse aqui o Saguenail começava a falar dos filmes que ele produz sem subsídios… Não é uma inevitabilidade. Não é preciso ter subsídios para produzir. MADALENA MIRANDA. E isso depende do nível. Porque, por exemplo, o canal Plus pagou o filme da Agnés Varda Os respigadores e a respigadora. Basicamente tu estás a falar do gosto, da sensibilidade e da capacidade ou do poder de acção dos decisores das televisões. A minha pergunta agora é ao contrário: ninguém paga à Rita para fazer um filme sobre o vidro da Marinha Grande. Será que a Rita deve deixar de o fazer por isso? RITA BONIFÁCIO. Acho que o Panorama é de louvar porque dá a ver uma série de filmes, de jovens, de pessoas que não têm a possibilidade de exibir se não aqui. E são pessoas com as suas mini dv’s, na grande maioria. Não há dinheiro envolvido nestes filmes, há muita vontade. MADALENA MIRANDA . EDUARDA DIONÍSIO. São as tais esferográficas. Exacto. É a parte melhor. PANORAMA ’06 | a fazer 85 86 PANORAMA ’06 | abc debate RETRATOS o segredo de uma aproximação PROGRAMAÇÃO: O Primeiro Concerto | António de Sousa [ 8’] Marrabentando | Karen Boswall [ 58’] Nos Braços do meu Xodô | Maria João Taborda [ 20’] Brooklyn | Daniel Ruivo [ 10’] Tamira | Marta Lima [ 20’] A Utopia do Padre Himalaya | Jorge António [ 52’] O Escritor Prodigioso | Joana Pontes [ 62’] Lisboa, Cidade Triste e Alegre | Luís Camanho [ 45’] Mais um dia de noite | António José de Almeida [ 58’] Remember me in your Dreams | Maria João Tomaz [ 10’] Falta-me | Cláudia Varejão [ 20’] A Barba e a Base | Joana Montez, David Costa [ 11’] Estrela da Tarde | Madalena Miranda [ 25’] Conversas com Glicínia | Jorge Silva Melo [ 55’] CONVIDADOS: Maria José Palla (fotógrafa) MODERADO POR: Inês Sapeta Dias 2.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | retratos 87 88 PANORAMA ’06 | retratos Excertos de um debate de onde ressalta a ideia do confronto do cineasta com um universo, e os conflitos inerentes à saída desse universo com um objecto finito e delimitado chamado ‘filme’. Os filmes agrupam-se sob o tema que nós achámos recorrente e que os ligou para nós: “retratos”. De maneiras muito diferentes, estes filmes entraram no universo de alguém ou de algum grupo, e a minha primeira questão começa exactamente por aí e é dirigida aos realizadores que estão aqui presentes: gostava que falassem um pouco sobre o vosso filme, sobre a experiência de filmar alguém, entrar num universo particular e sair de lá com um objecto, concreto. Que dúvidas é que tiveram, que pontos de partida tinham? INÊS SAPETA DIAS. O filme foi feito durante o curso de realização de documentários dos Ateliers Varan no ano passado, o que quer dizer que foi feito dentro de condições específicas: tínhamos três meses de um curso de onde sairíamos com um filme. MADALENA MIRANDA [ ESTRELA DA TARDE ]. O meu projecto inicial era sobre jovens artistas finalistas de pintura da Faculdade de Belas Artes porque queria fazer um filme sobre o sentimento de decidir ser artista. Quando estava a fazer a pesquisa, as pessoas que eu ia filmar acabaram por não querer fazer o filme, e os nossos formadores na altura disseram que era natural porque seria uma coisa um bocado perigosa para elas, e que a minha tentativa de fazer um auto-retrato também era perigosa para mim. Acabámos por andar de um lado para o outro, todos os dias à procura de um tema para o filme, o que era um bocado cansativo. E depois uma amiga minha disse-me que a mãe dela sempre tinha querido ser artista e que nunca o tinha podido ser, e que era dona de casa. E eu gostava muito de donas de casa porque gosto muito dos gestos, de uma pessoa perder tempo dentro de uma casa, e dessa remontagem que é um quotidiano. E fui conhecer a Maria Helena e perceber como é que era vida dela, e se poderia ser retratável. Quando eu digo ‘retratável’, falo da ideia de perceber o que é que se pode mostrar da vida de alguém que não seja total. Porque a vida dela, de uma forma biográfica ou biológica, não era o meu ponto de partida. E pronto, basicamente depois... no primeiro dia tive um bocado de medo, porque ela era muito overacting, mas depois percebi que nos divertíamos, e que havia um retrato maior para fazer. Foi de certa forma este o ponto de partida. Perceber que se estava por um lado a fazer uma coisa muito concentrada numa estrutura, e que por outro lado se dava abertura para criar um retrato maior de uma pessoa, de uma geração, de uma História. MARTA LIMA [ TAMIRA ]. Realizei o filme Tamira no âmbito do mesmo curso de que a Madalena fala. E, tal como ela, estava com problemas em encontrar um projecto ou um tema para fazer um filme, e entretanto lembrei-me de uma amiga me falar da Tamira, de como tinha conhecido os avós dela em Cabo Verde, e então falei com ela e fui conhecer a Tamira. E eu sou uma pessoa de paixões e do espontâneo e de impulsos e automaticamente me apaixonei pela Tamira. Portanto, não decidi fazer o filme por um tema, decidi fazer o filme pela pessoa que a Tamira é. PANORAMA ’06 | retratos 89 Uma grande questão que se me colocou sempre quando eu estava a fazer o filme foi o que é que eu ia trazer àquela pessoa. Estava a entrar na vida de alguém, estava a fazer imagens e não conseguia deixar de pensar isso mesmo, o que iria eu trazer à Tamira, o que estaria de facto a fazer ali. E foi nesse sentido que eu tentei orientar o filme. Não ser só algo para mim ou para responder às minhas questões, mas algo que pudesse trazer qualquer coisa também à pessoa que eu estava a filmar. O filme chama-se Falta-me e é uma curta-metragem documental onde eu pergunto a uma série de habitantes de Lisboa o que é que lhes faz falta na vida. Essa resposta, por sua vez, é escrita num pequeno quadro, numa ardósia. E portanto, é um dia desde manhã até à noite, percorrido só através dessas respostas. CLÁUDIA VAREJÃO [FALTA-ME]. Apesar da estrutura narrativa já exisitir, acho que todo o processo de construção do filme aconteceu na mesa de montagem. Portanto, eu tinha cerca de 200 respostas, cerca de 200 personagens, e o filme cresceu todo na mesa de montagem. LUÍS CAMANHO [ LISBOA C IDADE TRISTE E ALEGRE ]. Eu realizei o Lisboa Cidade Triste e Alegre. E eu penso que o meu deve ser diferente da maior parte dos outros filmes, porque não é sobre alguém em concreto. O filme da Cláudia também não era um retrato de alguém em concreto, mas o da maior parte das pessoas era. O meu filme foi feito em três meses, teve 15 dias de rodagem, não teve qualquer apoio financeiro, foi uma maluqueira. E foi uma maluqueira feita apenas por compromisso para com os familiares do autor do livro que retratei, por terem sido tão simpáticos comigo quando eu estive a fazer um estudo sobre o livro e tive tanta dificuldade em encontrar informações sobre ele. Não existem praticamente informações e as que existem não são totalmente verdade. E eu acho que este é um livro fundamental para compreender a História da cultura contemporânea portuguesa, não só da cultura fotográfica. Mas para isso era preciso entrar em detalhes e se alguém quiser fazer perguntas – que pode fazer – ia perder muito tempo porque há matéria para falar muito, muito. Entrevistei cerca de 20 pessoas, em 10 dias, em Lisboa. Eu sou do Porto – não sei se notaram pelo sotaque. Andávamos com a câmara na mochila, de metro, e pronto. Acho que é impossível fazer um retrato. Quanto muito podemos tentar fazer um retrato, só. E aquilo que eu tentei foi que várias pessoas, que são conhecidas e que têm responsabilidades no meio cultural português, falassem sobre o livro. E depois tentar fazer com que aquilo que elas dizem encaixasse de tal forma que parecesse quase que estavam a conversar. E acho que isso está mais ou menos conseguido. Está quase. Mas não está conseguido. Lá está: é uma tentativa. Tentei. Este documentário é fruto de um ano de estudo na Restart, de um curso profissional de audiovisuais. No final do ano juntámo-nos todos e fizemos este documentário. JOANA MONTEZ [A BARBA E A BASE]. O tema... pensámos em imensas coisas, mas depois tivemos oportunidade de conhecer o Jorge que se disponibilizou imediatamente para fazer este documentário, esteve o tempo todo connosco, 90 PANORAMA ’06 | retratos ajudou-nos imenso, e teve uma abertura enorme em relação a todos os temas e a tudo o que lhe perguntámos. E por tudo isto, alinhámos logo nesta escolha. Ao princípio aproveitámos para filmar tudo, desde os shows a entrevistas. E só depois, quando tínhamos tudo filmado, é que pensámos no que íamos fazer daquilo. E então pensámos logo na sensação, naquilo que queríamos transmitir ao público, e acabámos por chegar à conclusão que queríamos transmitir as coisas exactamente como elas eram. Não dar a imagem de um mundo diferente. Não tentar fazer com que as pessoas que não gostam, ou não se sintam identificadas, passem a gostar, ou o contrário. Mostrar exactamente aquilo como era. E foi o que aconteceu, porque as pessoas que não gostavam continuavam a não gostar, e as pessoas que gostavam, continuavam a gostar. Só viram exactamente aquilo [o travestismo] como era... Como, por exemplo, o facto de o Jorge usar o trabalho como um divertimento, e ser um hobbie. Mostrar que um travesti não tem de ser mais ou menos homem. Eu acho que essa foi a imagem que ele conseguiu transmitir. E que a mim, e a nós todos que realizámos o filme, surpreendeu imenso. Não estávamos à espera. Ele tinha uma história de vida incrível, a cada pergunta que fazíamos saía de lá uma resposta sempre surpreendente. MARIA JOSÉ PALLA . Para mim, o retrato é sobretudo o interesse no ser humano, na pessoa. É sobretudo, também, deixar uma marca, porque a vida é efémera, e com um filme, ou com um retrato – porque eu só sou fotógrafa – fica fixo. Tanto na fotografia como no cinema, fica fixo. E acho muito interessante este conjunto, porque são filmes muito diferentes. Desde o filme do Luís, que não é retrato. É a história de um livro, não fala dos autores – muito pouco. Não há biografia dos autores, não se sabe nada sobre o Victor Palla, e não se sabe nada sobre o Costa Martins. Não se sabe. Ao contrário do filme sobre o Luís Pacheco, onde se ficam a conhecer muitas coisas. O retrato, penso que, tal como o Luís disse, é muito difícil de fazer. Só se consegue encontrar uma parcela da pessoa. Eu sou fotógrafa, faço retratos e faço auto-retratos sobretudo. E é sempre uma parcela de mim que eu mostro. E quando vejo essa parcela de mim há sempre uma estranheza, pergunto-me sempre se aquela serei eu. Quando qualquer pessoa faz um retrato, um filme-retrato sobre alguma pessoa, isso é sempre parcelar. O último filme, por exemplo, sobre a Glicínia, é quase um auto-retrato, mas é também ele parcelar porque ela só fala do teatro, não fala da vida privada. É uma entrevista, no fundo. O filme da Glicínia é uma entrevista que constrói um auto-retrato. O filme da Cláudia, para mim, no fundo, pode ser vários retratos, ou 200 retratos. Não sei se a Cláudia disse às pessoas o que deviam escrever na ardósia, ou se foi… CLÁUDIA VAREJÃO. Não, foram as pessoas que escreveram. MARIA JOSÉ PALLA. Pois, até havia erros... foram eles que escolheram as frases. Achei fascinante, porque é um filme poético. É um poema, com uma interessante relação entre imagem e texto. É quase redundante. Porque nós perguntamo-nos o que é que elas irão dizer, mas no fundo sabemos que vão dizer o que está escrito. Pensei que talvez de repente houvesse uma reacção qualquer, e acontecesse uma coisa completamente diferente, mas não acontece. Há uma simbiose entre o texto e a imagem e isso é muito bonito, porque é clássico. São 24 horas clássicas, no tempo e no espaço. Achei muito interessante. PANORAMA ’06 | retratos 91 Peço desculpa por não falar nos outros filmes mas fui jantar e não vi, portanto só posso falar nos filmes que vi. Do filme do Luís não posso falar muito porque é um filme sobre o meu pai, e portanto é um pouco... estranho. Agora seria interessante que falássemos todos. PUB (ANA ALMEIDA). A minha pergunta vai justamente para os filmes da Madalena e da Marta, de que a Maria José Palla não falou. Antes de mais, queria fazer um reparo: sou péssima com conceitos, mas acho que os filmes que vi, por exemplo o filme da Marta e da Madalena, são de facto retratos. A questão dum retrato ser parcelar, ou completo: completa é a pessoa. Um retrato é um recorte, uma visão, uma perspectiva, qualquer coisa, um momento, um recorte no tempo. MARIA JOSÉ PALLA . Por isso é parcelar. PUB (ANA ALMEIDA). Sim, mas eu não acho que um retrato seja parcelar. Quer dizer, é parcelar em relação à pessoa, mas é completo em si. De qualquer maneira não queria perder muito tempo com isso, era só um reparo. Poderemos voltar aí de qualquer maneira, mas agora queria fazer uma pergunta, deixar uma dúvida. Eu gosto muito do filme da Madalena, já o tinha visto antes, também tinha alguma curiosidade em relação ao filme da Marta. E a minha principal pergunta dirige-se especialmente aos vossos filmes, mais do que por exemplo ao filme da Cláudia. Talvez no filme dela isto que vou perguntar também faça sentido – ela verá se a pergunta lhe toca ou não, ou se isto faz sentido para o trabalho que fez; eu vejo o teu filme mais como um mosaico, não tem tempo, não era esse o seu objectivo; mas os outros dois filmes, o Tamira e o Estrela da Tarde, são mesmo sobre aquelas pessoas. Depois partem para qualquer coisa de maior, partem para qualquer coisa de diferente, dão um salto para o universal, e é isso que os torna bons filmes, bons documentários. Mas como é que se chega ao pé de uma pessoa, como é que se chega ao pé da Tamira, como é que se chega ao pé da Maria Helena e se lhes explica: “agora o meu filme é sobre ti”. Como é que é a reacção das pessoas a isso? É isso que se lhes diz? Ou como é que se aborda uma pessoa quando se lhes quer dizer que se quer fazer um filme sobre ela? Como é que se gere isto? Como é que a pessoa reage e como é que é desenvolvido o trabalho? Não sei se a vossa própria relação com a pessoa evolui – suponho que sim, mas vocês poderão dizer melhor que eu. Em relação à Cláudia... também tenho alguma curiosidade para saber se a pergunta de alguma maneira também te provoca algum comentário. Em relação à Maria Helena, ela disse uma coisa quando viu o filme que eu continuo sempre a achar divertida: “este foi o melhor filme que fizeram sobre mim”. E é o único. De alguma forma isto demonstra o quão preparada ela estava para este casting. Eu só conheci a Maria Helena para fazer o filme, não a conhecia antes. Portanto, quando eu cheguei e me apresentei, esta era a minha proposta. A partir daí a nossa relação estabeleceu-se sempre para o filme (e depois para além do filme também, e ainda bem). Mas essa foi a proposta primeira. Expliquei-lhe o que é que queria fazer, que queria fazer um filme sobre artistas, que a tinha vindo conhecer porque a filha me tinha dito que ela queria ter sido artista. Quando MADALENA MIRANDA . 92 PANORAMA ’06 | retratos a conheci percebi que não tinha jeito nenhum para ser dona de casa e que eu iria querer filmar isso. E ela estava... foi generosa e abriu as portas da casa dela, e foi muito justa a nossa relação quanto a isso. Houve depois um outro nível no filme – há mais dois níveis no filme – quando eu percebi qual era o universo dela. Para além do fio condutor da construção da casa e deste conflito, havia uma relação com uma História e com um passado. Quando percebi isso, comecei a falar com ela sobre o assunto, e a sugerir que pusesse o disco dos 25 anos do 25 de Abril (e a Marta estava lá, é uma coisa gira podermos falar assim do filme uma da outra...). Houve, portanto, um outro nível que construímos. Foi sempre uma coisa construída a duas. Sei lá... parávamos de filmar para nos rir. E ela aceitou isso, sempre, como ponto de partida. Muitas pessoas me perguntaram o que é que eu achava, se não achava ridículo, e como é que tinha sido a exposição daquela pessoa. Acho que esta é exactamente a questão do equilíbrio e da justa-medida. O que eu sempre achei foi que a partir do momento em que, enquanto estivesse a filmar, este equilíbrio estivesse lá, o conforto entre ambas as partes existisse, as coisas eram justas. Eu não acho que haja um grande outro lado que é revelado, depois, quando as coisas aparecem. Acredito que continua a ser na relação que se estabelece este contorno do retrato. Portanto, se o ridículo não está lá, se o desconforto não está lá, se se faz a dois, isso é o que fica. Foi de facto uma questão com que me confrontaram muitas vezes em relação a este filme. E eu respondia sempre que não me ria da Maria Helena, ria-me com ela. Eu gosto muito de pessoas. E para resolver filmar a Tamira eu tive que gostar dela. Acho que não conseguia fazer um filme de alguém de quem não gostasse. Comecei por conhecê-la e estabeleceu-se uma empatia, uma relação. Eu já não sei como é que introduzi o assunto, não sei como é que lhe perguntei, sei que ela disse que sim e a partir daí continuámos a conhecer-nos ao longo da filmagem. MARTA LIMA . PUB ( ANA ALMEIDA ). Quer dizer não era tanto... Ponho-me no lugar de alguém a quem é dito: “olha, vou fazer um filme, e acho que pode ser sobre ti”. E começo a pensar “o que é que terá a minha vida....” e, quer dizer, essas pessoas são especiais, e cada pessoa é especial, mas... vocês fizeram retratos muito únicos, de pessoas muito particulares, mas se calhar elas também são tão particulares porque vocês perderam tanto tempo a olhar para elas, a tentar compreendê-las. Se calhar foi acontecendo. Porque ao início nem eu sabia muito bem o que é que ia filmar. E então, muitas vezes reparei que a Tamira sabia melhor o que é que eu ia filmar, do que eu própria. MARTA LIMA . CLÁUDIA VAREJÃO. Em relação a este processo todo, de como é que eu cheguei... são tantas personagens no meu filme. Terei uma espécie de micro-representação do que poderá ser um contacto com uma personagem. Acho que é uma sedução de ambas as partes, e uma entrega de ambas as partes. E uma generosidade, como a Madalena disse. Depois, o que acontece no Falta-me é que não há um processo tão prolongado. Ou seja, eu sei quais são essas ausências que eles me dão, eu pergunto porquê, em off, eu sei o que é que PANORAMA ’06 | retratos 93 aquilo quer dizer, mas não há uma relação mais aprofundada como no trabalho delas. Mas há esse contacto inicial. A Joana há pouco dizia “ele é um travesti, mas é um travesti diferente”. Então, se calhar, referindo-me aos outros filmes que passaram nesta secção, “Retratos”... No caso da Madalena, por exemplo, também temos uma dona-de-casa, que é uma dona de casa diferente. E no caso do filme da Marta, uma criança, que é uma criança diferente. Então a minha pergunta é: será que o teu travesti não é um travesti diferente porque foi alguém com quem passaste mais tempo? E será que essa diferença não vem do processo que tu acompanhaste, o da feitura do filme? O que é diferente é a relação que tu estabeleceste com ele em relação a uma realidade que te é desconhecida. PUB ( ANA ALMEIDA ). JOANA MONTEZ. Precisamente. Eu nunca fiz nenhum documentário, mas tenho sempre a sensação de que – e é disso que temos estado aqui a falar – à medida que te aproximas, e à medida que o tempo passa, as coisas se vão transformando. PUB 94 ( ANA ALMEIDA ). PANORAMA ’06 | retratos debate DETRÁS DO PALCO o segredo de uma aproximação II (e da experiência vivida pelos alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema) PROGRAMAÇÃO: Aquecimento | Miguel Ribeiro [ 14’ ] Para além do Tejo | Patrícia Poção [ 74’] Se Podes Olhar Vê, Se Podes Ver Repara | Rui Simões [ 40’] Olhares Cinematográficos no Lugar de Gaia | João Lisboa [ 30’] In Utero | Alexandre Martins [ 67’] Projecto “Companhia Rui Lopes Graça” | José Carlos Fraga [ 8’] Ópera Aberta | Leonor Areal [ 75’] Circo! | Rui Ribeiro [ 37’] Inside Out | Leonor Noivo [ 11’] O Encontro | Luciana Fina [ 61’] CONVIDADOS: Fernanda Lapa (actriz, professora na Escola Superior de Teatro e Cinema) MODERADO POR: Inês Sapeta Dias 3.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | detrás do palco 95 96 PANORAMA ’06 | abc Mais uma vez, as questões levantadas por um bloco de programação são continuadas no debate do bloco seguinte. Desta vez trata-se da construção do retrato e das problemáticas inerentes à aproximação a um objecto (neste caso o processo de trabalho nas artes dramáticas), de cujo encontro resulta um filme finito e delimitado. Continua-se a falar de implicação e envolvência com o olhado, e das diferentes formas de resolver isso através do cinema (tendo maior ou menor consciência desse mecanismo). Seguem-se os excertos deste debate que poderão servir o seguimento desta reflexão. A primeira questão que eu coloco vai no sentido de resolver uma curiosidade que é a de saber como surgiu a vontade de fazer este trabalho. Gostava que apresentassem o vosso filme, dizendo onde é que começou o projecto, e se existiu no filme uma vontade interna, que partiu de vocês, ou se foi uma encomenda e portanto a pesquisa cola-se muito à pesquisa do grupo que vocês estão a filmar. INÊS SAPETA DIAS. Este documentário partiu de dois movimentos: sou da Escola Superior de Teatro e Cinema, e tinha de fazer um estágio de 600 horas e não me apetecia fazer o estágio só por fazer. Como tenho uma paixão assolapada, já há muitos anos, pelo documentário, achei que podia aproveitar parte dessas 600 horas para o explorar. E depois, como mesmo ali ao lado temos o departamento de Teatro, apareceu a vontade de perceber se os dois departamentos estavam mesmo de costas voltadas ou se realmente eram iguais. Basicamente foi este o princípio do filme. Eu tive muitos problemas. Começaram por ser problemas técnicos e depois acabaram por estar relacionados com a forma como me fui integrando no grupo e como parte dele me rejeitou. Eu já estava um bocado à espera disso, é um processo normal. Perfeitamente normal. Mas tentei sempre conhecer primeiro o grupo para tentar perceber como é que eu podia integrar-me nele. ALEXANDRE MARTINS [IN UTERO]. O Para Além do Tejo não foi pensado previamente, surgiu a convite do Teatro Meridional, nomeadamente do Miguel Seabra e da Natália Luísa, que me pediram para fazer um registo do trabalho deles na construção de um espectáculo. Comecei o registo sem pensar em documentário, apenas em registo. E a dada altura já tinha 40 horas de filme, já tinha material mais que suficiente para poder mostrar de que forma todo um grupo de actores evoluiu, e conseguiu construir uma peça de teatro sem texto e com base numa região do nosso país. Surgiu então a ideia de pegar nessas 40 horas de filme e fazer um documentário. Tive graves problemas de som porque nada do registo foi feito a pensar em futuramente poder fazer um documentário, e poder mostrá-lo a mais alguém para além dos actores, encenador e Teatro Meridional. Mas surgiu essa hipótese, aconteceu, e foi o que foi. PATRÍCIA POÇÃO [ PARA ALÉM DO TEJO ]. LUCIANA FINA [ O ENCONTRO]. O meu filme foi o resultado de um convite, mas não foi uma encomenda. Há uma diferença, porque acho que um convite tem a ver com afinidades, e uma encomenda tem a ver com processos de produção. Portanto, quando falo em convite, falo de afinidades porque já há alguns anos que partilho interesses com as Danças na Cidade. Interesses que alimentam o meu trabalho: por um lado, as práticas interculturais – tenho PANORAMA ’06 | detrás do palco 97 trabalhado muito nisso –, migrações e movimentos das pessoas; e por outro lado, a relação entre a imagem em movimento e as artes performativas, mais particularmente a dança contemporânea, com que vivi em grande proximidade, e com que também tive uma relação profissional durante muitos anos. Portanto, o filme foi resultado desta afinidade, deste convite, e ao mesmo tempo de uma co-produção, porque decidimos co-produzi-lo. Como comecei a fazer o filme? Posso contar que estavam 40º em Agosto, de 2003, não sei se se lembram, foi um Verão quentíssimo. Era um mês de intensíssimas actividades – seminários e workshops – com uma particularidade: as práticas da dança são mais conhecidas ou imaginadas como práticas só do corpo, e ali havia a questão do pensamento à volta das questões multi-culturais ou interculturais. Portanto, havia diversos coreógrafos convidados de diferentes cantos do mundo, e ao mesmo tempo um grupo grande de pessoas, de performers, convidados a ter todas essas experiências. Havia ainda um seminário dado por um antropólogo, o André Lepecki, que proporcionava uma experiência de tipo diverso, onde se partia do pensamento para passar a uma prática, a um exercício prático. Decidi, ao filmar – e isto tem a ver também com opções que, se calhar, se fazem ao princípio – ter o meu método. Isto é, acompanhar filmando a realidade que queria que fosse a matéria do meu documentário, mas ao mesmo tempo fazer opções à partida. Uma dessas opções foi escolher o seminário do André Lepecki como fio condutor da minha futura narração. Outra dessas opções prendeu-se com o meu desejo de falar de movimento, e da forma de estar com as pessoas. No princípio eu estava a dizer que no fundo faço filmes porque gosto de experienciar o mundo, e acredito que o cinema seja uma boa forma de ter uma experiência do mundo. Mas neste caso eu tinha 54 pessoas que vinham realmente de muitos cantos do mundo, e achei que tinha de derrubar a localização deste evento, onde todas elas se encontravam. Portanto, precisava de alguma coisa que fizesse isso. E durante a primeira semana estive muito com eles, e as opções acabaram por resultar de exercícios que eles faziam sobre a memória, sobre a visão, e o meu desejo de trabalhar sobre o retrato. A ideia era construir uma hipótese de mais mundo. E portanto, ter não só esse local onde eu filmava, mas também outros locais, que podiam permanecer enquanto substância no filme através do rosto das pessoas e da memória de uma visão – da janela das suas casas. RUI SIMÕES [SE PODES OLHAR VÊ, SE PODES VER REPARA]. A experiência do filme é muito simples. Não é nenhuma encomenda. Aliás, eu faço uma encomenda ao João Brites do Bando para encenar O Ensaio sobre a Cegueira, porque de outro modo eu não teria, na minha vida, a oportunidade de me aproximar a esse belíssimo texto do Saramago. Felizmente o João Brites acedeu ao meu pedido, e ao pedido de outros, e passou a fazer O Ensaio sobre a Cegueira em vez de fazer uma outra peça que ele tinha pensado. E eu dei-me como muito feliz porque assim pude estar próximo das palavras, do texto do Saramago (porque do João Brites já eu estou perto há 30 anos, e não era por aí que eu ia deixar de estar). A minha experiência com o teatro do João, e portanto do Bando, é um trabalho longo, de 30 anos de acompanhamento sistemático. Mesmo que não goste, ou deixe de gostar, 98 PANORAMA ’06 | detrás do palco não importa, é assim. É uma companhia de teatro onde eu me sinto bem. Gosto das experiências por que eles passam e de certa maneira tento aproximar-me, e por vezes tiro proveito para mim, outras vezes não posso, porque tenho outras prioridades. Gosto mais de dança do que de teatro, por exemplo, e normalmente é com as pessoas da dança que me sinto mais próximo. Este foi um caso particular. Tinha um grande desejo de fazer uma longa-metragem de ficção sobre O Ensaio sobre a Cegueira. E como isso é impossível – nenhum português tem dinheiro para comprar os direitos ao Saramago, aliás foi um canadiano que os comprou, já – qualquer tentativa de aproximação ao texto para mim já era ganha. E acredito sempre nas experiências do Bando. Estar ao pé deles e ter uma câmara na mão para mim já é uma experiência ganha, porque é sempre surpresa atrás de surpresa, é sempre rico (tomara eu andar sempre atrás do Bando e não fazer mais nada na vida). Tento sempre andar atrás das pessoas de quem gosto (o Bando, a Olga Roriz...), e fazer projectos pelos quais me apaixono. Porque encomendas não há, há muito poucas, na minha vida pelo menos. Sou eu que encomendo sistematicamente a mim próprio os meus trabalhos, e umas vezes pago eu, outras vezes divido os custos com os amigos, e vamos andando assim. Sobre o trabalho em si não tenho nada a dizer, é... sei lá, é preciso ver, olhar, reparar. A experiência da cegueira é feita por um grupo de actores, e é fantástica. Portanto, só quem viu o documentário ou quem esteve nessa experiência, ou esteve próximo, poderá perceber. É um tema interessante para falar, mas não sei se vale a pena irmos muito por aí. Posso mesmo assim falar do processo: houve um estágio do Bando em Viseu, e duas câmaras acompanharam esse momento, que é um momento de experimentação: a vivência da cegueira por um actor. Primeiro foi sentir o que é o facto de não ver, e depois tomar consciência e passar pelos locais onde se esteve, vendo, mas sem saber que era por ali que se tinha passado. É uma experiência fantástica, e eu acho que o mais fascinante nos grupos de teatro é o que eles fazem para eles próprios, mais do que o que fazem no palco. O que eu gosto mesmo é de estar dentro deles, e estar com eles lá, a fazer estas coisas todas, mais do que estar numa sala a ver os espectáculos. E o que era interessante era eles fazerem-nos participar cada vez mais nessas experiências. A nós, público, ou a nós, criadores de outras áreas, porque é ali que se passam, de facto, muitas emoções e muitas coisas. E no fundo nós apenas nos limitamos a registar, e se conseguimos transmitir isso, é positivo, se não conseguimos, pronto, ficamos por aqui. Acho que não tenho muito mais a dizer, a não ser se depois quiserem falar concretamente de algumas coisas, ou do processo ou assim, eu estou disponível. Tirando isso, acho que está tudo dito. O filme que passou mostra o processo de preparação de uma ópera. Começou com uma sugestão, portanto não foi uma encomenda, nem um convite, foi uma sugestão que eu, porque tinha muita vontade de agarrar, transformei em proposta de co-produção, com valores mínimos e muitos sacrifícios. E fiz o filme sozinha, praticamente. Tive apoio de estagiários, que também foram baratos, para produzir o filme, mas avancei praticamente sozinha, com a câmara, com o microfone e com certas deficiências técnicas. E o que me interessava descobrir, e fui descobrindo, e espero que o público tenha descoberto isso também, LEONOR AREAL [ ÓPERA ABERTA]. PANORAMA ’06 | detrás do palco 99 era a evolução do trabalho, e o enorme rigor que existe na preparação de uma ópera. O rigor minucioso que existe a todos os níveis, inclusive ao nível da distribuição das funções que revelam uma hierarquia, e levantam perguntas sobre quem manda na ópera. Porque há o compositor que é o autor, depois há o encenador que é o intérprete, e depois há o maestro que é o garante do rigor musical. E os três, de certo modo, têm que se entender, num processo de cooperação, mas com muitos testes de força. E foi sobre isto que eu me entretive a montar o filme. LEONOR NOIVO [ INSIDE OUT ]. Estava a tentar lembrar-me de como é que começou o Inside Out, e começou precisamente por ser um projecto de três pessoas em que cada uma faria um retrato sobre uma outra. Concorremos ao ICAM e não tivemos subsídio. E eu resolvi avançar com o meu projecto porque tinha mesmo que ser – queria filmar uma bailarina que ia fazer o seu primeiro solo, não podia estar à espera. E avancei. Acompanhei o processo da bailarina na sua primeira apresentação, sendo que a ideia era – e é – acompanhar os próximos projectos dela, e portanto vai ser um trabalho feito ao longo do tempo. O tempo é o objecto. INÊS SAPETA DIAS . Vou agora pedir à Fernanda Lapa que, a partir da sua experiência de palco e de bastidores, fale um pouco sobre estes filmes. Sobre a maneira como comentam ou falam sobre o processo criativo nas artes performativas, nas artes de palco. FERNANDA LAPA . Começo por dizer que o meu olhar é certamente diferente, como técnica de teatro, do das pessoas que são técnicas de cinema. Temos certamente olhares diferentes. Um pouco como os encontros da [Luciana] Fina, as nossas janelas estão mais abertas para um lado, mais fechadas para outro. E realmente quando eu vi estes 10 documentários – porque vi-os a todos – tão diferentes entre si (estão entre os oito e os 75 minutos) e diferentes nas suas abordagens, evidentemente surgiram perguntas. Algumas dessas perguntas já foram aqui colocadas, nomeadamente como é que os realizadores tinham chegado aos projectos e com que objectivo. Porque há claramente diferenças entre eles. Há uns que são making of. Por exemplo, a Ópera Aberta é um making of, e tem sobretudo uma função didáctica. Dá-nos a ver como nasce uma ópera quando no início se tem apenas a partitura de um autor, que depois se tem de confrontar com um maestro que tem outra interpretação, e depois com os cantores – e um até é posto na rua a meio –, e depois o cenógrafo que aparece com imensas ideias onde os cantores não têm espaço para andar. E aparecem os vários conflitos, que existem sempre numa produção, que é uma equipe. Depois há outros que eu percebi que talvez tivessem começado de uma maneira e acabaram por abranger outras coisas. Por exemplo, houve um que eu achei extremamente curioso. Não estou a fazer juízos de valor, porque não sei avaliar, mas o Circo! é surpreendente porque cria o efeito de estranheza. Nós estamos habituados a ver o circo sentados naquelas bancadas, a ver os palhaços de frente, os elefantes, os equilibristas, e de repente vemos tudo de costas, tudo do lado de cá, e há um efeito de estranheza que nos remete para outra realidade, poética do meu ponto de vista. Tive umas reminiscências de Fellini, enfim... percebi a solidão, o abandono. Há uma transmutação da realidade. 100 PANORAMA ’06 | detrás do palco Entre estes documentários houve alguns que me tocaram mais do que outros. Aquela imagem a preto e branco do filme do Rui Simões, aquele hospital desolado, aqueles actores vendados. É evidente que a beleza da imagem me tocou, mas como pessoa do teatro, o que mais me tocou foi a fragilidade, a situação indefesa em que estavam os actores. O que acaba por ser uma parábola, também. Não precisavam de ter vendas para ser tão frágeis: é essa a profissão do actor. E de repente eles rebentam em lágrimas, a emoção está à flor da pele porque se sentem realmente sem defesas... A maior parte das vezes os actores não aceitam isso, criam as suas próprias defesas, mas aqueles estavam realmente assim, e eu achei isso lindíssimo. Há outros dois documentários sobre processos de trabalho. Como o filme da Patrícia, que pensou que ia fazer um making of, ou que ia fazer um registo de trabalho, e de repente ultrapassou isso e fez um documentário. Eu não sei o que é que o Alexandre começou por pensar fazer, mas quanto a mim esses são dois documentários que estão nos antípodas um do outro. Digo isto sem juízo de valor, não tem que ver com qualidade. O objecto sobre o qual a Patrícia trabalhou era um objecto solar, de paixão, de humanidade, de humildade, de entrega, um objecto... panteísta (posso dizer isto?), de ligação à terra. Toda essa paixão, todo esse encanto está no documentário dela, também. O filme do Alexandre, que... para mim é muito constrangedor, talvez porque eu esteja lá, não sei. Mas mesmo que não estivesse ali, que não estivesse implicada naquele processo, sinto que ele captou muito, muito bem a frieza. Filmou muito bem uma fábrica sem operários, gente um pouco perdida, corredores vazios, vidros, números nas portas. E eu senti que a forma – vamos ressuscitar a velha questão da forma e do conteúdo – – e o conteúdo estavam muito bem relacionados, sendo o filme um objecto inquietante e desagradável. Ao contrário do da Patrícia que é de ficar com a alma lavada. Assentei uma coisa que o Rui Simões disse: “limitei-me” ou “limitámo-nos a registar”. Não é verdade. RUI SIMÕES. Não, não. Claro que não. Limitar-me a registar é tudo o que eu sou. O meu registo sou todo eu. E a aproximação a um grupo ou uma pessoa ou a uma situação, e a flutuação da postura crítica que vai e vem no processo de construção de um documentário, é talvez o que transforma esse registo em cinema. A implicação e o olhar com atenção não só tornam, de repente, aquilo que se olha, especial (exactamente porque se olha, e talvez apenas por isso, como é sugerido pela Ana Almeida no debate anterior, da programação “retratos”), como é desse encontro que nasce verdadeiramente o filme. Isto é, de repente pressentimos daquilo que aqui é dito que o filme não é qualquer coisa que se faz longe, sobre aquilo que se filmou (tema, objecto, pessoa, etc); é, sim, qualquer coisa que acontece e se constrói com aquilo que se filma. Talvez seja esta abertura à entrada do ‘outro’, com tudo o que este traz de inesperado, de desconhecido, que está no centro nevrálgico da diferença entre a construção documental e ficcional no cinema. INÊS SAPETA DIAS. Uma das coisas que acho mais fortes no teu filme [Luciana Fina] é a maneira como estás sempre a filmar uma relação. E, logo ao princípio, no jogo dos olhares, de repente tu estás dentro desse jogo. Gostava que me falasses um bocadinho disso. PANORAMA ’06 | detrás do palco 101 LUCIANA FINA. Bom, há duas questões relacionadas com o que me perguntas. Uma é: procurar uma correspondência com o objecto do nosso olhar. Acho que um dos grandes desafios no fazer cinema, ou no fazer documentário, é procurar essa correspondência. E, desta vez, ao tratar práticas de dança, interessava-me realmente entrar aí. Claro que o território do olhar era um dos territórios que mais me provocava, e me interessava ao nível geral do meu trabalho, e portanto foi uma decisão instintiva ir de encontro a essa exigência. A outra questão relacionada com o que tu dizes, com o eu estar sempre a filmar relações, tem um pouco a ver com todas estas questão que se estão aqui a discutir. Não quero polemizar a opção dos temas que aqui recuperam todos estes filmes, mas não gosto dos bastidores, da ideia desta rubrica “detrás do palco”. Não gosto da ideia de que os filmes que tratam o teatro, ou a dança, ou as artes levam à descoberta de qualquer coisa que está atrás. Acho que os filmes têm é de mostrar alguma coisa que está à frente, isto é, interrogar-se de que forma as artes falam para fora. Ou de que forma as práticas ou os processos podem falar de outras coisas, ou falar-nos de outra forma. Bom, eu tinha uma matéria realmente muito rica a este nível, porque se tratava de facto de um momento fortíssimo, ter todas aquelas pessoas a praticar várias formas de dança, e também formas de pensamento. Tive um território privilegiado. Posto isto ganha algum sentido deixarmo-nos aqui levar por aquilo que é dito nos círculos mais afastados deste problema central. Torna-se importante reflectir sobre o que é dito da experiência vivida pelos alunos de cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema já que é daí que sai, nalguma medida, o cinema futuro. Algumas coisas que são ditas sublinham a importância da discussão em volta do ensino das artes. O que no fundo aponta para o encontro entre gerações diferentes entre cineastas, e aquilo que essa geracionalidade cria na leitura dos problemas discutidos. Aproveitando o que a Fernanda Lapa disse sobre o In Utero queria perguntar porquê o título. Porquê “in utero”? PUB . A Fernanda, na comparação que fez entre o meu e o filme da Patrícia, tocou-me imenso. Vou tentar ser específico para depois explicar a questão do “in utero”, do título. Está aqui a Leonor [Noivo] que foi aluna da Escola, está ali a Sofia que me ajudou a produzir e a captar som para este filme... nós tínhamos grandes dúvidas sobre se aquele filme conseguiria ser perceptível fora daquela escola, da torre amarela. O Miguel Seabra também trabalhou lá o ano passado ou há dois anos, eu não sei o que é que ele sente, e peço desculpa por dizer isto, mas realmente a Fernanda captou o meu sentimento – apesar de eu querer acabar aquele filme com uma esperança, com uma ponte, com sol. Passando ao “in utero”, é isso exactamente que eu queria expor. Aquilo é um útero. Mas que tipo de útero é? Nós – nós, porque somos alunos daquela torre amarela – conhecemos uma linha muito ténue entre o amor e o ódio, e o útero é algo que dói imenso quando sais, quando vives lá dentro. E era um bocado isso que eu queria expor naquelas letras vermelhas do título. ALEXANDRE MARTINS . Todos os dias oiço este tipo de discurso. E era bom que estivesse aqui alguém para ouvir isto. Está ali a Câmara Municipal, e aquela câmara que está a gravar é da Câmara, RUI SIMÕES . 102 PANORAMA ’06 | detrás do palco é da Videoteca, não é? Pode ser que isto um dia chegue a um gajo qualquer da Escola de Cinema. Como é que é possível que no nosso país haja tantos jovens a queixarem-se daquele útero amarelo? Só oiço histórias tristes, de todos vocês, sobre aquela escola. ALEXANDRE MARTINS . Não é sempre assim... RUI SIMÕES . Mas não me interessa agora qual é o Kamasutra, se é de pernas para o ar, para a frente, o amor, o ódio, masoquismo, não me interessa nada disso! O que me interessa é saber porque é que vocês se queixam a toda a hora, todos os dias, daquela escola?! Não percebo! Mandem abaixo a escola, fechem a escola, venham-se embora, façam qualquer coisa! Mas estarem ali, constantemente, a insistir... Nós que vos ouvimos, levamos cá uma sova! Como eu dou workshops e passo a vida a preparar pessoas para irem para lá (uma delas é a Leonor [Noivo], e outro o Miguel Seabra – não este. Já meti duas pessoas na escola), e depois eles vêm queixar-se, dizem que aquela escola é um sofrimento, é uma coisa horrível, e eu não percebo. Agora fiquei a perceber um bocadinho, e gostava de ver esse documentário para perceber se de facto toca nessa ferida. Porque acho muito dorida a forma como falam daquela escola, que é a escola que forma os nossos cineastas. E todos eles sofrem imenso. ALEXANDRE MARTINS . Mas eu gostava só de dizer uma coisa para que as pessoas não fiquem a pensar que a Escola é uma tortura contínua. Atenção, eu acho que a questão do “in utero” é muito pertinente – desculpem a presunção – porque o nascer e o crescer é doloroso. É só nesse sentido que é um processo sofrido. RUI SIMÕES . Mas também é um prazer crescer. ALEXANDRE MARTINS. Tem que ser um prazer. E aquela escola tem ‘n’ carências, não é a escola ideal, e a própria Fernanda na entrevista que me deu falava disso. Mas acho que a Luciana fala de uma coisa muito importante, quando fala da importância de conhecer o que está à nossa volta, e conhecer o outro. Esse é que é o percurso a tomar. Só que é muito doloroso conhecer e ser confrontado pelo outro. Foi um bocado isso que tentei expressar. PANORAMA ’06 | detrás do palco 103 debate DETRÁS DO TRAÇO (integral) o cinema e a criação artística PROGRAMAÇÃO: As minhas Mãos são o meu Olhar | João Pedro Luz [ 74’] Expansão do Microcosmos Tentacular | Thom de Bock [ 43’] Um Quadro de Rosas | Miguel Ribeiro [ 25’] Estórias da Pintura | Joana Pontes [ 56 ’] CONVIDADOS: Delfim Sardo (curador, teórico e crítico da arte), Raquel Henriques da Silva (professora de História da Arte) MODERADO POR: Inês Sapeta Dias 4.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | detrás do traço 105 106 PANORAMA ’06 | detrás do traço INÊS SAPETA DIAS. Vamos iniciar a nossa conversa sobre os quatro filmes que compõem o bloco “detrás do traço” e que abordam o processo criativo nas artes plásticas. Temos connosco o João, que realizou o As minhas mãos são o meu olhar, o Delfim Sardo e a Raquel Henriques da Silva, convidados a comentarem este bloco, e mais tarde vai chegar o Miguel Ribeiro do Um Quadro de Rosas. Começava por colocar uma questão ao João. Gostava que apresentasses o teu filme, que dissesses aquilo que tivesses necessidade de dizer, mas que focasses especialmente a relação entre o teu trabalho e o trabalho que tu filmaste. Ou seja, se existiu, ou não, e se tu problematizaste a existência de um paralelismo entre o teu processo criativo, e o processo criativo que estavas a filmar. A questão do processo criativo surgiu depois de já termos muito material filmado. Quando iniciámos a recolha de imagens – o José Coelho e eu – não sabíamos muito bem para onde ia a conversa, para onde ia o raciocínio e de facto acabou por ir nessa direcção. O José Coelho começou por falar em todas as coisas que o influenciam e isso acabou por nos remeter para o processo criativo em si, que é aquilo que nós percebemos e acabamos por assimilar e por reproduzir. Mas foi na montagem que surgiu essa questão do processo criativo, um tema que me prende bastante a atenção porque gosto muito de ver a forma como as pessoas concretizam a sua faceta criativa. Seja em que área for. Pode ser um médico, pode ser um cientista – então os cientistas têm que ser extremamente criativos – e podem ser as pessoas que estão a produzir arte, os pintores, os escultores, etc. Gosto de analisar, de observar as pessoas e gosto de ver esse processo em acção. Nesta medida há um paralelismo entre o meu próprio processo criativo, e o processo criativo do Coelho. Houve uma intersecção que tomou a forma de um filme, não de ficção, mas um documentário. Houve a intersecção dos nossos processos criativos, mas eles são paralelos. Cruzaram-se aqui e resultaram neste filme, mas são coisas distintas. A minha matéria são imagens em movimento e o som, e a matéria-prima do Coelho, para já – ele quer fazer uns vídeos, mas para já... – são coisas tangíveis, palpáveis. No fundo a linha condutora do documentário é o processo criativo porque foi isso que apareceu. Foi essa formulação que foi sendo repetida, e foi essa a tónica que foi dada. Tal como o filme que passou a seguir, na mesma sessão, o Micro-cosmos..., onde vimos que a Susanne [Themlitz] ia buscar coisas à cidade, coisas ao campo, e também ela referia todas estas questões. No fundo a produção artística baseia-se nisto mesmo. Queres dizer alguma coisa? JOÃO PEDRO LUZ [ AS MINHAS MÃOS SÃO O MEU OLHAR]. JOSÉ COELHO. Este filme que o João Luz acabou por fazer, sobre o processo criativo nos meus trabalhos, no fundo, aborda uma temática que me parece pertinente e extremamente importante na fase que estamos a atravessar. Foi um trabalho que nos entusiasmou aos dois. A minha própria formação é baseada numa experiência de visita a museus, de visita às obras, de estar em contacto com ateliers de autores. Posso dizer que talvez a componente mais rica da minha formação como artista plástico, como autor, tenham sido as vivências que tive no atelier do mestre Martins Correia e no atelier do Artur Bual, na Amadora. Eu acompanhei um processo pioneiro em Portugal que foram os simpósios de escultura, na década de 80, PANORAMA ’06 | detrás do traço 107 uma experiência rica nesse fervilhar de arte pública. E nesse âmbito, o contacto com o Artur Bual foi extremamente importante, aprendi muito com ele. Trouxe-me a ideia de desmistificação da criação de uma obra de arte, aprendi que esse é um processo tão natural como beber um copo de água. E se até aí a arte tinha para mim uma componente extremamente rica no que diz respeito à transmissão dos conhecimentos, das imagens e do fazer da própria obra, a partir dessa altura ficou tudo muito mais fácil. Porque contactar com estes dois homens que são da sua geração as figuras mais importantes da História de Arte em Portugal... INÊS SAPETA DIAS. José, vou ter que o interromper. Gostava que por enquanto falássemos ainda do filme. Portanto, como é que encarou o trabalho do João em relação ao seu, e como é que foi ter o João a filmar as suas coisas, a observá-lo, conversar consigo sobre uma coisa que, imagino, até aí fizesse sozinho. JOSÉ COELHO. Sobre o filme... o trabalho do João aconteceu quase numa interacção com o meu. Nós praticamente fizemos um trabalho de equipa. O João tinha realizado um pequeno filme, uma curta-metragem, com o cineclube de Torres Novas. E numa conversa disse-me que precisava de uma personagem para um filme. Imediatamente lhe disse que estava disponível, e que não precisava de gastar dinheiro com personagens, que eu não lhe levava nada pelo serviço. E pronto, foi assim. Entretanto o projecto abortou, por divergências na direcção do cineclube, e eu senti uma enorme frustração no João, por termos já muitas horas de filme feitas, e por aquilo ter ficado em águas de bacalhau. E depois, entretanto, convidei o João a ir ao meu atelier, ele viu, gostou. E como sou um apreciador de documentários disse-lhe “João, é capaz de ter interesse, tu agora estás “desempregado”, não tens trabalho para filmar, se tu quiseres fazemos uma coisa na área da arte, que é uma coisa de que eu gosto bastante, e até é capaz de ser uma coisa que possa desmistificar uma obra. Pode ser importante para saberem como é o nosso processo de trabalho”. Assim foi: o João agarrou, fez um guião, eu integrei-me, com os diálogos, no guião do João que tinha a estrutura do filme. Com a experiência que tenho do Museu do Louvre, do Hermitage, do Museu Picasso, com a grande colecção que eu tenho, de Giacometti, com as coisas que trago do estrangeiro, falei ao João da minha ideia, conversámos, ele gostou e aquilo começou a andar. Foi quase uma interacção nossa, dos dois, no filme, no documentário. INÊS SAPETA DIAS. Passava agora a palavra ao Delfim e à Raquel, para que falassem não só deste filme, mas também dos outros três. De que maneira é que estes filmes comentam ou documentam o trabalho nas artes plásticas? Como é que falam do nascimento de uma obra, e de todo o seu percurso? DELFIM SARDO. Antes de falar especificamente destes filmes, ou de alguns deles, gostava de fazer um pequeno recuo no percurso desta ligação entre a prática artística e a necessidade da sua documentação. Tenho sempre uma relação um pouco ambivalente com a ideia do documentário sobre a criação artística, sobre artistas, pintores, escultores, e custa-me a perceber porquê. Esta conversa talvez 108 PANORAMA ’06 | detrás do traço me tenha servido para pensar um pouco sobre porque é que normalmente não tenho uma adesão muito imediata a estes filmes. E cheguei à conclusão (provavelmente provisória) de que a maior parte dos documentários sobre artistas procura glorificar a criação artística. E acho que normalmente aos documentários sobre arte escapa, não só por contingência mas também programaticamente, uma inevitabilidade da prática artística: a de que é uma prática de fracassos, e não uma prática de sucessos. Isto é, os artistas não passam a maior parte do tempo a terem sucesso no que estão a fazer, mas a fracassarem no que estão a fazer. E esse fracasso é frequentemente o melhor passaporte para a evolução e transformação do seu trabalho. Quer dizer, os artistas, na maneira como desenvolvem a sua obra, não produzem erros para serem superados, produzem erros porque a prática artística é inevitavelmente uma prática do erro. Do erro, da sua correcção, da sua maceração, da sua sublimação. Ora, esta prática frequentemente escapa à glorificação que os documentários constroem. Provavelmente o documentário mais extraordinário que vi sobre um artista, foi um sobre o Francis Bacon. Trata-se exclusivamente de uma entrevista com o Francis Bacon, durante um jantar, feita pelo David Silvester que é – era – um grande crítico e um grande historiador de arte (faleceu há pouco tempo). E o documentário é essa longa conversa que eles tiveram à mesa. O Francis Bacon era alcoólico e, é evidente, todo o seu discurso se vai degradando à medida que o jantar vai avançando, e quando se levanta, momento que equivale ao fim do documentário, ele cambaleia porque está completamente embriagado. E essa imagem é de uma intensidade trágica extraordinária. Quer dizer, esse final é impiedoso mas ao mesmo tempo completamente cúmplice – porque a conversa, embora tenha momentos de tensão, é um diálogo com uma cumplicidade muito grande (aliás, a entrevista está publicada em livro). O David Silvester conhecia, e muito bem, a obra do Francis Bacon, e eram amigos. E, portanto, o filme acaba nesse corolário que é um pouco simbólico do processo de fracasso permanente da pintura do Francis Bacon, e de como a sua pintura nascia daquele caos que era o seu laboratório criativo (o seu atelier), pintura que ele recusava sempre a ver como terminada – o Francis Bacon era daqueles pintores que nunca terminava as suas pinturas. Mas, portanto, cheguei a esta conclusão provisória acerca da minha relação ambivalente com o documentário sobre artistas, baseada nessa ideia de glorificação da criação artística que por vezes não assume a estética do fracasso sendo que esta é, na minha maneira de ver a arte, inerente à prática artística. Parece-me que hoje os documentários estão muito vulgarizados, até pela necessidade de produção de conteúdos para televisão e para os museus que por vezes os produzem de forma coadjuvante às exposições que realizam. Mas localizo a origem da ideia do documentário sobre a prática artística na década de ‘60, quando os artistas começam a desenvolver processos criativos que não conduzem necessariamente à produção de objectos facilmente apresentáveis. São esses processos que criam, nos próprios artistas, a necessidade de produzir documentação sobre o seu trabalho. Esta documentação é normalmente feita ou por processos fotográficos (e nós temos hoje acesso a muitas obras de tipo performativo, ou obras que são intervenções no espaço urbano, ou que se degradam com o tempo, através de processos documentais que os artistas PANORAMA ’06 | detrás do traço 109 foram desenvolvendo) ou através do filme (normalmente os artistas na década de 60 utilizavam o 16mm. O super8 era demasiado frágil para a produção desse suporte documental). Gerou-se portanto uma tradição da documentação produzida pelos artistas sobre o seu próprio trabalho que numa primeira instância é tomada como pura documentação, mas que numa segunda instância – que acontece a muito breve trecho – começa a ser obra em si mesma. Quer dizer, os artistas produzem obras que, ou porque não são visíveis pelo público em geral – situam-se em sítios remotos, ou têm uma duração temporal muito curta – necessitam de ser documentadas, e a breve trecho vem-se a considerar a documentação que produzem, também ela, própria obra. Criou-se assim uma espécie de novelo no qual é-nos por vezes bastante difícil separar aquilo que é obra de arte daquilo que é documentação sobre a obra de arte, havendo uma grande intimidade ou uma grande sintonia entre a obra e a sua documentação. A Fundação de Serralves fez em paralelo duas exposições, uma do casal de fotógrafos alemães Bernd e Hilla Becher, e outra de um artista norte-americano chamado Robert Smithson – aliás, muito inteligentemente feitas em paralelo. O casal Becher fotografa sempre edifícios nas cidades, a preto e branco, com câmaras de grande formato. São fotografias frontais que fazem uma espécie de anulação da subjectividade em função de um olhar que pretende ser completamente objectivo, aproximando-se, nesse sentido, de uma ideia de documentariedade que está presente na arte alemã desde a fotografia do Auguste Sander, por exemplo. O Robert Smithson, por outro lado, artista que faleceu muito prematuramente em 1973, foi um dos primeiros artistas a fazer sistematicamente intervenções na paisagem ou fora do contexto especificamente galerístico – intervenções efémeras. Uma das peças mais famosas do Robert Smithson é uma grande instalação chamada Spiral Jetty. É uma enorme espiral feita em Saltlake, sendo suposto a obra, com o tempo, com a erosão, com a mudança geológica, degradar-se e ser apagada pelos próprios elementos. E com essa preocupação, o Robert Smithson fez um filme documental sobre a obra, realizado por ele e pela sua mulher, Nancy Holt. E esse é um documentário muito interessante porque narra sem qualquer poética a construção da peça. Descreve a sua construção mecânica: a deslocação de terra que foi necessária para fazer essa espiral no lago, etc.. E o filme faz essa narração de forma muito brutalista nomeadamente com um som que não tem qualquer narração, mas uma mera descrição do que está a acontecer. Digamos que é documentário no seu sentido mais cru (muito próprio, aliás, da estética do novo documentário que em 1970 estava a surgir). Depois, o filme tem uma segunda parte com planos filmados de helicóptero onde o Robert Smithson aparece a correr na Spiral Jetty, praticamente a mostrar-nos qual era a utilização ideal que ele imaginava um espectador poder fazer daquela obra. Esta peça sobre a Spiral Jetty, esse documentário fílmico, representa para mim um nó do momento em que o artista, já com alguém (e neste caso alguém com quem partilha uma grande intimidade), está a tentar ter um olhar exterior, não sobre o processo criativo, mas sobre o processo mecânico da construção da peça, do qual tenta afastar a ideia de subjectividade, e onde o artista se tenta colocar a si próprio no ponto de vista do espectador, sendo filmado a percorrer a sua própria obra. Não há qualquer comentário, a não ser descrições, e completamente neutras: 110 PANORAMA ’06 | detrás do traço da largura, do comprimento, do seu aspecto, a sua morfologia. Mas ao mesmo tempo, no meio de toda esta secura objectiva, há uma espécie de subjectividade que vai nascendo... Parece-me que, de alguma maneira, esta intimidade entre o processo criativo do artista e o processo criativo do realizador do filme, seja ele mais próximo ou mais distante, representa um pouco a forma como o documentário sobre arte se veio a maturar nos últimos 30 anos. E isto introduz um outro aspecto também muito interessante ao nível do documentário sobre arte: ele raramente ganha distância em relação à obra que está a documentar. E por isso, eu acho que o documentário sobre arte frequentemente não o é. Há um envolvimento do realizador e há uma intimidade com o artista que é essencial para se poder ter acesso a momentos do processo criativo, provavelmente íntimos e que o artista não gosta de partilhar com um olhar exterior. Mas quando o artista aceita expor esse espaço, inicia-se uma espécie de negociação ou jogo com o realizador que implica este último não criar uma distância, e assim entrar dentro do universo criativo do seu objecto. Ora, isto faz com que o carácter documental frequentemente se venha a subsumir numa espécie de panegírico da obra, e trabalhe de uma forma quase ensaística, muito próxima dos textos que em arte se fazem para os catálogos. Quando se convida alguém para escrever um texto para um catálogo é pressuposto que esse alguém não tenha uma visão crítica, no sentido jornalístico do termo, sobre a obra, mas que tenha uma visão mais hermenêutica, quer dizer, mais de interpretação, e isso exige uma determinada ligação efectiva ao artista. Estes quatro filmes que eu vi são todos diferentes uns dos outros, e têm tipologias diversas. Há um que é muito diferente de todos os outros, o Histórias da Pintura, porque não é monográfico sobre nenhum artista: o filme evoca o Manuel de Brito (e é muito oportuno mostrálo agora; o Manuel de Brito infelizmente faleceu há muito pouco tempo), e fala da maneira como este coleccionador se relacionava com os seus artistas, e com as obras que tinha, com a sua actividade como coleccionador, e como galerista, e a paixão que estava envolvida nesse trabalho, e que é evidente no documentário. Mas, portanto, é um documentário que, não mergulhando no processo criativo, se aproxima do coleccionador, e onde a pintura nos aparece sempre mediada. É exactamente um documentário sobre a mediação operada por aquela personagem, mediador de profissão (mediador como galerista, mediador como coleccionador, é sempre um mediador). E ao ser sobre a mediação o documentário produz uma distância dupla. Não está aqui a realizadora, pois não? É pena porque gostava de lhe fazer uma pergunta. Há um momento curioso em que a neta da Menez, a Joana, aparece a pintar. E sempre que aparecem artistas a pintar em documentários deste género, eu interrogo-me se eles estão a pintar ou se estão a pintar para o documentário. E qual será o grau de verdade daquilo a que nós estamos a assistir. Há uma história muito famosa passada com Jackson Pollock. Em 1950, saiu um artigo na Life que se tornou famosíssimo, com uma série de fotografias tiradas pelo Heinz Mamut, um fotógrafo muito importante. E a primeira é uma imagem grande de Jackson Pollock com o seguinte título em cima: “será este homem o maior pintor vivo da América?”. E a partir daquele artigo, realmente o Jackson Pollock ficou popularmente conhecido como o maior pintor vivo da América. E provavelmente foi-o, no seu tempo. Mas o que acontece é que o artigo – e foi feito também um documentário fílmico – está cheio de fotografias do Pollock a pintar. E essas fotografias PANORAMA ’06 | detrás do traço 111 do Pollock a pintar vieram a fazer gastar litros de tinta, e resmas de papel sobre a forma como o Pollock pintava, aproximando a sua pintura à dança, dizendo “o que ele faz é uma espécie de coreografia”. Ora, isto levou à leitura de que o importante na pintura do Pollock é o gesto puro e não o que fica na tela. É a gestualidade. E inclusive deu origem à interpretação muito famosa, do Harold Rosenberg que inventou o termo “action paiting” para descrever a pintura como acção, dizendo que era mais importante a acção do que o que ficava na tela. O Pollock detestou aquelas fotografias, eram fotografias falsas. Não sei se estão a ver quais são, ele é fotografado por baixo, como se nós o estivéssemos a ver pintar de baixo. O Pollock pintava com as telas no chão, não esticadas (esticava a tela depois), e as fotografias foram feitas com uma estrutura de vidro montada no atelier em que o Pollock estava em cima desse vidro a pintar, sendo as fotografias e a filmagem feitas por baixo, através do vidro para nós vermos o Pollock monumentalizado, de baixo para cima. E o Pollock detestou. E de tal maneira detestou que depois de ter saído o artigo acabou por ter uma depressão profunda, achou que o artigo tinha desvendado coisas que não deviam ter sido desvendadas, achou que aquelas imagens tinham subvertido completamente a relação que ele tinha com a pintura. Por um lado glorificaram, por outro lado subverteram. Portanto, neste documentário, quando estava a ver a Joana Salvador a pintar, perguntei-me qual seria a verdade do que eu estava a ver. Eu estava a ver a Joana Salvador a pintar, ou estava a ver a Joana Salvador a pintar para o documentário? E não sei. Não está aqui nem a Joana nem a realizadora para que eu possa perguntar. O Histórias da Pintura é, portanto, um caso específico. Depois, com Um Quadro de Rosas e Expansão do Micro-cosmos Tentacular e As Minhas Mãos são o meu Olhar temos três documentários monográficos, todos eles diferentes. Aquele com o qual eu me relacionei de uma maneira mais directa, porque conheço muito bem a artista, foi o Expansão... – acompanhei o trabalho da Susanne Themlitz desde o seu começo, quando ainda estava no Ar.Co. Vi, por isso, este documentário de maneira diferente e achei-o curioso porque está centrado num projecto específico desta artista: há um acompanhar do percurso feito para a feitura de uma exposição inaugurada na Fundação Calouste Gulbenkian. E, muito curiosamente, o documentário anula completamente o tempo de produção daquele trabalho: o tempo de produção daquela exposição foi longo e no documentário ele aparece-nos compactado, sendo a ideia de tempo completamente apagada do filme. Ela podia ter demorado três dias a fazer aquela exposição. Não demorou, demorou meses. E esse efeito acontece exactamente pela intimidade que o realizador tem com a própria artista: o tempo dessa relação é indiferente, porque é o tempo da intimidade, e essa relação de intimidade opera uma compressão através da qual vemos o trabalho da Susanne Themlitz. Em relação ao As Minhas Mãos são o Meu Olhar, e ao Um Quadro de Rosas, sendo monográficos também, eles obedecem a tipologias completamente distintas. Sobre As Minhas Mãos são o Meu Olhar não vou sequer falar sobre a metodologia da obra, porque não poderia falar melhor do que o artista e o realizador, mas parece-me que existe essa intimidade. Essa relação de proximidade está lá, muito presente. E acho que neste documentário, especificamente, a figura do artista é absolutamente tutelar no próprio filme. Quer dizer, há uma espécie de apagamento voluntário 112 PANORAMA ’06 | detrás do traço do trabalho autoral do realizador face à presença do artista (pelo menos foi isto que eu achei, poderão dizer se foi ou não). O documentário começa imediatamente com o artista, e este está omnipresente. Um Quadro de Rosas é totalmente distinto porque quer situar-se numa dimensão poética do documentário. Seria interessante debater com o realizador, mas acho que não devíamos... eu pelo menos não queria falar do filme sem ter aqui o realizador para podermos de alguma maneira debater sobre o que é que significa a construção dessa poética. Já ocupei tempo demais... INÊS SAPETA DIAS . Não sei se, antes de passar a palavra à Raquel, o João quer responder a esta observação do Delfim. JOÃO LUZ . Pode ser. Para já quero dizer que para mim é óptimo ouvir este tipo de informação e esta forma clara como as coisas são ditas. Acho que se pudéssemos ter conversas destas todos os sábados seria uma maravilha. DELFIM SARDO. Temos que fazer outras coisas. JOÃO LUZ . Houve uma altura, quando estava a fazer a edição do filme, em que reparei nisso. Reparei que a figura do José Coelho é omnipresente. E então começaram a surgir muitas, muitas interrogações. A nível pessoal... muitas interrogações. Que tipo de interrogações? Concretamente, pensei se não estaríamos a individualizar demasiado, usando as suas palavras, se não estaríamos a glorificar demasiado. Depois fui um pouco mais longe (ou não tão longe...), e ocorreu-me se não seria narcisismo, perguntei-me o que seria aquilo. Será que tínhamos ali alguma universalidade? Onde estaria a universalidade do que se estava a passar ali? Se calhar o problema de quem faz documentários é que tem a possibilidade de, durante o processo, arranjar um esquema lógico ou racional que defenda o documentário da maneira que entender, o que às vezes se distancia da opinião das pessoas que o vêem uma vez. O esquema mental em que me refugiei foi o seguinte: há um ponto comum entre nós: a formação. Eu não tenho formação artística, e o José Coelho é um autodidacta. E isto pode condicionar-nos. Ao ouvir-te percebi um certo número de coisas das quais não tinha noção antes de fazer este documentário. Sobretudo a história do documentário e a história de arte, são áreas que desconheço, ou pelo menos não conheço em profundidade. Mas são coisas que fazem falta, para não nos repetirmos. É importante termos noção de que são exercícios que devemos fazer antes de partirmos para qualquer manifestação artística. Não podemos reinventar a roda, e não podemos estar a repeti-la. Por uma questão quase lógica de avanço. Mas essas questões surgiram, essas questões surgiram... INÊS SAPETA DIAS . E como é que as resolveste? O tal artifício racional foi o de encarar aquilo que fizemos, e o próprio percurso do José Coelho, e a sua produção artística, como um acto espontâneo. Espontâneo e pouco condicionado. O que me faz pensar em qual será a definição de artista (não gosto da palavra ‘artista’ mas temos de a utilizar aqui). O que define um autor? O que é que o leva a abdicar JOÃO LUZ . PANORAMA ’06 | detrás do traço 113 de um emprego estável, e escolher passar a sua vida a escrever, a arriscar passar uma vida de fracassos e poder ter poucos momentos de possível glória (como disseste), ou o que o leva a passar a sua vida a estabelecer conexões no seu pensamento de modo a criar coisas supostamente novas. O que é que o leva a fazer isso? O José Coelho tinha a 4ª classe, mas foi estudando, e chegou a um ponto da sua vida em que descobriu “bolas, eu gosto de arte, acho que não vou conseguir viver sem arte ou sem produzir arte”. E isto é um pensamento ingénuo ou inocente da minha parte, mas foi nisto que a minha posição neste momento da minha vida coincidiu com a dele. Cheguei a um momento da minha vida em que pensei “não vou conseguir passar sem fazer isto”, e tive então que abdicar do resto. Para mim este é o ponto importante do documentário. Mas é uma questão tão pessoal e tão íntima que não passa no filme, eu sei isso. Estou a revelar estas coisas porque surge em conversa, e se calhar é interessante falar delas... JOSÉ COELHO. Eu só gostava de dizer uma coisinha, se não se importasse, relativamente àquilo que o senhor disse, e que eu achei extremamente pertinente e importante. Em relação à pergunta que o senhor faz, se a pessoa estará a pintar para a fotografia, ou se está mesmo a pintar com autenticidade: o meu trabalho criativo é feito de acidentes. Quando o João me está a filmar é um acidente que me está a acontecer, a mim e na minha obra. E, por exemplo, depois do João ter acabado de filmar aquela minha peça camoniana, eu nunca mais lhe mexi. Para mim, cada um de nós tem a sua verdade. Mas para além da nossa verdade, a de cada um, há a verdade objectiva, há a experiência de vida, e há a autenticidade que cada um põe no seu trabalho. Eu procuro que o meu trabalho seja de tal maneira autêntico, que depois do João acabar de filmar aquela peça eu nunca mais lhe toquei. E aliás, ela vai estar agora no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros e chama-se Memória Camoniana, e portanto a peça vai agora ser mostrada exactamente como o João a acabou... JOÃO LUZ . Tu é que a acabaste... JOSÉ COELHO. Ficou como quando tu acabaste de a filmar. E a peça era para ter outra evolução, mas agora estou é já a começar outra. INÊS SAPETA DIAS . Raquel... RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. É pena não estarem os responsáveis, ou os intervenientes dos outros filmes porque assim haveria um diálogo mais rico. Bom, mas eu acho que o essencial já foi dito, é a vantagem de falar no fim. O Delfim fez uma excelente introdução ao âmbito, e alguma problemática que envolve o documentário sobre arte. Há uma dimensão no documentário, talvez a mais frequente, que está subjacente ao panegírico, e mesmo à sua dimensão de proximidade com o texto: a dimensão didáctica, uma dimensão de comunicação. Esta dimensão tem a ver com aquilo que estava a ser dito, e perpassa em todo o discurso do José Coelho no filme em que ele é o actor e o motivo, no que ele diz sobre o que é ser artista e o que é fazer arte. Há de facto um fascínio em volta do trabalho artístico, dimensão herdada de uma visão romântica (que em grande parte é ainda a nossa), de um lado íntimo 114 PANORAMA ’06 | detrás do traço revelado no documentário ou que este aborda, e vela e desvela, como sempre acontece quando se faz um trabalho ‘sobre’. O documentário Histórias da Pintura acho que tem uma componente didáctica muito forte. Do ponto de vista conceptual o Delfim já referiu o que é mais interessante: este é o filme que se distancia mais do trabalho do artista, porque o Manuel de Brito fala da sua colecção e medeia... e a certa altura introduz-se ali uma problemática que podia, na minha opinião, ter sido um motivo mais forte do documentário: aquelas pinturas são dos pintores ou são do Manuel? Isto porque o Manuel por vezes fala com tal intimidade e proximidade da obra, que de facto se pode aqui introduzir esta questão que é muito interessante, e acho que podia ser muito rica. Neste documentário o que para mim é mais interessante (não sei se alguns de vocês o viram) é aquela intervenção final dos artistas, quando vemos a oficina do Batarda, o banco da Ana Vidigal, os desenhos do Urbano. Para alguém que é professor de História de Arte, como eu sou, este é um lado muito importante porque introduz a tal dimensão didáctica que é útil e pertinente, e que se afasta do documentário produzido muito próximo do objecto artístico, em que o artista muitas vezes intervém. Parecia-me que faltava falar desta dimensão, aqui. No conjunto dos quatro filmes, houve uma questão que achei interessante encontrar, e ainda por cima em dois deles, por uma razão meramente casual mas que não deixa de ser interessante. Tanto no filme do qual temos aqui o realizador e o artista, quer no outro sobre as rosas, sobre o pintor de rosas, temos situações de trabalho muito do lado do espontâneo e do auto-didatismo. É interessante, e não é tão frequente assim. Dá ideia, como me parece que estava a dizer, que o realizador é cativado por essa espécie de diferença, por encontrar de novo qualquer coisa que a arte da segunda metade do século XX denega um pouco: essa dimensão aurática, privada, romântica, de destino quase, ou de fado como o João estava quase a referir há pouco, uma dimensão que continua a ser cativante quando se pensa em fazer um documentário sobre um artista. O documentário sobre o pintor de rosas parece-me que, como trabalho fílmico, do ponto de vista do trabalho do realizador, tem grandes fragilidades. Mas é um trabalho muito interessante porque o realizador entra numa interacção que precisamente em vez de louvar, questiona. Há ali quase um corpo-a-corpo, a uma certa altura quase um confronto, eventualmente construído, mas que tem alguma eficácia de comunicação. Quanto ao filme sobre o José Coelho, sobre as esculturas e os desenhos do José Coelho, eu acho que sobre ele foi dito essencialmente o que tinha pensado dizer. Ou seja, o grande tópico no meu comentário era a forma como o autor, o artista toma completamente conta do trabalho. E dá a sensação que o realizador vai atrás. O discurso do José Coelho sobre a teoria da sua arte, ou sobre a forma como vê a teoria crítica da arte, tem essa pulsão cativante. Não estou a querer valorizar ou desvalorizar, estou apenas a enumerar e adjectivar uma característica do seu discurso, que é exactamente essa sua dimensão espontânea, ingénua, do pensamento próprio, do pensamento que tem contidas em si citações, mas em que estas são absorvidas pelo próprio. E o que dá ideia é que o realizador vai atrás dessa postura, e diz com o artista: “estamos a fazer arte nós próprios, espontaneamente”. Ao fundo há a natureza – a presença da natureza é muito forte neste filme – portanto, há uma matriz muito naturalista em toda a composição, há uma PANORAMA ’06 | detrás do traço 115 espécie de palco produtivo que intervém na própria obra. O desenhar na natureza, ao ar livre, aquilo que estamos a ver e que estamos a ver também que o artista desenha no seu caderno... há ali uma espécie de osmose positiva, com um certo sentido celebratório, do religare, ou seja no sentido primário de religião, e eu acho que isto toma um bocado conta do filme. Aliás, na fotografia que está aqui destacada no catálogo, o José Coelho expõe-se a si próprio e faz isso com espontaneidade. Parece-me ainda que o filme tem uma dimensão próxima do diálogo e do encontro entre os dois, e isso transparece. Há alguns momentos mais livres, em que há um trabalho mais autónomo, um trabalho de luz, por exemplo, que de alguma forma pode mimetizar um pouco o trabalho do escultor, e que eu achei formalmente interessante. Mas achei-o um filme escorreito. E quando digo “escorreito” refiro-me à dimensão de comunicação de que falava e que está presente, apesar do discurso muito autocentrado, muito fechado. Parece-me que a arte não é só do domínio dos fracassos (embora esta dimensão dramática seja interessante), é do domínio das interrogações. Das interrogações permanentes, da não vontade de resolver as coisas, que aliás é a grande questão que aparece quando a obra está acabada – eventualmente o artista sabe que não resolveu coisíssima nenhuma e no entanto terminou a obra. E ao vosso filme escapa um pouco essa dimensão. É muito mais informativo do que interrogatório, o que para trabalhar a arte, a meu ver, é sempre limitado. Entretanto chegou o Miguel Ribeiro, realizador do Um Quadro de Rosas. Se calhar passava-lhe agora a palavra, pedia-lhe que apresentasse o seu filme, e assim depois talvez se sintam mais à vontade para lhe colocar questões. INÊS SAPETA DIAS . Portanto, Miguel, peço-te que apresentes o teu filme. Não sei se continua a fazer sentido nesta fase da conversa, mas de qualquer forma peço-te o mesmo que pedi ao João: gostava que apresentasses o teu filme no geral, mas que concretizasses dizendo como foi fazer um filme sobre um processo criativo estando tu próprio num processo criativo. Portanto, que paralelismos encontraste... MIGUEL RIBEIRO [ UM QUADRO DE ROSAS ]. A linha principal do filme está assente num quadro de rosas. Ou seja, filmei um quadro desde a tela em branco até estar concluído. Mas na verdade o que me interessava não tinha nada a ver com rosas, estava sim muito mais ligado à relação que eu já tinha com o pintor, e com a vontade de retratar alguém através do vídeo, da imagem em movimento, sem recorrer à fisionomia do rosto. Esse foi o principal desafio do filme. E que foi também um desafio académico, porque este foi um projecto feito no seguimento do curso da Videoteca. É um trabalho de escola, de alguma forma, por ainda não estar completamente à vontade com o vídeo. Depois, a certa altura, auto-incluo-me no filme, ao introduzir aquela discussão entre mim e o pintor, no fim. Foi um processo tão conflituoso, por vezes, que, por alívio, para manter a minha própria sanidade, decidi incluir-me, e tentar expurgar, libertar-me disso. Portanto, eu estou envolvido nesse processo, mas também não queria deixar de o estar. Não é tanto uma questão narcisista, é mais uma questão de... é mesmo isso, de libertação, de me libertar de um esforço e de sentimentos às vezes agressivos. 116 PANORAMA ’06 | detrás do traço Houve alturas em que ele chegava a censurar o que eu filmava. Ele queria sempre ver o que eu tinha feito, ao fim do dia de trabalho, o que se tornava um acto de censura e desconfiança. Quando lhe mostrei o filme obviamente que ele não gostou da parte final, mas decidi mantê-la e expliquei-lhe porquê. Expliquei-lhe que para mim o filme era aquilo mesmo. Para além, então, de ser um trabalho de escola, tem este lado de retrato de duas pessoas, ou da relação entre mim e o pintor. Relação esta baseada no conflito, que depois se resolveu naquilo que vocês viram, um documentário. É ainda um documentário falhado, porque o meu objectivo, em certo sentido, era ir mais fundo no que toca aquela pessoa. Ele é alguém que tem uma história de vida muito dura. É pintor autodidacta, esteve internado num hospital psiquiátrico muitos anos, e a sua libertação passou pela arte. Eu queria ir para aí, só que ele não quis, não quis recordar, se calhar, não quis expor-se tal como não queria expor o rosto. Então ficámos pelas rosas e por aquelas conversas que são um bocado conversas de café. Mas é o que é. INÊS SAPETA DIAS . Não sei se o Delfim e a Raquel querem aproveitar para colocar questões ao Miguel... Posso retomar o que estava a dizer, talvez. Antes de entrar, Miguel, tinha referido isso mesmo, que introduz no filme uma interacção que não é frequente, e que pelos vistos era real. E também se pressente que é real, fica uma ligeira dúvida, mas no essencial o sentimento que comunica, pelo menos a mim, é que se tratava de facto de uma situação de conflito entre o realizador e o artista. Na introdução – excelente, muito bem problematizada e muito simples – que o Delfim fez há pouco, ele falou muito – e falará melhor que eu novamente – na dimensão celebratória que muitas vezes o documentário tem. E de facto o seu filme fura essa tendência, mas talvez porque o personagem se presta a isso mesmo. Eu gostei muito do seu filme, achei-o francamente muito interessante. Sendo que, contudo, tem uma dimensão esteticista que parece de alguma forma uma repetição. Um certo tratamento da luz, a luz/sombra, a música que se integra bem mas joga com alguns estereótipos, o plano fixo, o jogo interior/exterior... bem, eu não percebo nada de cinema, mas, apesar de ser eficaz, parece-me que estes elementos são tratados por vezes de uma maneira estereotipada. Se calhar não concorda nada, mas de facto estes foram os elementos que eu achei estar ligeiramente à beira de uma falha – mas é uma falha produtiva, e por isso a estou a abordar. Uma outra coisa que você conseguiu muitíssimo bem, e que não me parece ser um trabalho nada fácil e que é francamente interessante, é essa dimensão particular do tratamento da personagem, que agora refere como sendo uma pessoa com perturbação mental, ou que foi um doente – lado que no filme se percebe. Não só a forma como selecciona o diálogo, como apanha bem a voz e os gestos, o Miguel introduz os elementos suficientes para tornar aquilo quase antológico, e agarrar tão bem a personagem. As histórias que ele conta são inacreditáveis, são fortes, muitas vezes non sense, ri-me a valer com algumas, e o Miguel teve alguma sorte, mas apanhou isso de uma forma fantástica. É o seu trabalho que é eficaz. E introduz a dimensão da personagem que vai para lá de ser artista, ou não é apenas isso. RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. PANORAMA ’06 | detrás do traço 117 E depois aparece aquele tema muito interessante... olhe, para mim, para uma aula de História de Arte, este filme pode dar-me imenso jeito, e por isso agradeço muito o terem-me pedido para vir aqui... Falo daquela dificuldade em pintar rosas. Eu acho aquilo fantástico. Primeiro, ele pinta de facto bem rosas, aprendeu a pintá-las, especializou-se nisso, e é um tema... muito interessante. É muito interessante. Porque falamos em pintura naïf, pintura ingénua que nada tem de fundamental, mas esse é que é o grande tema do artista: a dificuldade de fazer uma coisa, sendo que naquele caso é pintar rosas. E você dá isso também, não fecha. Quer dizer, podia estar à beira de fazer um documentário castiço, porque a personalidade se presta a isso, mas consegue colocar lá todos os elementos, que ele próprio tem, para percebermos o dramatismo por detrás daquele discurso, mais do que das obras. Para além de que ele é muito bom a pintar rosas, mas é medonho a pintar cestos, e você estabelece também isso muito bem. Francamente gostei do seu trabalho. MIGUEL RIBEIRO. Obrigado. RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. Não é para me dizer obrigado. É para conversarmos... Bem, a sua explicação de que aquele trabalho tinha uma componente académica, para mim foi importante para o perceber. Há ali duas componentes curiosas: o lado retórico, na maneira, nomeadamente, como é filmado; e um lado de meta-documentário, dado exactamente por aquela discussão final. E ao dizer que o filme foi construído nesse contexto académico, fez com que eu percebesse bastante melhor essas duas componentes. Mas a propósito da questão que a Raquel estava a colocar, sobre a especificidade de pintar rosas, parece-me que é curioso ligarmos precisamente esse momento do seu documentário, em que um artista desenvolve uma competência absolutamente específica para fazer uma determinada coisa e resolver esse problema, com um aspecto que é focado no documentário sobre a Susanne Themlitz. A certa altura a Susanne Themlitz diz uma coisa de uma banalidade assustadora. Ela está a falar da instalação e diz: “Hoje em dia, numa sociedade de informação, já não há razão para os artistas fazerem uma só coisa. Os artistas têm de poder fazer muitas coisas”. Eu não posso concordar menos com ela, e acho que a especificidade das rosas dar-lhe-ia uma boa lição. Até porque ela sabe-o. Acho que ela está a dizer um lugar-comum, que é nomeadamente desajustado em relação ao seu próprio trabalho. Evidentemente que os artistas podem fazer muitas coisas, claro que sim. Mas o problema está no “hoje”. É que os artistas, em cada uma das muitas coisas que podem fazer, têm que desenvolver competências específicas e resolver aquele problema que pode ser um problema completamente atípico em termos de resolução, digamos, académica, de prática plástica. Evidentemente que não se trata da questão de ser um bom pintor a óleo. Aliás, o Pomar também foca isso para responder a uma pergunta que lhe é colocada. Perguntam-lhe “aquele quadro de 1949 é bem pintado?”, e ele diz ”o que é isso da boa pintura?”, que é uma boa resposta, que ele depois desenvolve bem, também. Muitas vezes os documentários têm essa vantagem muito interessante que é recolocar a atenção sobre essa necessidade dos artistas resolverem problemas, que por vezes são completamente exógenos em relação às tipologias da prática artística tal como ela é normalmente aprendida. E, portanto, DELFIM SARDO. 118 PANORAMA ’06 | detrás do traço a Susanne Themlitz pode trabalhar com muitos materiais, pode trabalhar com muitas técnicas, pode fazer essa coisa a que se chama normalmente instalação, mas ela resolve o problema, com a multiplicidade de técnicas que tem, com a mesma necessidade de resolver um problema que o seu artista tem a pintar rosas. E acaba por desenvolver competências próprias ‘para’. Acho esse lado curioso, e no seu documentário está bem colocado. Há bocado estávamos a falar também desta questão retórica dos documentários. Eu acompanhei dois documentários de perto (por circunstâncias que não vêm agora ao caso), um deles foi um documentário feito sobre a obra do Jorge Molder onde sou uma espécie de interveniente involuntário (há uma série de cenas em que apareço metido no documentário), e outro foi sobre a obra do Fernando Calhau. E esse documentário sobre a obra do Fernando Calhau curiosamente tem algumas ligações com o seu trabalho. RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. DELFIM SARDO. Não me estou a lembrar... INÊS SAPETA DIAS . DELFIM SARDO. É de quem? É um dos filmes de arte da [Universidade] Nova? Foi feito na Nova, foi. INÊS SAPETA DIAS . Luís Correia? Exactamente. Há nesse filme um lado retórico que utiliza um dispositivo, que você não utiliza, mas que, por exemplo, aparece no documentário sobre o Manuel de Brito (e com isto tento lançar apenas mais uma acha para a fogueira): sistematicamente nos documentários sobre pintura, esta é filmada a uma distância que eu acho obscena. Obscena. Eu acho que não se filmam pinturas a 10cm. Há sistematicamente um recurso a uma relação de proximidade com a pintura que não corresponde de forma nenhuma àquilo que normalmente ela pede em relação ao olhar. E eu acho que essa aproximação até à nudez da tinta é... eu acho-a obscena. E por exemplo o Luís a certa altura fazia uma filmagem que era uma espécie de scan de uma pintura do Calhau interminável, em que... DELFIM SARDO. RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. É interessante isso... DELFIM SARDO. Sim, é curioso porque é uma necessidade de quem está a ver através de uma objectiva, que não corresponde de forma nenhuma à relação que o espectador tem com a pintura. É uma opticalização de uma relação que é muito mais corporalizada por parte do espectador de pintura. Quando estamos em frente a uma pintura não a vemos só com os olhos, vemos com o corpo todo. E frequentemente no documentário a relação com a pintura tem essa aproximação muito forte que a mim me incomoda. INÊS SAPETA DIAS . Se calhar agora tentava abrir a discussão. Perguntas, comentários... Só queria dizer que acho que o documentário também é ou devia ser uma obra artística. E não sei se às vezes todos são ou não. E pode ser muito difícil fazer um trabalho PUB (RITA FORJAZ). PANORAMA ’06 | detrás do traço 119 sobre um artista sendo também esse próprio trabalho uma obra artística, mas acho que é quando os documentários não são só didácticos ou comunicativos, mas são eles próprios uma obra artística e se interrogam e têm uma criatividade, que eu acho que... DELFIM SARDO. Eu por acaso agira fazia-lhe uma pergunta... chata. O que é uma obra artística? Quer dizer, eu não sei se o documentário tem de ser uma obra artística, acho que um documentário deve ter uma componente autoral forte e vincada e essa componente beneficia o documentário. Por vezes pode ser uma obra de arte. Pode não ser. Mas também não acho... PUB ( RITA FORJAZ). Mas eu talvez não diga uma obra de arte, digo uma obra artística. Ainda mais complicado... se fosse obra de arte ainda chegávamos a uma definição qualquer, agora uma obra artística... DELFIM SARDO. PUB ( RITA FORJAZ). Se calhar obra artística, e não obra de arte, no sentido... RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. PUB ( RITA FORJAZ). DELFIM SARDO. Mas penso que é da dimensão autoral que está a falar... Sim, sim exactamente. Quanto à dimensão autoral, também concordo. Mas sabe que mesmo sendo aparentemente campos contraditórios, mesmo na dimensão didáctica pode haver uma dimensão autoral de comunicação. O que eu penso que está aqui subjacente, o título pelo menos assim o implica, e todos nós nos afastámos um bocado disso, é: até que ponto há similitudes, transvases, toques entre a obra artística plástica, e a obra artística fílmica? Acho que esse era muito o tema, aqui. Ou seja, como é que essas duas dimensões autorais, a da obra plástica e a da obra fílmica, se influenciam quando uma investe sobre a outra? Se calhar só podíamos ter – desculpem mais uma acha, estou a reflectir – uma dimensão de conversa importante sobre isso se tivéssemos aqui o outro lado, que é o dos artistas plásticos que usam sistematicamente o filme, a dimensão fílmica nas suas obras. RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. E até documental. Às vezes uma dimensão claramente documental. Eu por acaso nessa resposta, na ligação que a Raquel está a fazer entre esses dois campos, posso falar de dois documentários que exemplificam, para mim, aquilo que pode ser um documentário. Um é sobre uma situação, outro sobre um artista. Nenhum deles é sobre um artista visual, e são os dois realizados pelo Martin Scorcese. DELFIM SARDO. Há pouco tempo foi lançado um documentário sobre o Bob Dylan chamado No Direction Home. Um filme longuíssimo (tem cinco horas e meia), e que é, na minha opinião, uma obra prima dentro da tipologia que ele define. Há uma imersão muito densa no processo criativo do Bob Dylan, desmonumentalizando-o completamente. A imagem do Bob Dylan, depois daquele documentário, é uma imagem problemática, e interessantemente problemática porque o Bob Dylan participa dela activamente. E o filme tem uma tipologia, digamos, clássica de documentário 120 PANORAMA ’06 | detrás do traço no sentido em que é construído a partir de três materiais: uma entrevista actual ao Bob Dylan, entrevistas actuais com pessoas que conviveram com ele, e material de arquivo. Nesse sentido, dizia, é uma tipologia clássica. Já não o é na construção narrativa que faz, que é uma construção completamente ziguezagueante entre o momento actual e o passado. O outro, é um filme que é muito curioso ver ao mesmo tempo que se vê esse, ou vê-lo imediatamente a seguir, o filme sobre a “Última Valsa”, o último concerto da The Band, o grupo que acompanhava o Bob Dylan (e que aliás aparece amiúde neste documentário, No Direction Home). E é um documentário muito peculiar: ele correspondeu a um pedido que o Robbie Robertson, guitarrista da The Band, fez ao Martin Scorcese, convidando-o para filmar o último concerto que eles iam dar, onde teriam uma série de convidados. Portanto, o pedido era para que ele fizesse um filme documental do último concerto, e era um concerto. E o Scorcese decidiu filmá-lo em 35mm, o que levantava problemas complicadíssimos: estamos a falar de 1975, não de hoje; não se está a falar da câmara de vídeo, mas sim de enormes câmaras de 35mm. E ele consegue fazer um documentário que acompanha o espectáculo desde o princípio até ao fim, e que se torna uma saga de toda uma geração. Tem algumas entrevistas pelo meio, onde se contam pequenas histórias, mas o filme é o concerto. E é muito interessante ver o filme sobre o Bob Dylan e aquele concerto ao mesmo tempo. São dois filmes marcadamente autorais que no entanto se aproximam imenso dos retratados – num caso o grupo, no outro caso o Bob Dylan – e ao mesmo tempo conseguem ter uma visão completamente desmonumentalizada de cada um dos personagens que estão a trabalhar. Há uma história muito conhecida de um escultor, Tony Smith, que em 1962 fez um cubo com 1,80m de altura, em aço, e numa entrevista radiofónica perguntam-lhe: “porque é que não fez o cubo maior?” e ele disse “para não ser um monumento”, “e então porque é que não faz mais pequeno?”, e ele disse “ para não ser um objecto”. E eu acho que é esse fio da navalha que realmente é muito difícil de conseguir aguentar, mas que está entre essa fortíssima componente autoral e em, apesar disso, conseguir um discurso que, evidentemente é subjectivo porque é de alguém, mas que se reporta sempre a esse objecto. É... realmente é complicado, mas no entanto... tinha uma pergunta? PUB 2. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o Um Quadro... do Miguel. Aliás, peço licença para abordar três aspectos. Antes de falar do Um Quadro... do Miguel, quero dizer que não vi, e lamento, o filme do João, e agora depois de ouvir falar sobre ele lamento ainda mais porque me parece ter sido muito bom. Primeiro porque comecei a imaginar, e acho que já tenho um filme na cabeça agora, pelo que eu ouvi: a presença tão marcada do autor, e o realizador que se integrou de tal forma na obra que o autor disse, quando terminou, que tinham sido os dois a fazê-la. E depois quando o João se explicou dizendo que não entendia nada de arte e que portanto não tinha talvez percebido qualquer coisa do ponto de vista artístico, ou acerca do poder da criatividade, eu, embora não tenha visto o filme, dou graças a Deus pelo João não perceber de arte. Porque ele conseguiu colocar duas visões interessantes, que o Delfim referiu como sendo duas coisas fundamentais no documentário, que é a do organizador, e a de olhar com olhos de quem não sabe o que o outro está a fazer, o que o outro está a criar. PANORAMA ’06 | detrás do traço 121 Porque na televisão – eu sou jornalista – trabalhamos muito o faz de conta: quando, em televisão, se filma o autor, o artista, a fazer alguma coisa, ele nunca está a fazer, está a fazer de conta que está a fazer. E isso é horrível – para alguns é fantástico, mas eu não gosto. E é por isso que eu gosto tanto do documentário: acho-o muito mais fiel. Quando o artista pinta para o documentário ele de facto está a pintar. Porque o documentário tem uma tendência para olhar por dentro do artista. A proposta parece-me ser esta. E o Delfim falou nisto, e quando ele falou pensei como era aquilo que eu gostaria de ter dito e de ter entendido. Muito obrigada. Quanto ao Miguel: eu gostei muito do seu filme, foi do que eu mais gostei dentro daqueles que eu vi. Eu não sabia quem era o Miguel, sou brasileira, e é a primeira vez que venho assistir a uma mostra de documentários, de filmes portugueses. Eu não sabia a história do pintor e durante o filme senti que havia ali um sofrimento muito grande. Pareceu-me haver ali uma relação de amor e de ódio que acompanhou todo o período, e durante todo o filme percebe-se isso mesmo. Tanto que o pintor constrói e desconstrói o quadro, o tempo todo. E no final quando ele coloca o quadro no cavalete, dá a impressão que ele derramou as rosas dentro do cesto, pela forma como ele o colocou. Será esta a identidade que você disse ser possível colocar no filme, quando não se vê o rosto do pintor? Ficou muito bem retratada a identidade do “ser louco” que está ali, isso estava muito explícito no seu filme. Portanto, está fantástico. O que me encantou também muito, para além disso, e para além de não ter desviado a atenção do quadro (e de facto o quadro fecha muito bem o filme), foram as outras imagens: aquela janela presente, constante, como que a bisbilhotar para ver o que estava a acontecer entre vocês os dois – que realmente estavam ali numa briga de foice –; as imagens da natureza, em contraste com a natureza morta do quadro... achei muito bonito, gostei muito. Você quando falou no filme disse que não tinha ficado inteiramente satisfeito. E a pergunta que eu tinha é: valeu a pena? Você ficou feliz com o resultado? Porque eu gostei muito. Obrigado pelas suas palavras. Eu sinto que ainda hoje não consigo falar do filme de uma maneira isenta, e fico sempre um pouco ansioso, porque foram tais as comoções que o envolveram... e apesar de ser um projecto de escola, foi um projecto muito solipsista, muito fechado sobre si mesmo, o Fernando [Carrilho] sabe disso. O filme começou por ter 35 minutos, e entretanto consegui cortar o cordão umbilical e esta versão tem 25 minutos – são 10 minutos a menos, o que é muito. E, não fugindo à pergunta, eu queria só fazer umas observações. É verdade que há uma redundância das imagens no filme e há um certo estilo e tom retórico. Isso é consequência de eu tentar pôr no filme uma espécie de arco narrativo para introduzir um maior interesse. Não foi muito bem conseguido, mas era esse o intuito. Mas há uma razão mais profunda, de que só agora há pouco tempo tomei consciência. Não vos disse, mas a minha relação com aquele pintor começou porque eu queria ser pintor também. Fui ao atelier dele para aprender pintura. E isso foi há muito tempo, muito tempo antes de eu me começar a ligar ao cinema e ao vídeo. E a primeira coisa que ele me disse foi “agora pinta lá tu!”. Não vos conto nada, foi um desastre absoluto! Saí a pensar que era um pintor horrível! Tentei mais umas vezes, mas percebi que aquele tipo de pintura nunca seria possível para mim. MIGUEL RIBEIRO. 122 PANORAMA ’06 | detrás do traço Mas o filme não foi só um processo de vingança, acho que através do vídeo fui pintando. Reparei há pouco tempo que, na sucessão dos meus planos, nunca há um zoom, nunca há um plano em movimento, há sempre planificação estática. E houve um professor meu, uma pessoa que eu estimo muito a quem eu mostrei o filme, que me disse “o filme está muito bonito, mas você está a fazer uma exposição de quadros. Você está a fazer quadro atrás de quadro, está a competir com o pintor”. E nesse momento tomei consciência de tudo isto que vinha para trás e que vos estou a contar agora, de que há uma razão remota, inconsciente – não assim tão inconsciente porque agora vos estou aqui a contar isto – mas que é uma coisa que vem de trás, que não tem raízes num curso de documentário que felizmente existiu mas que foi simplesmente um canal para eu manifestar esta ânsia pictural, de pintura, utilizando o vídeo e a imagem em movimento no mesmo sentido dos artistas plásticos. O filme, para mim, foi o rematar deste processo porque eu encontrei um caminho para a minha vocação artística. Não pintando as rosas como ele pinta, mas pintando as rosas à minha maneira. JOSÉ COELHO. O instrumento é outro. Exactamente, o instrumento é outro. Aquele professor disse que eu estava a pintar doutra maneira, e isso satisfez-me muito. Outras coisas não me satisfizeram nada, mas são coisas mais quotidianas. Houve um outro conflito entre nós que aliás até vos posso contar: eu dei-lhe cópias do filme, e às tantas ele pôs-se a montá-lo em VHS. Porque, dizia, queria uma “versão a sério” – ele achava que aquele não era um filme a sério. Até me pediu mais imagens de um certo dia, ou de um momento. Então eu respondi-lhe que eu também não lhe dizia para pôr mais vermelho num sítio, nem mais azul noutro, porque aquele era o seu trabalho. “Respeite o meu trabalho também”. Depois saí porta fora, os dois aos gritos, e tal. E entretanto voltei, e ficou tudo bem. Mas parece-me que existe sempre um jogo interessante entre o documentarista e o documentado: o documentarista apropria-se do outro (chega lá, tipo vampiro, saca o que tem a sacar e vai-se embora). Mas isto nunca é tão unilateral assim. Porque a outra pessoa também tem uma vontade de apropriação, e tem vontade que não se cortem todos os laços só porque o realizador já tem aquilo que quer. E eu senti isso, talvez porque já tinha uma relação com aquela pessoa, que vem de trás, e continuo a tentar tê-la, apesar de continuar a ser conturbada. Não sei se respondi à sua pergunta. MIGUEL RIBEIRO. PUB 2. Respondeu, valeu a pena. Obrigada. INÊS SAPETA DIAS . Mais?... Pegando nas palavras do Miguel, eu acho que a relação do cinema ou do documentário com as artes plásticas, ou com a matéria da pintura, é exactamente um dos casos em que essa relação se volta ao contrário. E acho que foi um bocado sobre isso que estivemos a falar. Ou seja, o documentarista, ou o cineasta, normalmente perante a matéria da pintura sente sempre um confronto e pensa até que ponto não fica a perder. Acho que deve ser difícil confrontarmo-nos com uma matéria tão conflituosa, e já tão fechada em si, e tão bidimensional PUB (MADALENA MIRANDA). PANORAMA ’06 | detrás do traço 123 na sua construção, e é engraçado que o facto dos documentários sobre artistas serem muitas vezes “monografias celebratórias” contradiz este ponto de partida. Parece-me que há aqui um campo de confronto que ainda não foi resolvido. O que eu acho giro, quando tu explicas a maneira como voltaste a pintar, é pensar que a tua relação com o filme passou por muita outra coisa que não só directamente filmar uma obra artística. E acho que isso tem a ver um bocado com os exemplos que o Delfim deu, no fundo, de pessoas que partem de outro ponto. Ou o Smithson que fez o filme com a mulher, ou o filme do Bacon que acaba por construir um outro espaço, uma outra relação para falar da obra de arte. E só gostava de dizer mais uma coisa, sobre essa questão da proximidade da filmagem: isso faz-me lembrar aquela ideia de procurar a verdade. E isto tem a ver com os próprios movimentos e capacidades do dispositivo do cinema (como no filme do Michael Snow, aquele zoom...). Como se houvesse uma tentativa de entrar numa verdade que o cinema e o movimento lhe poderia ou deveria permitir. E é engraçado como é nesses casos que a pintura em si mais resiste. Há outra coisa de que eu gostava de falar, que é a questão da biografia. O conhecimento do autor como conhecimento da obra, ou o conhecimento da obra como procura da verdade do autor, como se conseguíssemos descobrir onde é que está aquele clic que transforma e nos dá a conhecer uma tal verdade. Acho que esta verdade acaba por não existir. Lembrei-me também do filme Jaime do António Reis, em que os primeiros planos do filme não são a filmagem da pintura do Jaime, são imagens que se colocam ao nível da construção dele. JOSÉ COELHO. Já agora, você agora abriu-me a porta para eu dizer uma coisa interessante que vai ao encontro daquilo que o Sr.Delfim Sardo disse e que aquela senhora também abordou: é uma respostazinha acerca do documentário ser uma coisa artística. Eu e o João metemos tanta autenticidade, ou procurámos meter tanta autenticidade neste trabalho, que o próprio documentário deu um vídeo-arte. O João tem um vídeo-arte da sua autoria no Museu do Teatro – está lá, em projecção, para as pessoas verem com a exposição – com aquela parte do Mar, que se chama mesmo Maré Camoniana. Antes do João e eu fazermos este documentário, houve uma série de cenas que ficaram frustradas do outro filme que acabou por não se realizar. E o João tinha uma cena em que o artista impunha a sua raiva à moça que era sua assistente no atelier (não sei se te recordas?). O João fez-me repetir aquilo mais de 10 vezes ou 20, e eu gastei quase uma resma de papel a fazer desenhos, com raiva. Essa cena nunca chegou a ser apresentada. E ainda hoje tu a deves ter gravada lá no meio das tuas coisas. O que é certo é que – e vou fazer uma confidência ao João que nunca tinha feito – depois do João se ir embora, eu agarrei nos papeis todos amachucados e tenho-os lá, colados numa tela, porque eu achei que aquilo era um momento de verdade. Daqueles momentos únicos que eu nunca tive na minha vida. O João obrigou-me a ter uma raiva tão grande para explicar à moça como é que se faz uma obra de arte, como é que uma obra de arte nasce, que aquela raiva está toda naqueles desenhos, oh João, e eu tenho-os lá guardados. Um dia mostro-tos. JOÃO PEDRO LUZ. 124 PANORAMA ’06 | Um momento de gaveta... detrás do traço JOSÉ COELHO. É verdade, já viste?... INÊS SAPETA DIAS . Vamos ter que terminar. Não sei se há mais questões... Bem, eu tenho uma pequena curiosidade e acho que tenho mesmo de fazer esta pergunta (é muito pequena): naqueles planos em que aparece o José em primeiro plano, mas tu focas lá atrás, só a paisagem, eu sinto ali, talvez, o único ponto de uma resistência tua. Eu não sei se aquilo foi de propósito, se não... JOÃO LUZ . Não. OK, não foi. Mas achei que de facto era o único momento em que resistias à figura do José, omnipresente, sendo isto ainda mais significativo por ele estar em primeiro plano, mas desfocado. INÊS SAPETA DIAS . JOÃO LUZ . Uma coisa a propósito do documentário artístico. Eu tive alguma preocupação em compor quadros. Quadros em movimento. Tive essa preocupação. Quando a Raquel disse que se denotou alguma preocupação formal, houve de facto essa preocupação. Todos os enquadramentos, não sendo planos fixos, procuraram ter alguma riqueza. Não sei se fui bem sucedido, se não. Mas tentei que houvesse alguma aproximação aos princípios de composição em pintura. De qualquer forma aquilo foi filmado com uma câmara que se compra num supermercado, e há lá situações em que eu procuro enquadramentos... não direi absurdos, mas pouco convencionais. E acontece que a câmara não tem o foco manual. Então desfocou, em certas situações. Mas eu gostei do resultado. RAQUEL HENRIQUES DA SILVA. Claro. Claro. JOÃO PEDRO LUZ. Portanto, são acidentes que podia não pôr, mas gostei daquilo. Mas é só isso. Aconteceu várias vezes ao longo do filme. INÊS SAPETA DIAS . Está bem. Obrigada, então. Ficamos por aqui. Obrigada a todos. PANORAMA ’06 | detrás do traço 125 126 PANORAMA ’06 | abc debate DO SAIR pelo contrário, manter-se distante PROGRAMAÇÃO: Cold Water | Teresa Villaverde [ 5’ ] Dariel | Mário Melo Costa [ 24’] A Conversa dos Outros | Nuno Lisboa, Constantino Martins [ 22’] Carta de Chamada | Cristina Ferreira Gomes [ 65’] Contrastes | Miguel Sanches Cunha, Sofia Arriscado [ 10’] Death by Water | Renato Amaral [ 24’] Slava – As Palavras | Sónia Ferreira, José Cavaleiro Rodrigues [ 42’] CONVIDADOS: André Costa Jorge (antropólogo e membro do ACIME); Rui Pena Pires (sociólogo do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia no ISCTE). MODERADO POR: Fernando Carrilho 4.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | do sair 127 128 PANORAMA ’06 | abc No movimento contrário dos blocos anteriores, esta programação fala de uma distância, e do olhar assumidamente estrangeiro, exterior, distante, desconhecedor, assumido nos filmes que se mostraram. O debate recupera algumas problemáticas já levantadas anteriormente, especialmente o problema da relação com um ‘outro’ que é aqui colocado de forma muito sintética e clara. Publicam-se então pedaços dessa conversa, aqueles que melhor poderão servir para dar nós em pontas deixadas soltas até aqui. FERNANDO CARRILHO. Este bloco engloba filmes de escola (da ETIC e do curso de realização em documentário da Videoteca), aquilo a que chamo exercícios documentais; e outros trabalhos de fôlego, digamos, mais profissional, como é o caso do filme da Cristina Gomes, Carta de Chamada. “Do sair” engloba o fenómeno das migrações que aqui é visto sob duas vertentes: as migrações dos próprios realizadores, olhares e visões exteriores noutros países; e olhares sobre os movimentos migratórios de pessoas que vêm trabalhar no nosso país. Vou começar por passar a palavra aos realizadores, pedindo-lhes que façam uma pequena apresentação do seu filme, e que falem das suas motivações, do que os levou a fazer este trabalho. MIGUEL SANCHES CUNHA [ CONTRASTES ]. Começo por dizer que este filme esteve englobado num projecto que a ETIC nos apresentou, que tinha a parceria do festival que estava a decorrer naquela semana em Varsóvia. Foi esse festival que nos propôs fazermos um filme de cinco minutos sobre a cidade de Varsóvia. Eu, a Sofia e o Miguel, após visitarmos a cidade, chegámos à conclusão que, do nosso olhar de estrangeiros, aquilo que nos saltava mais à vista eram os contrastes (se calhar como em todas as cidades). Contrastes entre as várias zonas da cidade (parte antiga, zona nova, centro económico), e especialmente dentro da zona mais pobre, o bairro de Praga, que naquele momento era um bairro perigoso, mas que se estava a tornar uma zona artística (os artistas estavam a mudar-se para lá). Tentámos então, dentro do tempo específico imposto, registar aquilo que nos saltou mais à vista – este aspecto dos contrastes – aplicando alguns conceitos que fomos discutindo: por exemplo, a aplicação de uma cor mais viva na zona histórica do que a que a imagem transmitia; ou o utilizarmos câmara em tripé, e no bairro de Praga filmarmos com câmara à mão (e sublinho o excelente trabalho do Miguel na pós-produção audio e vídeo). Foram as nossas três cabeças que pensaram em tudo, e estiveram sempre em sintonia. E o nosso percurso foi este: seguir os contrastes, colocando sempre a cidade em primeiro plano. SOFIA ARRISCADO. A propósito disto que o Miguel disse, de termos utilizado a câmara mais à mão e tremida em Praga, e mais estável na zona histórica, queria acrescentar que isso também está relacionado com as condições que os próprios sítios nos apresentavam. Em Praga gravámos tudo muito às escondidas, enquanto na zona histórica havia tempo e espaço para montar um tripé, para fazer um quadro. Em Praga não havia espaço para fazer quadros. JOSÉ CAVALEIRO RODRIGUES [SLAVA – AS PALAVRAS]. Bom. Já toda a gente viu o filme, já toda a gente percebeu com certeza que não é um projecto de pessoas de cinema, é um projecto de pessoas de ciências sociais. Vê-se bem, basta olhar. PANORAMA ’06 | do sair 129 Falando no projecto em si, e na maneira como ele começou: o filme começa numa curiosidade antropológica em perceber estas populações recém-chegadas que começaram há muito pouco tempo a viver entre nós. Uma curiosidade pessoal, minha, e da Sónia também com certeza, mas não só. Era um pouco mais do que isso: era a vontade de dar uma certa visibilidade social a um fenómeno que raramente é referido e colocar lá as pessoas. Quer dizer, o tema da imigração é muito discutido como problema social, como problema político, nessas dimensões ele aparece na agenda mediática, e ouvimos debates mais ou menos correntes sobre o assunto. O que nós queríamos era ir buscar pessoas, episódios, situações e revelar mais alguma coisa, tornar menos estranhas para todos nós estas novas populações. Não tínhamos outro projecto, tínhamos algumas estratégias, algumas correram menos bem. No princípio a nossa ideia era fazer um filme partindo dos pequenos media imigrantes (se tivéssemos descoberto o programa da Ana Isabel mais cedo provavelmente teria sido isso verdadeiramente o filme). Daí passámos para as palavras. E assim saiu um filme sobre as palavras, sobre a aprendizagem da língua, a forma como esta nos põe a todos em comunicação, ou não. SÓNIA FERREIRA. O Zé Manel falou mais sobre as nossas motivações e a nossa formação, se calhar eu posso falar um pouco mais sobre a parte cinematográfica do projecto. Nós tivemos muito pouco tempo para filmar – fizemos o curso da Videoteca e tínhamos duas semanas, conseguimos ampliar o prazo um bocadinho mais, à socapa. O que acontece é que, se calhar por defeito profissional, como antropólogos, achamos sempre que temos de ficar num sítio e observar as pessoas durante muito e muito tempo para chegar a alguma coisa que de facto seja verdadeira, ou melhor, frutuosa (não diria exactamente verdadeira). E filmar pessoas em duas semanas, entrar pela casa delas com uma câmara e pedir para nos contarem como lhes corre a vida e o que sentem em relação a determinadas coisas, parecia-nos muito superficial. Isto causou-nos algumas angústias porque achávamos que nunca íamos chegar ao cerne da questão. Mas bom, se calhar no cinema é um pouco assim, até porque no cinema a sério se calhar haverá custos, e tempos de produção rígidos. Mas a nós (e volto se calhar um pouco à questão da formação profissional), parecia-nos sempre que o tema merecia muito mais. Merecia um olhar muito mais atento, merecia ficarmos com aquelas pessoas muito mais tempo, para chegar a mais qualquer coisa. Talvez este seja só um primeiro contributo para discutir estas problemáticas. Porque esta questão dos media imigrantes é debatida em muitos outros países (até existe a denominação “media indígenas” para media produzidos por grupos de imigrantes, ou de minorias étnicas), e em Portugal fala-se muito pouco sobre isto. Pareceu-nos que era um assunto ao qual era importante dar alguma visibilidade. Bom, depois houve imensos problemas técnicos resultantes da nossa inexperiência, que, acho, estão bem visíveis – mas também é assim que se aprende. Estive um pouco ligado, obviamente, por ter sido feito no curso da Videoteca, ao vosso documentário, e a certa altura estava um pouco assustado, perguntei-vos mesmo se aquilo ia ser feito com várias personagens, vários fragmentos. E vocês responderam que sim, e que estavam a tentar ligar todos os fragmentos através do processo comunicacional, das palavras. FERNANDO CARRILHO. 130 PANORAMA ’06 | do sair E essa ideia é interessante, e, pela exposição da língua e das adaptações, sinto que isso está bem tratado nas personagens. Mas depois, ao mesmo tempo sinto uma certa dispersão da riqueza das personagens que vão entrando no vosso filme. Eu pergunto: acham que poderiam ter tido mais coragem na edição? Para eliminar algumas coisas, não sei se tiveram esse pensamento nos dias de montagem... SÓNIA FERREIRA. Bom, tu que estavas lá, Fernando, sabes que esta foi a primeira e única montagem que o filme teve. É óbvio que numa segunda montagem eliminaríamos algumas coisas. Porque todos os filmes enquanto estão a ser montados vão tendo sempre muito mais tempo do que a versão final. De qualquer forma, o que acontece é que quando tu descobres as personagens tens muita dificuldade em ter um olhar puramente cinematográfico e livrares-te delas. “Eu afinal não te vou pôr, porque não interessa”... é muito difícil, e é preciso algum distanciamento que nós ainda não tivemos porque acabámos de montar o filme há pouco tempo. Essa discussão em torno do agarrarmos ou não o conceito da palavra foi uma discussão que tivemos ao longo de todo o curso, até com a Margarida Cardoso – foi a formadora que deu o módulo de realização. Como é que poderíamos agarrar este conceito, que é quase etéreo, esta coisa da língua, da palavra? E o processo foi começar pelos media, porque achámos que através deles chegaríamos à comunidade. Depois achámos que só os media não chegariam, ou pelo menos não só o jornal, e precisávamos de ir à procura de outras coisas. Surgiu, então, esta questão da palavra porque me parece que há também um outro mito na sociedade portuguesa, que é a ideia de que os imigrantes de Leste falam muito bem português. E que, ao contrário de outros imigrantes, até dos que vêm dos PALOP’s, os imigrantes de Leste têm uma capacidade de aprendizagem do português fora do comum. E portanto quisemos ir ver como é que isso acontece, como é que eles aprendem tão bem a língua, sendo a língua um dos factores mais importantes para a integração, a todos os níveis. Além de querermos tratar as questões das habilitações, e daí também termos ido para o jornal, e para o existirem media feitos por esses imigrantes. O processo foi este. Agora, se cortaríamos? Não sei... nós realizámos, fizemos som, imagem, montámos, fizemos tudo, e quando se faz tudo eu acho que é mais difícil perceber isso. Porque quando tens um montador, alguém que te faz a edição, tens uma pessoa de fora a olhar para as imagens que tu produziste e a dizer se aquele discurso é coerente, o que é que se deve pôr e não se deve pôr. Quando fazes tudo estás demasiado ligado ao material. E como estás demasiado ligado ao material eu acho que tens mais dificuldades em cortar. De facto já tínhamos conversado sobre essa possibilidade de cortar algumas coisas, mas não tivemos tempo de remontar o filme. Esta questão de termos muitas personagens se calhar teve qualquer coisa de gula, do ir atrás e descobrir mais pessoas, e mais pessoas e todas nos parecerem interessantes, e querermos dar voz a todas. Depois quando tivemos de montar o filme foi uma grande dor de cabeça porque não sabíamos como relacionar tudo, e as pessoas todas. MÁRIO COSTA [DARIEL]. No meu caso fui para Cuba para fazer um curso de direcção de fotografia. Como trabalho em imagem não fui de mãos vazias, levei material para filmar, e o material mínimo de som, para poder fazer algumas entrevistas e poder captar algumas das coisas que Cuba PANORAMA ’06 | do sair 131 talvez tivesse para me dar. Só que me fui deparando com situações de imensa frustração sempre que tentava que alguém me desse aquilo que eu já sentia ser um mau estar geral em relação ao que se passava e continua a passar em Cuba. A única pessoa que consegui que falasse comigo abertamente foi este rapaz que se chama Dariel, que eu encontrei no táxi já a caminho do aeroporto. Pedi-lhe para me dar a última entrevista, e ele teve um discurso bestialmente coerente, de tal forma que achei por bem montar com as imagens que fiz lá, nessa procura, sem fazer qualquer edição do som. Portanto, o som que ouviram é a entrevista integral. E pronto, é isto. É realmente muito simples. Há uma enorme riqueza nalgumas daquelas imagens (usaste super 8, não foi?), as imagens de Havana são extremamente cinemáticas, com muita cor. Qualquer pessoa tem tendência a levar uma máquina fotográfica, a filmar Havana e Cuba, o cinema está por todo o lado. E se estiveste lá tanto tempo, porquê só uma entrevista a caminho do aeroporto? Fiquei com muita vontade de aprofundar mais a personagem, e ao fim e ao cabo ela não aparece. E tenho a sensação de que há ali qualquer coisa – sem ofensa – de vídeo-postal, e tenho pena porque o discurso é extremamente profundo e forte. FERNANDO CARRILHO. MÁRIO COSTA . Eu calculo que seria mais fácil para quem vê que fosse dada uma cara. E então talvez a questão do ‘outro’ fosse mais fácil de resolver. A questão ali é que há um discurso, que pelos vistos toda a gente acha coerente, e onde não há qualquer influência da minha parte – não conduzi a entrevista com o intuito de dar um cartão-de-visita cubano. Se há alguma imagem de Cuba, é ele que a dá, sempre. E qualquer uma das pessoas que aparece naquele documentário, qualquer uma daquelas caras, podia estar a fazer aquele discurso. Portanto, há uma projecção do discurso para um nível que eu acho transversal a todo o povo cubano. Se eu decidi fazer assim a montagem, e aproveitar essa entrevista de 24 minutos, é porque há outra questão que talvez não seja assim tão visível, que é esta: há de facto uma recusa permanente dos cubanos em falarem acerca de si próprios. Vamos lá ver... isto é um bocado perigoso, o que eu disse... eles falar, falam, só que há uma autocensura constante. De tal forma que quando se dá liberdade total, quando não vamos com perguntas pré-concebidas, ou a tentar impor, e a tentar pôr na boca das pessoas as respostas que queremos obter, elas têm mecanismos de resposta. Observei esses mecanismos com todas as pessoas que entrevistei (e foram bastantes). É notório, e se calhar é pena eu não mostrar isso. Mas neste trabalho aquilo que me interessa é aquilo que eu acho que é verdade, porque é a minha sensibilidade que está a trabalhar. Aquilo que ele diz é uma verdade que eu entendo que é, mais uma vez, repito a expressão, transversal a todo o povo cubano, pelo menos à maioria do povo cubano. E a questão dele ser imigrante, é apenas curiosidade. Porque não fui à procura de um imigrante, não fui à procura de alguém que está a pensar sair, isso foi uma coisa que apareceu no fim do discurso dele. Para introduzir, digamos que eu e o Constantino partimos para aquele filme com uma evidência. Nós vivíamos naquela vila, e passou por aí a vontade de fazer o filme. Como se viu, não há um tratamento aprofundado. Não queríamos tratar personagens, queríamos ter, precisamente, quase esse reflexo superficial de uma situação, ou NUNO LISBOA [A CONVERSA DOS OUTROS]. 132 PANORAMA ’06 | do sair de um conjunto de gestos. Passava até mais por este último ponto, em termos literais: o gesto de telefonar. Um gesto que pode ser feito daquele modo, por alguém que se desloca a um lugar público, para telefonar, que tecla e pega num dispositivo. E porventura isso será um gesto particular de uma determinada época, de um determinado espaço. Portanto, interessou-nos sobretudo essa dimensão voyeurista do filme, por conflito com aquilo que é um espaço público – a cabine telefónica. Bom, e também, já agora para explicitar tudo o resto, o dispositivo é feito de uma série de recusas. Portanto, não queríamos fazer nada mais para além daquilo. Queríamos que as pessoas entrassem e saíssem (tem qualquer coisa a ver com o teatro, nesse sentido, das entradas e saídas). A simplicidade é mesmo essa, escolhas que eliminam uma série opções, e não que acumulam (em termos formais, ou o que seja). FERNANDO CARRILHO. Queria colocar a seguinte questão: vocês obviamente pediram auto- rização para gravar a conversa, aliás, acho que até tinham uma perche ali muito em cima da cabine. E achei o filme muito cru, muito simples mas também de uma intensidade dramática extremamente forte. E creio que há ali pelo menos dois processos de representação. Ou seja, eles estão a representar perante as pessoas que estão do outro lado, e por vezes, nalgumas conversas, é interessante perceber que estão a tentar convencer a pessoa com quem estão a falar de que a vida está a correr bem, tentam dar sinais positivos; e ao mesmo tempo fica a sensação de que estão sempre a representar para a câmara. NUNO LISBOA. A questão não passava tanto pelo pedido de autorização, quer dizer, o dispositivo estava montado e era perfeitamente claro: a câmara está montada no meio da praça principal da vila, e portanto só entraram aqueles que de facto queriam entrar no filme. Não há um trabalho e depois um pedido de autorização posterior. Bom, e o trabalho passou por diversas fases, noites em que não se passou nada, outras noites em que havia fila para entrar no filme, havia pessoas à espera. Depois, em relação ao modo de estar deles (acho que era a tua pergunta). Julgo que... enfim, no meu desconhecimento absoluto acerca da comunidade, num certo sentido, enquanto povo brasileiro, e não podendo generalizar, eu julgo que há de facto uma relação totalmente diferente com a câmara, e com o dispositivo, daquela que nós temos. E essa dúvida pode surgir, essa da representação, do actor e da pessoa... não sei se tenho muita coisa a dizer sobre isso... talvez destacasse apenas um dos personagens que, digamos, para nós foi central (central também literalmente porque está no meio do filme, e é o mais longo). É o único que faz as duas vozes: ele fala para o lado de lá e reafirma as respostas com perguntas. Portanto, ele reformula as respostas que lhe dão do lado de cá. Nós temos acesso, através dele, ao que a outra pessoa vestiu, “uma blusa verde, um sapato preto”, etc. É o único que o faz, e que nesse sentido nos devolve qualquer coisa que está sempre oculta em todas as outras conversas. Enfim, por mim, alguns deles até podem ter inventado tudo aquilo, quer dizer... O que nos interessou foi esse lado da projecção, da projecção de imagens, todo um jogo de espelhos. Não sei se eles não dirão mais de nós do que deles, e do que passa de lá para cá, e de cá para lá. PANORAMA ’06 | do sair 133 FERNANDO CARRILHO. André, percorrendo todos os filmes, e sobretudo os relacionados com imigrantes, existirá algo em comum na visão destes realizadores perante esta realidade? ANDRÉ COSTA JORGE. Não sei se será necessário encontrarmos alguma coisa em comum... Mas de toda a maneira achei sugestivo aquilo que foi dito, acerca da forma como os antropólogos, sociólogos, quando se põem a fazer filmes, levam qualquer coisa deles. Um olhar que busca qualquer coisa, inquieto, ou algumas questões já mais ou menos levantadas noutros contextos. E a câmara serve de suporte que às vezes incomoda, por não sabermos onde a colocar, ou não percebermos se é ou não tempo de filmar... e falo não só como antropólogo, mas também um pouco como iniciante no documentário. Quando se fala de temáticas relacionadas com as ciências sociais, e também da questão da imigração, aparece sempre um fundo de curiosidade sobre o exótico, sobre o outro. E o olhar sobre o outro, é talvez a base do olhar antropológico, qualquer coisa que se calhar todos estes filmes trazem em comum. No fundo, há uma inquietação e uma necessidade de reflexão através das imagens, e uma procura daquilo que os protagonistas possam transparecer, inquietando também quem vê. E nesta procura eu creio que todos os filmes, apesar de não todos da mesma maneira, são eles próprios inquietantes. RUI PENA PIRES . Sou mais ou menos incompetente para falar sobre filmes, porque de filmes a única coisa que sei é vê-los. Agora, sei algumas coisas, não muitas, sobre migrações posso falar um pouco sobre isso a pretexto dos filmes (aquilo para o qual tenho mais competência, apesar de tudo). A primeira coisa que eu penso que é importante assinalar no conjunto dos filmes, e o primeiro traço comum, é que há uma enorme diversidade não só nos filmes, mas também nas situações neles retratadas. E reconhecer essa diversidade é um elemento importante para não criarmos muitos mitos sobre as migrações, e sobretudo sobre a imigração. Uma das formas de mais facilmente desconhecer o que se está a passar com as emigrações é pensarmos que nós temos ‘emigrantes tipo’, é pensarmos que temos ‘emigrações tipo’, e que a emigração está toda tipificada. Não está. Nós temos migrações completamente invisíveis e enormes por exemplo de holandeses, de alemães, de americanos, que nunca estão nos tratamentos da imigração como problema, e esse é o primeiro problema. A outra questão que domina grande parte dos filmes é exactamente a tendência para pensar a imigração como problema. E ninguém fala dos problemas da imigração, como eu dizia, alemã, holandesa, inglesa, espanhola, italiana, e por aí adiante, podíamos continuar. Como, quando falamos dos problemas da imigração brasileira, falamos dos problemas imigração brasileira recente, na Costa da Caparica, mas ninguém fala dos problemas da imigração brasileira dos médicos, dos investigadores, dos professores, e que no entanto, até final dos anos 90, constituía a maioria da imigração brasileira. Portanto, eu penso que se há alguma coisa útil a fazer com os filmes, é usá-los para reflectir sobre o facto de eles retratarem bem a existência de uma diversidade, mas mesmo assim essa diversidade ficar limitada pela ideia muito entranhada de que a imigração é um problema. 134 PANORAMA ’06 | do sair E para nós de facto é muito difícil falarmos de imigração sem falarmos de problemas. Como é muito difícil falarmos de imigração sem falarmos de comunidades. O facto de a imigração ser muito diversa, uma das coisas que ajuda a perceber é que não é composta por comunidades, é composta por pessoas. E esta incapacidade frequente de falar da imigração sem falar do colectivo é, para mim, o principal óbice ao desenvolvimento de boas práticas de integração dos imigrantes porque tende sistematicamente a definir o imigrante pela imagem estereotipada que se constrói sobre a colectividade de origem desse imigrante. Essa colectividade é, ao mesmo tempo, uma colectividade com uma existência que raramente é transportada, e isso acontece porque ela só faz sentido enquanto existe nas relações entre as pessoas que a compõem. Essas relações não se transportam quando as pessoas partem. Da mesma forma que ninguém escolhe a sua nacionalidade, ninguém escolhe o país em que nasce, também não se escolhe ter entranhado até à medula uma cultura e uma identidade que não são depois transformadas quando se migra. E portanto eu diria que haveria utilidade em pensar a imigração para além dos problemas, em pensar a imigração para além das colectividades, e em tentar dar mais visibilidade à imigração como um conjunto de histórias pessoais que, embora tendo muito de semelhante nalguns casos, nunca esgota essas histórias pessoais: estas são o fundamental. E são histórias com muita sorte, e com muito azar e com muito pouca estratégia, a maioria das vezes. Deixem-me só contar uma coisa prévia: de documentário não sei nada, de emigração sei algumas coisas, e de história de emigração também sei porque fui emigrante duas vezes. De uma não me lembro porque tinha 3 anos, mas na segunda tinha 20 e lembro-me: foi quando vim de Angola em 1975. Sou imigrante, não sou estrangeiro, mas as duas coisas não se sobrepõem completamente. E a emigração que eu fiz em 1975 foi tudo menos estratégica. Não pensei no que ia fazer, sabia que tinha de me vir embora e vim. Não planeei, não escolhi nada de início, e depois fui fazendo pequenas escolhas à medida que me ia integrando. E este tipo de história é mais comum do que nós imaginamos. Muita da imigração acontece por um acumular de histórias destas. Depois há umas que têm sucesso, outras têm insucesso. Mas se nós não tivermos em atenção e percebermos que existem estas histórias, temos alguma dificuldade depois em lidar com os problemas da memória dos imigrantes. A memória dos imigrantes é muito engraçada. Por exemplo, muitos dos meus amigos, da minha idade, que viviam em Angola comigo até ’75, contam histórias sobre uma Angola que nunca existiu, e comparam, quando avaliam a sua situação em Portugal, com a situação numa Angola que nunca existiu. E atribuem a Angola as propriedades não de Angola mas da sua juventude, confundindo o tempo e o espaço. Por exemplo, a maioria diz que a vida em Angola tinha muito tempo livre. A vida em Angola tem tanto tempo livre como em Portugal. Agora, eles estão a comparar a idade dos 19, os 18, os 17 anos em que estudavam, com a vida adulta, e de facto passaram a ter muito menos tempo quando passaram para a vida adulta. Estão, então, a confundir o tempo e o espaço. E portanto, quando se recolhem memórias de emigrantes, sobretudo memórias longas, é preciso perceber certas coisas. É preciso perceber se, quando as pessoas estão a falar em falhas, estão a falar de falhas porque falharam ou porque já não conseguem sequer comparar aquele momento com a vida que deixaram para trás e apenas com as vidas PANORAMA ’06 | do sair 135 que vêem à volta. Este é um elemento fundamental. Porque a maioria das vezes as chamadas falhas nos percursos dos emigrantes não são falhas, são uma mudança de critérios de avaliação pela sua própria posição. Bom, porque é que eu falava nalguns destes problemas? Falava na diversidade porque é fundamental para perceber, por exemplo, uma coisa que me fascina e que eu nunca vi bem estudado: a história dos media dos imigrantes. Porque não há media dos imigrantes em Portugal. Em rigor, há sobretudo media dos imigrantes do Leste. E porquê? E que papel tem, nomeadamente a imprensa escrita, entre os imigrantes do Leste? Porque é uma coisa extraordinária: eu vejo em qualquer quiosque jornais em russo, mas não vejo mais jornais nenhuns de outras nacionalidades há mais tempo representadas na imigração portuguesa. Este elemento poderia, então, ajudar a pensar esta questão, e nomeadamente o segundo problema que eu referia, o da comunidade. Uma das coisas que a existência de jornais entre os imigrantes de Leste nos ajuda a perceber é que uma boa parte do nosso mito sobre as comunidades está relacionado com o facto de haver uma parte da imigração composta por migrantes com muitos poucos recursos para poderem agir na nova sociedade sem mobilizar as redes pessoais de que dispõem – é o único recurso que têm. Eu, às vezes, fazendo quase propaganda, costumo dizer que a comunidade é o recurso dos pobres. É o recurso para quem não tem mais nada, quem não tem outra solução que não seja usar como capital aquilo que nós chamamos o “capital social”, o “capital de relações”. Mas isto não se passa com os imigrantes do Leste. E a prova que os imigrantes do Leste têm outros recursos que podem usar, nomeadamente para construir formas de entreajuda ou de acção colectiva, ou formas de apoio à sua integração, é que podem recorrer a um instrumento que é tudo menos comunitário: um jornal. Um jornal não é um recurso comunitário, um jornal é um veículo de comunicação que se baseia na relação impessoal, abstracta – é exactamente o contrário. Não é negativo por isso, como é evidente. FERNANDO CARRILHO. Mas não potencia a comunidade? RUI PENA PIRES. Não, potencia o agir em conjunto mesmo desconhecendo o outro. Essa é que é a grande vantagem de ter um jornal. Tendo um jornal posso agir colectivamente sem ter que fazer parte de um mesmo grupo no qual estão os outros que agem comigo. Não só o jornal, também a net, seja o que for que permita mediar a comunicação, dispensa haver comunidade. O que é uma vantagem enorme. Porque as comunidades normalmente aparecem descritas de uma forma idílica mas isso é porque ninguém se lembra que comunidade é aquele meio da aldeia em que toda a gente sabe tudo sobre toda a gente e que, quem tem de recorrer a uma comunidade para agir, paga um preço elevado de perca de autonomia individual. Nós temos uma representação muito idílica sobre esses meios carregados de redes de interacção, onde há um ‘de-todos-para-todos’, em que se paga o que se ganha. Esse conceito de que está a falar, de comunidade, quanto a mim surge, muitas das vezes, construído em reportagens jornalísticas. Mas também aparece nestes filmes do Panorama, ou noutros que há sete, oito anos têm vindo a abordar o tema (lembro-me do Entre Muros do João Ribeiro). E queria perguntar-lhe se pensa que o documentário, e a visão FERNANDO CARRILHO. 136 PANORAMA ’06 | do sair dos realizadores, poderá ajudar a desconstruir esse conceito de comunidade, e assim ser abordada essa diversidade de que fala. Pode, pode. Como pode, aliás, com muito mais facilidade do que o trabalho, por exemplo, do jornalista. Porque o trabalho do jornalista é demasiado seco para tentar reconstruir um termo que está carregado de emoções como o de “comunidade”. Pode e eu acho que era fundamental que o fizesse. Porque é que quem está em posição de poder consegue sempre falar no singular quando fala de holandeses, italianos, espanhóis e de ingleses, e só consegue falar no colectivo quando fala de chineses, indianos, de angolanos? Se tentarmos pensar um bocadinho sobre porque é que isto acontece, o que nós percebemos é que há pessoas a que nós recusamos tratar individualmente. Só as conseguimos perceber como ‘outro’. E sobre esta categoria do ‘outro’ há um equívoco permanente: nós pensamos que o grande problema das relações com forasteiros diversos é serem relações com o outro, e que é preciso não hierarquizar os outros, ter respeito pelo outro, e outras coisas deste género. O grande problema é conseguir perceber quando é que tendemos a tratar um forasteiro como outro. Porque nós não tratamos todos os forasteiros como outros e há alguns que tratamos especialmente. E há alguns equívocos com isto, por exemplo: a coisa mais absurda que eu me lembro de ter visto, com boas intenções, nos últimos anos, feita em Portugal e em muitos países europeus, foi um cartaz com pessoas com várias cores de pele onde vinha escrito por baixo “todos iguais, todos diferentes”. Isto é das coisas que mais me assustam, e porquê? Porque este cartaz aceita o racismo. Incorpora-o completamente, até à medula. Parte do princípio que uma pessoa que tem uma cor de pele diferente é um ‘outro’, é diferente. Por que carga de água é que uma pessoa que tem uma cor diferente da pele é ‘outro’? Porquê? É diferente porquê? Esse é o princípio do racismo: presumir que quem tem certos atributos físicos, diferentes dos da maioria, tem uma cultura diferente e portanto é um ‘outro’. E isto aliás nota-se na tentativa de corrigir um certo vocabulário, e que resulta num verdadeiro tiro nos pés, por exemplo, substituir a expressão ‘negro’ pela expressão ‘africano’. O que é que a expressão ‘africano’ presume? É que quando vejo a pessoa à minha frente, vejo como único traço distintivo a cor da pele, que, como é diferente, faz com que a pessoa seja africana. Se calhar nasceu em Portugal, o pai nasceu em Portugal, o avô nasceu em Portugal, toca fado, sei lá, gosta da bola, mas é um ‘outro’, é africano. Eu por acaso vivi 20 anos em África, mas como a minha cor de pele é bem clarinha, ninguém se lembra de dizer que eu sou africano. RUI PENA PIRES . O que eu estou a procurar dizer é simplesmente que nós temos de ter algum cuidado a trabalhar com categorias colectivas. E quando fazemos documentário, ou quando fazemos ensaio, ou ficção, podemos sempre das duas uma: ou reforçar essas representações que tipificam demais, que produzem um excesso de colectivo ou ajudar a destrui-las. Eu acho que o grande problema de todos os discursos sobre a imigração está em criarmos um “excesso de nós” (uma expressão um bocado foleira que costumo usar. Não é muito bem conseguida mas serve aqui para tentar explicar o que quero dizer). “Nós, isto; nós, aquilo”: há um excesso de ‘nós’, um excesso de colectivo. E nós tanto podemos, na maneira como olhamos para a imigração, PANORAMA ’06 | do sair 137 reforçar este “excesso de nós”, como ajudar a estilhaçá-lo e mostrar que no essencial da imigração estão pessoas, que são muito mais parecidas com as pessoas que elas encontram à chegada do que diferentes. Grande parte do problema da imigração resulta não da imigração mas de nós termos começado a constituir estas pessoas tão semelhantes como pessoas muito diferentes, e a partir daí termos considerado que há um grande problema que é o problema da imigração. Há bocadinho dava aquele exemplo do “todos iguais, todos diferentes”... Quando esse cartaz esteve em França houve um líder do movimento anti-racista francês que disse uma frase que eu nunca esqueci: “eu, quando vi esta campanha, só me lembrei de reclamar o meu direito à semelhança”. PUB . Queria fazer dois tipos de comentários. O primeiro deles acho que mais substancial. Acho que o debate de hoje é particularmente interessante porque se está a entrar numa das questões mais importantes do documentário. Uma coisa são os documentários sociologicamente inócuos, outra são os documentários que entram efectivamente em aspectos sociais, antropológicos, psicológicos, que se colocam muito próximos de comunidades, e que são muito delicados, em termos éticos, em termos de caracterização, em termos de representação correcta ou incorrecta da realidade. Quando um realizador está a fazer um documentário, onde é que termina a sua liberdade de caracterização, no fundo a sua leitura, e começa o mundo das leituras mais correctas ou menos correctas, mais bem representadas ou menos bem representadas das realidades sociais que está a filmar? Acho que isso é uma questão central e importante. Como é que o realizador se coloca? MÁRIO COSTA . Acho que há duas abordagens possíveis quando se vai partir para um documentário. Apesar deste ser o meu primeiro documentário/entrevista, parece-me que existe o documentário ficcional onde há uma consciência do realizador em relação ao problema de uma imigrante de Leste, a Svetlana, por exemplo. E diz “Svetlana, agora preciso que vás até ao lava-loiças e laves dois ou três pratos, e depois ligues o televisor e te sentes e fiques a ver um bocado as notícias do teu país”. Pronto, isto é uma situação. Outra situação é sentarmo-nos e ficarmos à espera. Tendo consciência daquilo que se pode ou não conseguir filmar. Agrada-me mais a segunda opção. Acho que é capaz de resultar melhor para quem assiste a um documentário ver um documentário ficcionado, porque há uma narrativa e há uma manipulação da verdade para se conseguir um objectivo que é depois claro para o espectador. Quando se vai à procura, muitas vezes depara-se com situações frustrantes em que não se consegue puxar a realidade para dentro da câmara, e isso é um risco que todos os realizadores que abordam esta questão da emigração, ou questões humanas, ou questões sociológicas, têm de ter presente. SÓNIA FERREIRA. No fundo estamos a falar de questões de ética profissional. Seja no documentário, no cinema, seja em que profissão for. A câmara é um instrumento de poder. Agora, não podemos pensar que somos só nós que estamos a utilizar uma câmara para um determinado fim. Às vezes as pessoas que estão do outro lado também têm uma noção da utilidade daquele instrumento. Muitas vezes as pessoas constroem performances para a câmara ou utilizam-na como forma de deixar uma mensagem. Noutros casos isso não acontece. Noutros casos aquelas 138 PANORAMA ’06 | do sair pessoas que estão ali não têm noção de até onde aquelas imagens podem ir, e nós muitas vezes, quando estamos a fazer edição, temos de fazer escolhas, e ponderamos sobre a situação frágil em que a pessoa vai ficar e decidimos sobre isso. Depois há outra questão, que é a questão da representação dos realizadores sobre aquilo que estão a trabalhar, e todos os documentários que vimos aqui hoje e todos os que são feitos, são uma representação de qualquer coisa. São um olhar. E o olhar do cinema é aquilo que está metido dentro daquelas quatro linhas. Há muita coisa que fica de fora, há muita coisa nos bastidores que pode ou não manipular o que está a acontecer. Nós até podemos ficar lá muito tempo sentados com uma câmara à espera que aconteça algo e nunca sabermos até que ponto aquela câmara foi esquecida, ou seja, até que ponto é que o que está a acontecer está ou não consciente da presença da câmara, como acontece (desculpem outra vez puxar a brasa à minha sardinha) na Antropologia com um gravador ou com qualquer outro suporte. Portanto, eu acho que essa questão não tem uma resposta. Ou seja, só levanta muitas outras dúvidas, e muitas outras questões que é importante que continuem a ser debatidas. O que eu acho é que não podemos só pensar na posição do realizador e da câmara como um instrumento de poder, e não pensarmos nas respostas, nas estratégias, nas defesas dos indivíduos que também estão a ser filmados. E que muitas vezes têm estratégias – principalmente as pessoas que já foram muito filmadas. PUB 2. É muito breve. Eu desde 2ª feira que tenho assistido à maioria dos filmes, e têm tido bastante nível, tenho gostado muito destes debates, excepto deste filme sobre Cuba que me chocou. Achei que havia uma grande incoerência, e havia uma intenção muito clara desde início, quando se escolheu um estudante de Economia e não se abordou outras coisas, que as há, como a questão da formatura de médicos, etc. E chocou-me bastante porque esses produtos estamos habituados a ver na SIC e na TVI, onde nos chocam constantemente. Pronto, era só. MÁRIO COSTA . Eu percebo perfeitamente o seu ponto de vista... [espectador sai da sala] pois, também percebo que o faça... É inevitável. Na questão de Cuba há sempre uma visão política muito forte, e há aqui em Portugal a tendência para ver Cuba como um belo postal ilustrado. Pronto, eu não posso fazer nada em relação à vontade de ver as coisas assim. Agora, eu estive lá, com a minha sensibilidade, e documentei aquilo que vi. Quer dizer, não parti com nenhuma ideia pré-concebida daquilo que queria trazer de lá. Portanto, aquilo foi uma coisa que surgiu e que eu captei. FERNANDO CARRILHO. E estás no direito a ter o teu ponto de vista. PUB 3. Não partiu com nenhuma ideia pré-concebida mas veio de lá com ideias muito definidas. Eu não vi o filme, mas constatei no seu discurso que falava muitas vezes no colectivo, no povo cubano. Para mim essa é uma abstracção que não faz qualquer sentido. E apresentou convicções muito profundas sobre aquilo que o povo cubano sentiria ou pensaria, ou de que forma é que ele agiria face a determinada circunstância. Eu desconfio sempre das generalizações, sejam elas quais forem. Da mesma forma como não me revejo, provavelmente, num discurso sobre os portugueses, também acho um pouco abusivo essa generalização. PANORAMA ’06 | do sair 139 Percebo isso perfeitamente. Só que há de facto, para quem faz ‘n’ entrevistas, e para quem se preocupa em conhecer os cidadãos cubanos, e falar com pessoas completamente diferentes umas das outras, sem preocupações com estratos sociais ou com problemas de educação – com vontade de conhecer as pessoas – há de facto pontos comuns. E a preocupação política é um desses pontos. Existe uma grande preocupação política em Cuba, não vamos dizer que não. Há se calhar... há aqui se calhar 30% de portugueses que não votam, e se calhar esse também é um ponto comum em todas as eleições. Pronto, há pontos comuns. E a preocupação política é um ponto comum nos cubanos. MÁRIO COSTA . PUB 3. Saindo do registo de Cuba, só queria fazer um ou outro comentário. O primeiro relativamente aos dois filmes, o As Palavras e o Dead by Water. Houve alturas em que eu senti necessidade de legendagem porque estava a sentir uma enorme dificuldade em perceber o discurso, e apeteceu-me perguntar aos realizadores se isso seria deliberado. Se esse não recurso à metalinguagem não seria uma forma de nos confrontarmos com alguma incomunicabilidade, ou com o próprio processo de comunicação em si, independentemente daquilo que é dito. Ou seja, a câmara elegia como objecto não aquilo que era dito, efectivamente, mas a forma como era dito. E nesse sentido percebo que não tenham recorrido à legendagem. Outro comentário também disperso é-me sugerido pela observação do Rui Pena Pires sobre a noção de comunidade – fiquei um pouco confusa. Eu penso que ele partia de uma noção de comunidade baseada exclusivamente na relação interpessoal face a face. Partindo desse princípio e... não percebi. Em que medida é que ao estarmos perante um jornal, ou perante a possibilidade de existência dos media, deixamos de, por consequência, estar na presença de uma comunidade? Uma definição de comunidade baseada na relação face a face não será uma noção muito restritiva de comunidade? Intrigou-me, de alguma forma, e gostava que comentasse isso. Porque me faz perguntar: então a imigração de Leste não constitui uma comunidade, a imigração cabo-verdiana é uma comunidade, onde é que está essa fronteira? No filme As Palavras viram-se vários espaços de relação interpessoal: o ginásio, o supermercado, a escola de línguas, e outros. Penso que o jornal e a rádio são mais um espaço, e porventura não de comunicação interpessoal, mas de encontro. E com funções que não divergiriam muito dos outros espaços que também eram retratados. Talvez divergissem na forma, mas não tanto no conteúdo. Até porque no próprio jornal é muito enfatizada a questão da correspondência, de leitores que escrevem, e portanto não sei até que ponto... pronto, gostava que falasse um bocadinho mais sobre isso, se houver tempo. Obrigada. FERNANDO CARRILHO. Rui, pedia-lhe que fosse mesmo breve, em jeito de conclusão. Pode ser? RUI PENA PIRES . Vou tentar ser super rápido. Primeiro, só uma questão. É óbvio que há vários sectores da imigração ligados ao associativismo e à imprensa. O que me fascina no caso do Leste não é isso: é encontrar jornais empresariais, mais anónimos, em qualquer quiosque, e não num meio circunscrito. O que é uma comunidade? Qualquer conceito, para ser útil, ou é restritivo ou não é útil, porque se não designa tudo, e depois, designando tudo, já não permite distinguir e então perde 140 PANORAMA ’06 | do sair utilidade. Hoje não há comunidades, vamos lá a ser francos – e ‘comunidade’ não é substantivo, ‘comunidade’ hoje é mais adjectivo. Isto é, há situações de maior comunitarização, e de menor comunitarização. Para haver comunitarização são implicadas duas coisas: contacto interpessoal – sem isso não é comunidade, portanto não existe a comunidade dos portugueses, não há comunidade dos europeus, isso é retórica pura –; segundo, implica uma espécie de relações de todos contra todos, tendencialmente. Entendendo a comunidade como adjectivo – entendendo isso – temos que perceber que isto de todos contra todos numa relação interpessoal, tem vantagens e tem custos, que estão presentes nalguns mitos sobre as cidades. Em todos os inquéritos que se fazem sobre as cidades, há anos que as pessoas dizem: “principal vantagem: o anonimato; principal desvantagem: a solidão”. Tem a ver com aquilo que é a vantagem e a desvantagem dum meio mais impessoal. Com a comunidade, se fizéssemos o mesmo inquérito, a principal vantagem seria a solidariedade, a principal desvantagem, o controle, como é óbvio. Bom, portanto o que eu digo é que há sectores mais comunitarizados em todas as migrações, mas a comunitarização é maior em populações imigrantes mais pobres do que em populações imigrantes menos pobres. É só isso que eu estou a dizer. Agora, quando utilizada como categoria retórica, a palavra ‘comunidade’ tem o efeito de nos impedir de pensar a pessoa sem pensar o conjunto, e portanto a reforçar a visão da pessoa como outro. É só para isso que eu estou a tentar alertar. E é possível – é possível – sublinho, dizer cabo-verdianos em vez de dizer a comunidade cabo-verdiana, ou as populações cabo-verdianas (que é muito mais neutro) ou as populações imigrantes. Eu não preciso do termo comunidade para nada. E se comunidade é uma qualidade específica de uma população eu só devo usar a palavra quando souber que estou a usá-la com justeza, porque se não o fizer estou a praticar um efeito de retórica que na prática reforça a tipificação. PANORAMA ’06 | do sair 141 debate FILMES SOBRE FILMES (integral) da importância e da definição de um dispositivo (ou sobre as linhas e as contradições que fazem um”cinema-verdade”) PROGRAMAÇÃO: Drogas em Letras | NuCIVO [21’] Era uma vez um Arrastão | Diana Adringa, Mamadou Ba, Bruno Cabral, Joana Lucas, Jorge Costa, Pedro Rodrigues [20’] Lusco Fusco | Ricardo Freitas [20’] Malmequer, Bem-Me-Quer | Catarina Mourão [51’] Buenos Aires Hora Zero | José Barahona [69’] Bubbles, 40 anos à procura de sabe-se lá o quê | Helena Lopes, Paulo Lopes [60’] Preto e Branco | João Rodrigues [12’] CONVIDADOS: Margarida Cardoso (realizadora e professora de cinema) MODERADO POR: Madalena Miranda 5.Fevereiro.2007 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 143 144 PANORAMA ’06 | abc Este bloco junta filmes em que a construção é qualquer coisa que atravessa todos os pormenores do filme, sendo inclusive o seu objecto. Temos perguntado acerca das motivações, e neste caso acho que faz sentido que falem também da construção dos filmes, e das dúvidas metódicas que vos foram assombrando e que foram resolvendo. MADALENA MIRANDA . GONÇALO TOCHA [ DROGAS EM LETRAS]. Eu não sei se vocês viram o filme, passou hoje às onze da manhã. Não fui eu que realizei, é um filme do colectivo NuCIVO, e partiu de uma notícia do jornal O Crime, onde se dizia, em primeira página, que a Faculdade de Letras era um pólo de tráfico de drogas leves. O concelho directivo e a reitoria foram imediatamente obrigados a pedir uma investigação criminal, e de facto, passado um mês, temos a notícia de que três alunos são detidos por estarem no bar novo a fumarem um charro, por três polícias à paisana, que só se identificaram no momento de detenção. Eles não tinham mais do que cinco gramas, e por lei só pode ser incriminada a pessoa que tiver mais que isso, porque só assim é considerado tráfico. Tinham menos. Em todo o caso ficaram com termo de residência, não podiam abandonar o país sem dizer às autoridades. Ou seja, tudo aquilo tomou uma proporção desmedida. Obviamente que se consome droga, como se consome haxixe em todas as faculdades, como em todas as ruas, como em todo o sítio. E o que pensávamos ser uma brincadeira de mau gosto de um jornal, afinal tornou-se numa coisa muito maior. A partir daquele momento dois polícias fardados passaram a estar sempre presentes na faculdade – continuam lá. Portanto, já estamos a mais de oito ou nove meses da notícia, e continuam por lá os polícias. Pagos pela universidade. Agora há pouco tempo, a 4 de Janeiro, surge um outro fax a dizer que a Associação de Estudantes está em risco de ser incriminada por cumplicidade. Tudo isto é ridículo, nada disto tem grande interesse, e a ideia do próprio filme parte deste suposto jornalismo, muito maniqueísta. Um jornalismo que considera que toda a gente que anda na Faculdade é drogado, que toda a gente consome drogas. E o filme não é um documentário, é uma reconstituição histórica de qualquer coisa que ninguém sabe o que é – os próprios depoimentos das pessoas são completamente anacrónicos. O Concelho Directivo recusa-se a prestar declarações, e portanto nós reconstituímos com a imaginação o que se terá passado, sem tentar ter grande fidelidade. Não interessa para o caso. Interessa que se passou qualquer coisa, e que há uma insinuação. Por um lado ficámos surpreendidos pelo Panorama ter aceite o filme, porque se calhar não deveria estar cá, não sei... Bem, mas isto para dizer que dentro da Faculdade de repente se criou um clima de mal-estar. Estávamos a ser vigiados, e nós fazíamos também parte dessa vigia. E portanto o dispositivo passou por nos colocarmos no lugar do jornalista que vai fazer uma reportagem, e que vai tentar saber a verdade, tendo já a certeza dessa verdade. Ou seja, alguém que faz uma investigação mas já está a pôr a resposta na pergunta. ”Há quanto tempo é que consome drogas?”, e “tu consomes aqui dentro?”, e o outro responde “mas eu não consumo drogas”, “mas há quanto tempo é que consomes? E porque é que consomes aqui dentro?”. A pergunta é sempre a resposta. Que é o que se passa um bocadinho no ...Arrastão: a partir do momento em que alguém diz PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 145 a um jornalista que houve um assalto, um arrastão com 500 pessoas, o jornalista já não vai tentar saber o que é se passou, mas apenas como se passou. Parte-se do princípio que foram 500 pessoas a assaltar, sem se procurar saber o que se passou atrás de tudo isso, ou se é mesmo verdade. MADALENA MIRANDA. Eu gostava só de dizer que essa questão que colocaste foi também nossa durante o processo de construção do Panorama. O Drogas em Letras é de alguma forma uma provocação ao real, não é? Perante uma notícia como aquela vocês pegam num suposto dispositivo de entrevistas, e isso é de certa forma uma provocação, vais ao encontro das pessoas. GONÇALO TOCHA. Uma provocação até à própria ideia de documentário. MADALENA MIRANDA . Sim. Exacto. Bem, vou passar a palavra à Helena. Quando vi o programa do Panorama, mas antes de tentar perceber como é que seriam agrupados os filmes, pensei onde iriam pôr o Bubbles. E quase apostei que ia ser no “filmes sobre filmes”. E por um lado até achei que seria extremamente injusto porque o Bubbles não é um filme sobre um filme. Mas ao mesmo tempo, e agora que a Madalena estava a referir a questão da linguagem, penso que é verdade, que faz sentido, se pensarmos que no Bubbles nós, de alguma forma, tentamos questionar a construção do filme. Ou, partimos para o filme a partir da construção do próprio filme. HELENA LOPES [BUBBLES]. Se calhar talvez seja bom contar-vos como é que este filme aconteceu. O Paulo e eu estivemos nos EUA na universidade, tivemos essa oportunidade, e é uma oportunidade difícil, e se calhar nem surgiria noutro sítio a ideia de fazer este filme, ou um filme. E como a felicidade era uma coisa muito presente nas nossas vidas, começámos a pensar naquelas pessoas que tínhamos à nossa volta, com 20 e poucos anos, que podiam fazer o que quisessem na vida, e que talvez fossem super felizes. De alguma forma foi uma ironia da nossa parte, mas decidimos falar da felicidade através daquelas pessoas que ali estavam. Depois encontrámos os quatro rapazes e ficámos muito contentes, pensámos fazer um filme sobre quatro pessoas que estão a acabar a universidade e estão a pensar no que vão fazer da vida, a seguir. Mas quando tentei montar qualquer coisa a partir desse material não saía filme nenhum. E porquê? Sobretudo porque não tínhamos material para fazer um filme, não tínhamos chegado suficientemente perto deles e isto porque nos questionávamos a nós próprios. Ou seja, nós estávamos ali a rever em certa medida o que tinham sido as nossas vidas. E eles de alguma forma deram-nos uma bofetada, e fizeram com que iniciássemos um processo muito mais interior. Percebemos que para tentar resolver e para conseguirmos fazer daquilo um filme, teríamos que pensar porque é que eles nos tocaram. Percebemos que teríamos de falar sobre nós. Depois havia uma outra coisa: como é que se fala da felicidade, ou como é que se pode tratar a felicidade como uma temática? E como para nós o tema da felicidade tem sido uma procura constante, que tem estado em todas as perguntas que temos andado a fazer às pessoas ao longo dos anos, achámos que para falar do tema era preciso falarmos sobre nós, e sobre essa nossa procura. Isto para vos dizer que de repente acabámos com um filme nas mãos que está a questionar a sua própria procura, também. 146 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes E à medida que fomos fazendo o filme, ele foi um acto falhado, muitas vezes. Quer quando andávamos a questionar as pessoas sobre a felicidade, quer quando encontrámos aqueles quatro rapazes e não estávamos a conseguir fazer um filme sobre felicidade, quer quando estamos a perguntar como é que havemos de falar da felicidade sem falarmos de nós próprios... e isso é um pouco o que se passa na vida, estamos sempre à procura de qualquer coisa, e se as coisas não estão a funcionar voltamos para trás, recomeçamos. E portanto o filme é uma grande mixórdia – e até vos peço desculpa por isso – não só de fontes de material, mas das nossas próprias ideias, do nosso discurso que anda sempre para trás e para a frente. E toda esta construção é feita à partida: o filme está a questionar a sua própria linguagem, a sua própria construção. Bem, não sei se foi por isto que vocês o meteram aqui, mas... passo a palavra. Pois, eu também não sei se acho que o meu filme é um “filme sobre um filme”. Eu acho que o vosso filme está dentro do filme, isto é, as questões que vocês tiveram durante a sua construção estão dentro do filme, e isso é interessante. No caso do meu filme, talvez ele esteja também um pouco dentro do próprio filme, mas não tanto, ou de outra maneira. De qualquer forma, se calhar vou falar um pouco mais da construção, porque é por isso que estamos aqui a falar de filmes dentro dos filmes. Uma coisa que me aborrece em Portugal é que quando queremos ir fazer um documentário lá para fora, quase que somos obrigados a fazer coisas sobre as nossas antigas colónias, ou em sítios onde ficaram pedras nossas, coisas desse género. Não quer dizer que isso não seja válido, e que não haja pessoas que fazem um bom trabalho nesse sentido (o trabalho da Margarida, por exemplo, vai muito nesse sentido, mas isso é normal, porque ela tem uma vivência pessoal que a leva para esse lado). No meu caso eu queria fazer um filme sobre uma cidade onde tive uma vivência durante cinco anos: Buenos Aires. Não tinha nada à partida relacionado com Portugal, quer dizer, a Argentina não foi uma colónia portuguesa; havia umas colónias emigrantes, mas não sabia como encontrar o fio condutor, uma maneira de aglutinar as coisas que eu queria abordar num filme sobre aquela cidade. Ao mesmo tempo queria arranjar dinheiro para o fazer, mas como é que eu ia convencer um júri (e essas coisas todas que nós temos de fazer)? E então surgiu esta ideia de introduzir qualquer coisa que não está directamente ligada ao real, fazer uma mistura de coisas que estão ligadas àquilo a que a gente chama documentário, outras que estão ligadas àquilo a que a gente chama ficção, dando-lhe um tratamento estético, ou usando a linguagem do documentário. E a partir daí o filme surgiu assim, e esse é mais ou menos o motivo por que ele tem esta estrutura. JOSÉ BARAHONA [BUENOS AIRES HORA ZERO]. MADALENA MIRANDA . Margarida, gostava que... MARGARIDA CARDOSO. ...falasse sobre esta mixórdia, como diz a Helena. Quando eu vi os filmes, e como me tinham proposto comentar ou despertar algumas questões sobre eles, apareceu-me uma primeira questão que foi a de não conseguir ligar estes filmes numa ideia única. E ainda não consigo. Acho que se fala aqui de várias coisas. Ao princípio pensei: será que são filmes onde entra uma perche e uma câmara? Quer dizer, onde se vê o dispositivo? PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 147 Porque não há nada que ligue o Drogas em Letras e o ...Arrastão, que são dois filmes que eu acho que podem ser considerados numa secção; ao Lusco-Fusco e ao Preto e Branco, que eu acho que também falam sobre um outro tema. Depois há aqui três filmes que, para mim, se ligam naquela que eu acho ser a questão primordial do documentário, a questão do dispositivo. No documentário 50% ou mais é dispositivo. E neste sentido é muito diferente da ficção. Sente-se a presença de alguém (o realizador, ou quem faz o filme), que teve a vontade de ali estar, e na ficção não existe isso. E acho que os filmes do Zé, da Lena, e da Catarina Mourão (o Mal-me-quer, Bem-me-quer), todos eles têm essa questão do dispositivo muito explicitamente colocada. Consigo exactamente ligar estes filmes naquilo que a Helena dizia, na tal mixórdia (que é uma palavra muito engraçada...). Não sei se se lembram do filme Adaptation do Spike Jonce? Lembram-se que o argumentista no filme, o Kaufman, quer falar sobre as flores, a beleza das flores e de como as orquídeas são fantásticas? Como tinha tido um grande sucesso com um outro filme, propõe a Hollywood fazer este filme sobre a beleza das orquídeas, adaptando um livro. E o que acontece é que ele tenta por tudo escrever aquele filme, e tem dificuldade, e descobre que a única maneira é fazer um filme sobre a sua própria angústia de fazer um filme sobre a beleza das orquídeas. E eu acho que o mais interessante disto a que nos propusemos falar hoje é esta ideia de que em todas as artes da representação há uma espécie de linha a partir da qual nós inevitavelmente temos de perceber que dizer o que queremos dizer passa pela aceitação da nossa própria personagem activa (mesmo que não esteja a ser vista). Há coisas que de facto só podemos dizer dessa maneira. E continuo sem conseguir chamar a nada disto “filmes sobre filmes”, mas acho que consigo arranjar uma ligação entre estes três filmes que tem a ver com a tal questão do dispositivo. Esta ideia aparece, então, no filme da Catarina Mourão quando ela diz, numa parte muito importante, que fez “este filme para nunca mais voltar a falar nele, e porque era realmente necessário fazê-lo”, e era necessário fazê-lo daquela forma, na 1ª pessoa, contando a sua própria história. No filme da Helena Lopes ela aplica muita vezes a expressão “confesso que...”. E parece-me que de facto é muito comum ser difícil admitir, perante um certo tipo de material, que se tem de usar esse dispositivo e falar nessa tal primeira pessoa. É um dispositivo difícil de aceitar à partida, quase que se considera um falhanço, qualquer coisa que só será utilizada porque se tem imenso material e não há outra maneira de o ligar e criar uma linha narrativa, para além de nos pormos a nós próprios a falar e a criar essa narração. Acho que muitas vezes parte desta dificuldade, mas acho que não há nada de mal em aceitar esse recurso para a construção do filme. Acho que é um processo muito bonito, aceitar que as coisas só podem ser ditas de uma determinada maneira. Em relação ao filme do Zé o dispositivo é muito diferente e para mim um pouco mais confuso. Porque eu vejo-te numa mota e depois... Quem é que está a filmar? Fico logo com uma sensação estranha... tu és o actor, mas depois, na procura activa, em Buenos Aires, tu já não estás lá. Ora, tu és a câmara ou és aquele que está no quarto de hotel? Eu acho que o documentário é especialmente sensível a este tipo de dispositivo. E acho que funciona bem tu ires à procura de um senhor que não tem nada de especial, e o filme ser feito desde o anúncio dessa procura, 148 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes e irmos naquela espécie de road movie tentar captar sensações, coisas que tu queres dizer mas que às vezes não têm forma. Mas depois o dispositivo torna-se um pouco esquizofrénico no sentido em que tu estás representado, mas ao mesmo tempo a filmar. Foste com quem? JOSÉ BARAHONA . Com uma equipa. Pois, mas então acho que depois seria normal que tu aparecesses na procura concreta, mas aí tu já não estás. Quer dizer, estás lá sempre, mas não representado. Acho que todos os filmes são diferentes neste sentido, e acho que se tentássemos encontrar o verdadeiro sentido por detrás deste “filmes sobre filmes”, acho que o Mal-me-quer, Bem-me-quer da Catarina Mourão tem esse sentido literal, é um filme sobre um filme, o próprio tema é o filme. Nos outros dois, no da Helena e no do Zé Barahona, acho que há também essa questão em comum, de uma outra forma. Agora, fiquei altamente perturbada com a junção dos outros dois filmes que eu acho que merecem ser falados, mas não estão incluídos nesse ponto de vista, acho. Do Drogas em Letras eu confesso que não percebi sequer muito bem a intenção do filme. O ...Arrastão já tinha visto, e nesse caso ainda me esforcei porque a questão que sai do filme da Diana Adringa é exactamente aquela de que fala o comandante da polícia: “eu tentei dizer a verdade, mas ninguém me ouviu”. A questão dos media e da fúria da imagem, de tentar encontrar uma história... se calhar até é por isso que o filme aqui está, por tentar encontrar um grande filme naquela história do arrastão. Também achei engraçado o filme onde os cegos tentavam reconhecer as imagens, mas mais uma vez achei que não tinha nada a ver com o dispositivo. Bem, achei esta junção muito confusa. Mas não foi por isso que retirei valor aos filmes, nem à discussão que aqui poderá eventualmente surgir. A ideia mais interessante foi mesmo essa de achar que em todas as artes se chega a um ponto em que temos de nos expor a nós próprios porque essa é a única solução. Perceber que a única maneira de se conseguir falar sobre a beleza das orquídeas é dizer “eu quero falar da beleza das orquídeas”. MARGARIDA CARDOSO. MADALENA MIRANDA . Perguntava agora se há perguntas... sim, Leonor. PUB ( LEONOR AREAL). Bom, por um lado eu acho que a categoria em que os filmes são colocados não deve restringir a nossa observação. Claro que é uma categoria artificial, uma forma mais conveniente de arrumar as coisas num festival que não exclui nada, e nesse sentido acho que está bem encontrada. Está bem encontrada uma certa arrumação, que nunca pode ser perfeita. Em relação aos filmes de hoje, não vi todos, mas estes três de que estavam a falar, os vossos e o da Catarina, acho que são realmente muito parecidos. Não querendo encaixá-los à força nessa categoria do “a fazer filmes”, porque é mais abrangente, acho que eles cabem os três na categoria do “à procura do filme”. São filmes que estão à procura do filme. Daí todos terem uma voz na primeira pessoa, ou duas primeiras pessoas no caso da Helena. Agora, essa coisa de procurar o filme dentro do filme inevitavelmente está cheia de contradições. Só pode estar. E se calhar só se pode procurar o filme quando ele é difícil de conseguir, quando ele se calhar ofereceu resistências, pôs problemas, e acho que é isso que acontece nos três casos. PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 149 Por exemplo, no filme Buenos Aires eu de facto chego ao fim e penso: “mas afinal porquê estar à procura de uma pessoa que não apareceu?”. Se calhar essa foi uma daquelas justificações que tu encontraste para poder fazer o filme, mas depois de o fazer não sei se era preciso manter a personagem. Mas portanto, é um filme que procura e não tem necessariamente de encontrar. No filme da Catarina Mourão também acontece isso, ela procura um filme que não foi aquele que pôde fazer, mas que também não é aquele que ela está a fazer. No fundo ela não fez nenhum filme, não fez o filme que queria fazer. Isso para mim foi muito nítido quando o vi. Há uma contradição sanável. No vosso caso, Helena, vocês conseguiram fazer o filme, mas parece que penaram ainda muito mais que os outros. Portanto, eu acho que os filmes têm essa unidade e é muito interessante, até pelo dispositivo que utilizam, muito semelhante. Bem, pegando no que a Margarida disse, de alguma forma acho que aquilo que toca estes filmes é um questionar a linguagem pela pessoa que a utiliza. E em relação a estes três filmes que estão aqui a ser agrupados, a questão está na voz-off pessoal, no auto-discurso presente no filme. Helena, aquela não é a vossa voz. E eu perguntei-me se sinto isto porque vos conheço ou se sentiria isto na mesma, esta resistência em relação ao valor de verdade... porque são as vossas fotografias, e sei que este é o filme que vocês estão a tentar fazer sobre vocês mas... é uma coisa estúpida mas não podia deixar de perguntar... MADALENA MIRANDA. HELENA LOPES. Parece-me que temos aqui duas questões diferentes. Uma é, e podemos já pô-la de lado e não a discutir tanto, se essas vozes, que não são as nossas, funcionam bem ou não. Ou seja, se os actores fazem o trabalho bem feito, ou se estão bem dirigidos, se existe cumplicidade entre eles, se algum deles está com voz de desenho animado, etc. Portanto, existe essa questão que não me compete tanto a mim discuti-la aqui neste momento. Agora, a outra questão é de facto porque é que nós decidimos fazer isto. Foi muito complicado. Ainda hoje eu não tenho uma resposta, e independentemente da qualidade, não sei se me sinto completamente feliz com a solução que escolhemos. Mas a questão é que eu não considero que a minha voz tenha... é uma voz muito boa, e se fosse bem trabalhada talvez se percebesse mais ou menos o que é que eu estava a dizer, sem estarem constantemente a pensar no que é que eu estaria a dizer, porque eu costumo comer palavras... No caso do Paulo, se calhar, as dúvidas eram semelhantes, embora admita que talvez ele tenha uma dicção ainda mais complicada do que a minha. Por outro lado tínhamos um texto que do nosso ponto de vista exigia que não fosse apenas lido. Exigia alguma direcção. É um texto que tem alguma cumplicidade inerente, e se fosse lido de uma forma monocórdica, ou por duas pessoas que estivessem a tentar fazer com que as suas palavras fossem percebidas, talvez não funcionasse. É complicado, mas pensámos que talvez funcionasse melhor serem duas pessoas que soubessem ler e pudessem tentar dar essa cumplicidade, e não nós, a fazê-lo. Mas é uma opção muito complicada. A tua questão no fundo se calhar não vai tanto no sentido do que eu estou a dizer, mas mais do facto deste ser um filme com um material muito biográfico, que tem um registo até muito caseiro, quase um home movie, em que estamos a ver 150 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes as nossas próprias fotografias, e depois usarmos dois actores, e manipularmos talvez excessivamente esses materiais, e perdermos se calhar um bocadinho de autenticidade. Se calhar bastaria a simplicidade de nós os dois estarmos a olhar para aquilo e estarmos a ver o nosso material, e falarmos sobre isso. E de facto eu não tenho uma resposta para ti. Mas não tenho grandes problemas com a opção no sentido em que se isto tem de ser compreendido, e eu quero que isto chegue ao máximo de pessoas possível, mais vale não estar aqui a pensar se quem fala está a comer palavras, se estamos a dizer isto bem dito ou mal dito. Venceu o espírito prático, aqui. Mas é absolutamente discutível, e aceito perfeitamente que me digam que este filme perdeu autenticidade porque não fomos nós a falar. PUB (LEONOR AREAL). Torna-se mais ficcional. HELENA LOPES . Pois... Em qualquer versão estrangeira... nos filmes que eu faço, todas as minhas vozes são dobradas por uma francesa qualquer ou uma inglesa qualquer que eu não conheço. E sou eu quase a chorar em português, “ai, o meu pai” e depois uma francesa qualquer diz “ai, o meu pai”, e a inglesa também e isso tira... os filmes são feitos por alguém que nos conhece? MARGARIDA CARDOSO. MADALENA MIRANDA . MARGARIDA CARDOSO. MADALENA MIRANDA . Mas é essa a pergunta, não é? Sim, sim. Eu conheço as vozes deles, portanto será que... MARGARIDA CARDOSO. Sim, mas eu por exemplo conheço a Lena, apesar de não muito bem, e essa questão nunca se me pôs durante o filme inteiro. Nem pensei se era ela ou não era ela. Só no fim é que depois vi lá as vozes, e não me chocou nada, habituada a ver também as francesas e as inglesas que aparecem nos genéricos dos filmes. Mas, quer dizer, acho que a questão da autenticidade é uma questão mais para nós próprios do que para os outros. E claro, para nós próprios e para a nossa mãe, para o nosso pai, os nossos amigos, aí sim põe-se a questão da autenticidade. A questão da manipulação acho que não se põe nada. E aqueles autores clássicos, que falam sempre, o Chris Marker, por exemplo: não sei se é ele que faz aquelas vozes. Acho, aliás, que há muitos filmes em que não é ele. Já viram? O próprio Chris Marker, não é ele que fala?! MADALENA MIRANDA . MARGARIDA CARDOSO. HELENA LOPES . Mas continua a ser uma questão para ti. Eu acho que para nós é. Para ti é, claro. Para nós de facto sim. MADALENA MIRANDA . É ter necessidade de incluir o processo. E há muita gente que de facto vê o filme, independentemente de nos conhecer ou não, e que coloca essa questão: “para que é que raio vocês foram usar outras vozes?! Eu senti HELENA LOPES. PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 151 que havia qualquer coisa de falso, e um filme com um registo daqueles, que tenta encontrar materiais daqueles, não devia ser falsificado com actores”. Isto está sempre a acontecer, as pessoas estão sempre a confrontar-nos com essa questão. Eu acho que isso não se sente nada no filme. Quer dizer, eu não vos conhecia e não senti nada isso, só me apercebi no genérico final quando aparece a menção às vozes. É aquela velha questão: a partir do momento em que nós estamos dentro de um filme, somos personagens. Somos personagens, podemos ser dobrados, e o que interessa é se aquilo fica bem, se fica mal. Neste caso eu acho que ficou bem. Eu próprio fui confrontado com essa questão quando gravei a minha voz, e muitas vezes pensei em chamar alguém porque se calhar não ia fazer aquilo nada bem. Nós nunca gostamos muito da nossa voz gravada, não estamos habituados a ouvi-la, há sempre essa questão, meramente técnica, talvez. Ou então se calhar é porque ao dirigir um actor conseguimos ouvi-lo, e conseguimos olhar para ele de fora, coisa que quando nós próprios estamos a gravar não conseguimos. É muito difícil dirigirmo-nos a nós próprios. E a partir do momento em que estamos dentro do filme somos personagens, podemos fazer o que quisermos, quer dizer, deixar crescer uma barba e disfarçarmo-nos de uma maneira qualquer, ou pôr uma peruca. Por outro lado pode até haver um certo pudor em nos expormos. Pelo menos no meu caso isso acontece, e se calhar aquilo que estavas a dizer, de eu aparecer nalguns planos e noutros não, talvez tenha um pouco a ver com esse... um certo pudor de estar sempre presente na imagem. E parece-me que se põe a mesma questão em relação à voz. Não sei se se põe essa questão da autenticidade, mas de facto temos todas as ferramentas para manipular. E por isso não sei por que não pôr um plano do realizador do filme, quando se parte do princípio que por trás do realizador há uma equipa. Há uma equipa que te filma a ti próprio, da maneira como tu pediste para ser filmado. Sei lá, mesmo no caso do filme deles acho que isso acontece às vezes: vocês próprios estão dentro dos planos, não sei se tinham duas câmaras, são vocês que filmam, enfim, filmam-se um ao outro (isso acontece naquela sequência do skate, já mais para o fim...). Portanto, o que estou a dizer é que temos, de certa forma, todas as armas à nossa disposição, e não sei se isso não é uma coisa que nos choca mais a nós que estamos por dentro das técnicas do cinema, e sabemos como é que se filma, como é que não se filma. Não sei se ao espectador comum que não estuda, nem faz cinema, isso será uma coisa que o choca. JOSÉ BARAHONA. Eu acho que não tem nada a ver com autenticidade, ou verdade, isso são questões que eu nunca tenho na cabeça. Eu acho é que ao nível do dispositivo, a pessoa mais comum, a pessoa que não percebe nada de cinema, ou não sei quê, sente automaticamente ou inconscientemente que há qualquer coisa que não está bem. Quer dizer, o que há para compreender é que na altura em que tu estás num quarto a reflectir e a ver televisão: aquela é uma matéria muito diferente da do resto do filme, porque é uma matéria muito... bastante ficcional. Porque nós sabemos que está uma equipa contigo, e que tu te puseste ali. E não estou a dizer que sabemos nós, realizadores, ou pessoas que percebem de cinema, não. Acho que toda a gente percebe que há uma personagem que vai numa mota, no primeiro plano, e que vai numa viagem, MARGARIDA CARDOSO. 152 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes e essa personagem és tu. Eu gosto muito daquela coisa do corpo desaparecido e da reality tv, daquela televisão horrível de que já me tinhas falado uma vez. Gosto muito disso. O que eu acho é que para o espectador (mesmo para o mais comum...) faz muita confusão que tu desapareças. E é verdade, tu desapareces. Não há nada a fazer. E claro que isso é uma questão que me parece muito subtil, e muito fina, mas é uma disfunção do próprio dispositivo do filme, que eu acho que não está coerente nesse aspecto, e faz com que as pessoas se percam nessa procura. Gosto da ideia de se saber logo à partida que aquele senhor nunca vai ser encontrado, e que provavelmente não tem interesse nenhum. E como sublinha aquela frase que aparece no início do filme, talvez seja mais importante contar bem uma história, do que aquilo que está dentro dela. Talvez o mais importante seja contar a viagem, o seu propósito. E nesse sentido acho que me sinto um bocadinho perdida em relação aos teus objectivos: estás à procura de uma pessoa que nós à partida sabemos que provavelmente nem existe. Não me parece que isso seja problemático, mas torna-se necessário haver dentro do teu percurso um desenvolvimento, qualquer coisa que nos diga porque é que estás à procura com tanta força – ou até com pouca força, que nos diga que te estás só a deixar levar naqueles passeios. O que se passa é que a certa altura, com os sucessivos encontros com aqueles mundos, com a descoberta daquelas pessoas, chegas ao 3º ou 4º encontro e não... como nada naquela linha que estás a construir nos indica que vamos encontrar uma pessoa e que essa pessoa é muito interessante, e como no teu movimento também não há uma motivação muito forte, acabo por ter dificuldade em... Isto não tem nada a ver com o real, ou com tu apareceres ou não, até te podias pôr a representar em frente à câmara. O que estou a dizer não tem nada a ver com isso. O problema é que no momento da procura efectiva, do movimento da procura, tu já não estás. Estavas no quarto, ou na mota, mas nesse momento, em que precisamos de sentir a força do impulso, tu já não existes... JOSÉ BARAHONA . Há sempre uma presença, atrás da câmara, quer dizer... MARGARIDA CARDOSO. JOSÉ BARAHONA. Ah, mas sim, essa está lá. Ou há uma câmara que passa por trás das costas, ou há a voz das perguntas... Sim, acho que isso sim... Estou aqui a lembrar-me de um filme que se chama Family, com um casal em que ela o filma a ele, e ele a ela. E o filme recorre a uns dispositivos muito engraçados, deste ponto de vista. Às vezes ele está com dois amigos, a conversar sobre coisas banais, e claro que é uma coisa altamente ficcional, mas desde o início sabemos que há a presença daquela mulher, que é a mulher dele e que está a filmar e a acompanhar tudo, e aceitamos isso, desde o princípio. E a certa altura, quando o marido estava a contar as suas histórias a não sei quem, de costas e tal, a câmara estava num tripé, não mexia, e isso fazia com que se deixasse de sentir a presença da mulher dele, o que dava uma dimensão completamente absurda ao documentário. Isto é uma coisa finíssima, mas suficiente para sentirmos que aquilo é completamente ficcionado. São nestes pormenores que um dispositivo se sustém, e especialmente nestes filmes de tom pessoal qualquer coisinha faz logo saltar à vista as contradições. É muito perigoso. MARGARIDA CARDOSO. PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 153 Estou também a lembrar-me de um filme muito mau que eu vi na televisão, já nem sei o nome, com um homem que queria fazer um filme sobre a Maria Betânia. Um francês com um chapéu muito grande que ia para a Baía, e de repente, como aquilo não tinha princípio, nem meio, nem fim, ele era o próprio personagem. Em nenhum momento do filme percebemos quem é aquele homem – nem queremos saber, não parecia um personagem muito interessante – nem porque é que ele vai ter com a Maria Betânia. Não havia nada que justificasse aquele dispositivo. Acho que nos dispositivos em que nos pomos, digamos, em cena, temos de ser absolutamente coerentes na nossa ficção. Qualquer tropeçar pode ser fatal e provocar a distracção, e a incompreensão. Não quer dizer que se aplique qualquer um destes defeitos ou qualidades aos filmes que aqui estão, estou a falar mais no geral. PUB 2. Posso? Eu acho que se estão a perder com pormenores formais que não reflectem bem a ideia quer do Bubbles, quer do Buenos Aires. São dois filmes que acabam por abordar indirectamente o assunto que querem tratar, isso é evidente. Mas um – o caso do Bubbles – faz um percurso do geral para o particular, e acho que o consegue bem porque o sentido e a noção de felicidade acaba por se desprender do filme, ficando na continuação da experiência de vida, e na procura das pessoas. O próprio percurso é a felicidade, não sinto falta de nada, ali. Depois, o Buenos Aires é um filme completamente diferente, que faz o percurso do particular para o geral. Ou seja, começa exactamente com o realizador a fazer de actor, apresentando o motivo de ir procurar alguma coisa, mas tudo isso subtilmente vai perdendo importância, que passa para a mensagem. E acho que é um filme perturbador ao nível político, de denúncia, especialmente quando aquela mulher diz exactamente o contrário da outra personagem conservadora que tinha sido entrevistada, sobre os crimes. Acho que nesse momento a pessoa que está a ver o filme já nem se lembra se havia actor, nem de uma série de outras coisas, porque o conteúdo e a mensagem e os problemas que são levantados e denunciados são tão fortes que se sobrepõem a esses aspectos formais (mas estou a falar como mero espectador...). E o Bubbles é como se fosse uma outra face da mesma moeda. Acho que também consegue essas coisas todas de uma forma indirecta, e exactamente por causa do percurso. É do percurso que fazem até ao fim, até ao nascimento do bébé, que se desprende a felicidade. Não sei se alguma vez perceberam, mas realmente vocês têm a felicidade, se é que tinham essa dúvida... pelo menos para mim, como espectador, parece-me que têm uma vida bem conseguida. Eu tenho quatro questões, uma para cada um de vocês. A primeira é para o Gonçalo: qual é a diferença entre colectivo, com o qual identificas o trabalho de realização deste filme, e o colectivo que é uma equipa de cinema? Que diferenças existem ao nível do método de trabalho? Helena, gostaria de saber se, sendo um filme autobiográfico ou biográfico, e tendo uma exposição tão forte da sua vida e do seu marido, qual é o objectivo final? Será mostrar uma reflexão sobre vós próprios? Ou acham que isso pode ser extensível a uma geração, ou à vossa geração? Enfim, acham que o filme pode conter esse sentido mais ou menos universal? Depois, José, eu acho que vi há dias uma notícia que dizia que a Argentina pagou a sua dívida ao FMI. É verdade, não é? Não estou enganado? Achas que se tivesses visto essa notícia, PUB ( JOÃO LUZ ). 154 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes hoje terias encontrado o teu fio condutor? Talvez tivesses agarrado o teu filme de uma forma mais... não estou a dizer que não esteja sólido, eu acho que sim, e acho que aquela notícia do rapto consegue manter o arco de uma forma consistente; mas talvez essa questão tivesse dado uma nova, ou outra perspectiva de abordagem ao teu filme. E para a Margarida a pergunta é: qual vai ser o próximo documentário ou qual será o próximo projecto para um documentário? Se é que pode falar nisso... GONÇALO TOCHA . A diferença é muito simples: o filme não é meu, é do colectivo. Portanto, não há ninguém que trata da realização ou da montagem sozinho. Toda a gente faz tudo. Esse é um princípio muito básico, onde não há diferenças dentro do trabalho, toda a gente faz um pouco de tudo, e as ideias surgem. Neste caso concreto houve uma energia muito vital de fazer imediatamente, tendo a consciência de que ninguém estava a tentar fazer um bom filme. Havia a necessidade de fazer imediatamente, fazendo um mau filme. Tinhamos a consciência de que ia sair uma coisa muito irregular, muito dispersa... dispersa nos materiais, mas com uma energia única. E portanto se calhar tínhamos a consciência de estar a fazer um filme sem limites, muito provocatório, até para connosco próprios. A energia é única, porque as pessoas estão ali com um objectivo único. Mas não achas que é isso que cria um pouco essa dispersão? PUB ( JOÃO LUZ ). GONÇALO TOCHA . Dispersão de ideias, sim. Mas ideias que são discutidas, e são faladas, a cada momento. PUB ( JOÃO LUZ ). Mas o consenso é fácil? GONÇALO TOCHA . Não. Um consenso nunca é fácil. É terrível ter que viver com o consenso por todo o lado. A decisão é tomada, partimos imediatamente, filmamos logo e ao mesmo tempo há coisas que são abandonadas. Mas a ideia... quer dizer, pelo menos o elã vital era: a polícia fez um mau trabalho, foi maniqueísta, e o jornalista foi mau jornalista, mas vamos para o lado deles. A partir dessa decisão as coisas tornaram-se mais claras. HELENA LOPES . Pois, olha... correndo o risco de... eu gostaria muito que este filme fosse mais qualquer coisa do que apenas um filme em que duas pessoas olham para si próprias, e estão a contar uma história mais ou menos biográfica. Temos algumas questões que quisemos partilhar com mais pessoas, e talvez o que estejamos ali a mostrar seja a nossa tentativa de dar resposta a essas questões. Ou seja, estamos a tentar mostrar qual foi o nosso caminho e para isso estamos a questionar uma série de abordagens possíveis. Eu não sei se a minha história por si só, ou a história do Paulo, é suficientemente interessante, mas o que nós tentamos é inserir a nossa procura numa série de outras questões que consideramos mais universais. Portanto, eu gostaria que este filme saltasse da nossa ficção (aliás, porque nós de alguma forma também ficcionamos um pouco a nossa história), e que ela ganhasse um sentido mais universal. PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 155 Agora, não sei se esse sentido será geracional. Lembro-me que quando estávamos a fazer o filme quis mostrá-lo não a pessoas mais novas ou da mesma geração, mas a pessoas mais velhas, um pouco para ver o que este filme lhes diria. E uma dessas pessoas disse que o filme espelhava muito bem a nossa geração porque mostrava coisas que eles não tinham tido. Foi portanto uma pessoa que teve uma leitura muito geracional, mas nem eu nem o Paulo tentámos fazer isso. Nunca quisemos construir uma amostra de uma determinada geração. Mas tentámos de facto dar resposta a uma série de questões e só o conseguimos fazer mostrando a nossa própria história. Tivemos que nos virar para dentro e houve situações que também nos obrigaram a pensar sobre nós. Mas nem sequer estamos a dizer que o nosso caminho é um caminho bom, estamos apenas a dizer que é um caminho possível. O Paulo a certa altura sentiu a necessidade de explicar o que é que tinha descoberto, ou o que é que este caminho o tinha levado a pensar, ou qual é que achava que era agora a sua missão na vida (já que tinha começado a dar aulas). Ele achava que a sua missão era ajudar as pessoas, ajudá-las a mudar as suas cabeças ou a abri-las. Eu, por outro lado, tento mostrar um percurso que é de alguma forma mais desaustinado, de alguém que ainda não se encontrou, mas que se calhar também questiona menos uma série de outras coisas. Temos ainda aqueles quatro rapazes a falarem-nos da criatividade, mas não estamos a tentar dizer que a criatividade é o caminho, que temos de andar a fazer pinturas na parede para encontrarmos o caminho. Estamos a dar uma série de pistas, a partir da nossa história, para a felicidade e para uma série de outras coisas. Tentamos fugir de nós, e espero que não tenha ficado apenas a nossa história. Porque, sinceramente, não considero a minha história assim tão interessante. Mas tivemos que a contar, ou tivemos que contar esta procura. E só para responder, ou comentar o que disseste há pouco: é bom sentir que alguém olha para isto como uma história de felicidade. É uma história cheia de felicidades e de infelicidades, em que houve uma série de encontros num determinado momento, mas estamos a tentar também mostrar os altos e baixos. O Paulo tem uma série de altos e baixos, eu tenho uma série de altos e baixos e se calhar a vida também passa por aí, por sabermos lidar com esses altos e baixos. É por isso que quando encontramos aquele senhor, o tal João da Murtosa, ele nos dá lições muito importantes. É alguém que tem uma vida cheia de reveses e que aprende um bocadinho a tirar partido dela. De alguma forma ele tem uma filosofia muito especial. Não é propriamente uma vida feliz, mas é uma vida também nessa procura. Portanto, sim, mostrámos alguma felicidade, mas amanhã certamente haverá um momento mais baixo, como há para toda a gente. JOSÉ BARAHONA. Em relação à pergunta que fez: obviamente que cada filme tem o seu momento, e corresponde a um determinado momento pessoal, e a um determinado momento histórico e político. E as coisas vão mudando. Se por algum motivo eu tivesse atrasado a produção do filme, seria um filme diferente. Se o fizesse hoje, seria diferente não só por causa desse facto que referiu, mas também por muitos outros, até meus, pessoais, do meu próprio caminho, pela maneira como faço e penso os filmes. Portanto, eu não sei se tenho uma resposta muito ampla e abrangente para a questão que me colocou, porque há imensos factores, imensas coisas que estão a mudar. 156 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes Concretamente em relação à situação na Argentina, devo dizer que até há uma questão muito mais pertinente do que essa, que é de facto esta ser uma época muito pessimista, muito negra do país, e da cidade não ser tanto assim. As coisas estão a ressurgir. O presidente actual foi uma surpresa para toda a gente, inclusive para os argentinos, tudo mudou. Agora, o filme é feito num determinado momento, em que acontece um determinado tipo de coisas, de situações, e foi a altura em que eu fui filmar e em que eu fiz o filme. Portanto, claro que se o filme fosse feito amanhã, depois dessa notícia, seria diferente, não só por causa disso mas por imensas outras coisas. Não sei se era isto... Margarida, projectos para o futuro? Para o futuro... eu estou agora a acabar de montar uma experiência nova. Sempre tive uma relação muito estranha com o Teatro. Quer dizer, tenho um medo absoluto de ir ao Teatro, e então resolvi fazer um filme terapêutico. Estive cerca de quatro meses no Porto, com o Nuno Carinhas, a fazer uma espécie de making of que não é um making of (aliás nem vai sair no tempo do making of...). É uma coisa mais abrangente sobre o trabalho dos actores, que eu fiz completamente sozinha, e que agora também estou a montar em casa. E está a dar-me um certo prazer fazer isso. Tenho também um projecto que já vem do ano passado, ou seja, que já está financiado mas a que eu não consegui dar a volta, por vezes por razões logísticas. É uma dupla biografia de duas senhoras – Graça Machel e Janet Mondlane – e chama-se Viúvas. Acho que é muito raro haver duas viúvas que podem cumprimentar as estátuas dos seus maridos, excepto nestes países mais novos onde as pessoas estão em completa convivência com a História. A História é qualquer coisa muito viva nelas, mas não deixa de ser História. Portanto, a Janet Mondlane é americana e era mulher do líder fundador da FRELIM, o Eduardo Mondlane; e a Graça Machel foi mulher do primeiro presidente, Samora Machel, e hoje é mulher do Nelson Mandela. Essas duas mulheres têm um percurso que se cruza. Apesar de serem bastante distantes no tempo, os dois percursos cruzam-se noutros dois pontos importantes que têm a ver mesmo com a parte mais íntima da vida delas. E então era este filme que eu queria fazer, uma dupla biografia, do percurso destas duas mulheres que se junta nalguns pontos, e que para mim representa uma visão muito curiosa não só das mulheres, sobre o seu lugar na guerra – porque elas andaram nos campos de treino, fizeram aquilo tudo, mas sempre com as obrigações, e a terem que manter o seu perfil feminino dos anos 70, e dos anos 60. E hoje em dia está nelas toda essa história do que foi o continente africano até agora, o fim daqueles sonhos todos, aquilo tudo. É isso que eu estou a tentar fazer. MARGARIDA CARDOSO. Faltam-nos alguns documentos importantes sobre os últimos 30 anos, sobre o período imediatamente anterior ao 25 de Abril de ‘74. É a minha opinião. Parece-me que não se fala muito sobre isso. PUB (JOÃO LUZ). MARGARIDA CARDOSO. Mas... cá? Cá, em Portugal. E há pouca produção sobre isso. Acho que é de louvar esse projecto porque se calhar vem trazer factos e informação nova. Porque se fala pouco nisso. PUB (JOÃO LUZ). PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 157 Não sei, há um certo... medo quase, em falar, em desenterrar assuntos... não sei bem o que é. Já li algures que é uma das áreas que mais interesse tem para si, e por isso eu... enfim, desejo-lhe a maior das sortes. Obrigada. MARGARIDA CARDOSO. MADALENA MIRANDA . Bom, não sei se há mais questões... Posso? Ainda acerca do Buenos Aires. Eu por acaso não senti a falta de ver o personagem narrador, a primeira pessoa, aparecer mais vezes no filme. Senti que estava sempre presente, com aquela busca através da fotografia. Mas, agora quando a Margarida estava a falar, fiquei a pensar que... enfim, eu até achei que se calhar a voz off era dispensável, quase. Vi o filme há pouco tempo e vim logo para aqui a seguir, não consegui reflectir o suficiente, mas parece-me que no fundo a voz off está lá para justificar essa procura, desse personagem, tenho pelo menos essa impressão. Porque a voz não fala de outras coisas. Por outro lado, o filme agarra-nos por todas as outras coisas que nos oferece, e nós esquecemo-nos que íamos à procura do personagem. De vez em quando ele volta, pelo reforço que é dado pela voz off, mas se não estivesse reforçado, continuava a estar lá aquela fotografia, como uma espécie de deriva que nem precisava de ser justificada. Foi essa a hipótese que me ocorreu. Não sei se a voz off está lá só para justificar o filme, ou se faz falta, pronto. PUB ( LEONOR AREAL). Sei lá, eu... a voz off para já lança de certa forma a premissa do filme. Acho que é uma questão prática: era complicado lançar aquela premissa sem ter a voz off da senhora que manda a carta – logo a primeira voz – e depois a minha voz a complementar o que vai acontecer a seguir, porque é que se vai fazer isto, ou onde é que se vai depois, que se vai à procura deste senhor e tal, vai-se para o Uruguai e depois para Buenos Aires. Eu tentei que, obviamente, a voz off não fosse redundante com as coisas que são ditas de outra maneira pelos personagens ou pelas imagens. E claro que havia momentos em que eu poderia dizer mais coisas, poderia emitir opiniões ou sensações, e de facto eu tentei que por vezes a voz off estivesse lá só para transmitir algumas sensações muito pessoais (como no princípio, na introdução que faço de Buenos Aires, com aquelas poucas informações). E depois é uma questão de coerência. Eu até acho que em certos momentos a voz off devia ter uma presença maior, porque às vezes penso que se perde um bocado – como a Margarida disse – o personagem. Mas por outro lado, esta foi a solução que encontrei na altura, achei que a voz não devia ter muito peso, e que não tinha que dizer muita coisa, que o resto tinha de ser dito pelo filme, pela montagem, pelas personagens. JOSÉ BARAHONA . PUB (LEONOR AREAL). O que eu estava a dizer é que, para mim, se calhar nós não precisávamos dela, porque as outras coisas falam por si. JOSÉ BARAHONA. Por acaso pensei o contrário, pensei colocar mais peso na voz. Mas vou pensar nisso, até posso fazer a experiência de apagar aquela pista e ver como é que resulta. Se calhar é mais interessante. Se calhar para o ano podemos ter uma versão nova, sem voz off, vamos ver... 158 PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes GONÇALO TOCHA . Posso fazer uma pergunta? MADALENA MIRANDA . Claro. É em relação ao Bubbles, que eu considero um filme raro. Naquele sentido em que é tão auto-referencial, mas que consegue mostrar o outro com uma curiosidade tão grande, que é fabuloso, é quase um filme de espelhos. É esta a imagem que eu tenho. Um filme muito aberto, e muito curioso, e que joga com um “eu sou eu no outro e só me vejo, só me consigo descobrir, só consigo procurar com esta curiosidade nesse outro”. É esta rareza que encontro. GONÇALO TOCHA . MADALENA MIRANDA . Temos mais ou menos que terminar. Há alguma última pergunta? PUB ( SÓNIA FERREIRA ). Tinha uma pergunta sobre o Bubbles, e agora o Gonçalo falou tão bem sobre o filme, parece-me que resumiu muito bem as coisas. Mas de qualquer forma tenho duas questões de carácter mais pedagógico, digamos. Primeiro, gostava de perceber como é que se constrói um filme sobre nós. Por exemplo, como é que se selecciona uma parte da nossa vida para entrar num filme? Como é que nos construímos a nós próprios como personagens? Quando estamos à procura de personagens, procuramos pessoas com umas certas características, e quando estamos a fazer um filme sobre nós, somos nós os personagens: como é que é fazer esse exercício sobre nós próprios? A segunda pergunta tem a ver com as questões da edição e da montagem e também da selecção e da hierarquização do material. Quando estamos a olhar para o material e se levantam questões éticas ou emocionais porque estamos demasiado presos ao que filmámos ou que encontrámos, como é que se entra num processo de distanciação em relação a um material que tem muito a ver connosco? E portanto, até que ponto é que vocês precisaram de segundos, terceiros ou quartos olhares? Até que ponto um filme desta natureza precisa de um processo específico de realização, por causa desta proximidade e desta representação que temos de fazer sobre nós próprios... HELENA LOPES . Como eu tentei dizer há pouco, este filme acaba por ser resultado de uma sucessão de acidentes. Não pensámos: “temos estes objectivos, construímos um guião, vamos tentar fazer este filme”. Ele começa a ser construído não para ser um filme biográfico ou em que a nossa história tivesse um peso tão grande. Temos toda uma parte do material em que aparecemos até por acidente. Por exemplo, às vezes eu estava a filmar algumas daquelas entrevistas sobre a felicidade e tenho imensos planos do Paulo, e na altura foi uma dúvida incluir isso ou não. Não foi um filme pensado antes, o dispositivo não estava montado. Mesmo na primeira ideia de filme, que eram essas entrevistas sobre a felicidade, tínhamos essa dúvida. E quando passámos a fazer um filme sobre esses quatro rapazes que encontrámos lá, saímos completamente e só aparecemos mesmo por acidente, nas imagens. Depois, quando começámos a montar o filme, ainda lá, decidimos que o Paulo seria personagem, por ter sido ele a ter tido a experiência de estar ali, e porque já nos estávamos a confrontar demasiado com os rapazes, e isso já fazia parte do filme. E de repente já estávamos a construir outra coisa. E quando voltámos e decidimos montar o filme, decidimos ir buscar material em que nós entrássemos. Porque o filme PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 159 não era aquele que ali estava. Isto foi muito, muito, muito mal construído, nesse sentido. E é um bocado... resultado de um certo sofrimento. Houve aqui muito sofrimento, não só na construção do filme, como em relação a nós próprios. Esta procura do sentido da vida, e não sei quê: isso estava a passar-se connosco na altura. E então decidimos escrever. Nós partimos muito da escrita, ambos estivemos no jornalismo, e ambos nos sentimos muito mais à vontade com a escrita do que com a imagem. E mesmo o outro filme que fizemos juntos, o Companhia do João da Murtosa, é um filme que tem um texto com bastante força, e em que demos bastante importância a isso. E portanto construímos uma espécie de guião. Mas o processo esteve sempre carregado de dúvidas. A certa altura tínhamos imensas pessoas, e imensas coisas, e tínhamos que deitar imensa coisa fora, especialmente sobre nós. E às tantas estás a falar sobre ti próprio, mas estás também a construir-te. A pessoa que ali está também sou eu mas... não sou só eu. Ou está ali um aspecto de mim que teve de ser, de alguma forma, ficcionado (não quer dizer que seja mentira...). Isto é, tornou-se necessário tentar dar alguma emoção, ou até peso a determinadas coisas que se calhar na minha vida não tiveram assim tanto peso. Estou a misturar um bocadinho as tuas duas perguntas... Só para dar mais um exemplo: o Paulo a certa altura começou a ler o seu diário de quando tinha 14 anos. Tinha sido escrito na altura em que ele foi estudar para a Inglaterra, onde passou um mau bocado, e portanto, não era só o diário de um adolescente, mas de um adolescente que estava a passar por uma situação complicada. E às tantas ele já estava quase a chorar baba e ranho a ler aquilo, e quis meter isso no filme. Mas não conseguimos porque havia imensas coisas, e acabou por sair. De qualquer forma estávamos a mostrar a nossa história e a tentar dar-lhe alguma emoção, que se calhar não existe na nossa vida, daquela forma, pelo menos. Portanto, isto foi sempre uma tentativa de construir essa vida de altos e baixos, com alguma emoção. Não sei se isto responde de alguma forma. Acho que é... PUB 4 (SÓNIA FERREIRA). Eu tinha a certeza que era complicado... Mas sabes que agora na Universidade Lusófona há para aí uns três ou quatro alunos que ou não filmaram nada, ou os seus personagens fugiram, ou os homens dos grafitis não os deixaram filmar, tudo à última da hora, claro... e agora subitamente mandaram-me um mail a perguntar: “será que nós agora podemos fazer um filme sobre nós a tentar fazer um filme?”. E eu disse “sim, mas um de cada vez”... Num deles acho que se aplica, e acho que pode resultar, mas quer dizer... eu acho que o que está em causa não é só a questão do falhanço, mas sim o que está à nossa volta, do que se passa connosco durante a construção do filme. Mas é curioso que todos eles tenham tido este impulso... MARGARIDA CARDOSO. JOSÉ BARAHONA . Isso às vezes pode ser o mais interessante, é... MARGARIDA CARDOSO. 160 PANORAMA ’06 | Pode ser super interessante. filmes sobre filmes JOSÉ BARAHONA . Pôr à mostra as nossas dúvidas em relação àquilo que estamos a fazer. MARGARIDA CARDOSO. Sim, sim. Mas muitas vezes nasce, como diz a Helena, das coisas não começarem a correr muito bem, e decidir que isso faz parte... PUB ( LEONOR AREAL). MADALENA MIRANDA . Vais terminar não é? Sim. PUB ( LEONOR AREAL). Então deixa-me só dizer uma coisa. As coisas podem não correr bem, não é? Mas o que tem graça no documentário, ou o que eu gosto no documentário é que nunca nada corre bem, ou nunca corre como se espera. MARGARIDA CARDOSO. É isso. PUB ( LEONOR AREAL ). Portanto, o grande desafio é conseguir resolver os problemas que são inevitáveis. MARGARIDA CARDOSO. Os alunos muitas vezes dizem que na próxima vez vão escrever tudo, tal é o drama. Mas claro que não é assim, e nunca será. Isso é que é a parte mais fascinante. JOSÉ BARAHONA . Escrever? MARGARIDA CARDOSO. Eles querem chegar lá e estar tudo filmado. Mas realmente o que é bonito é isso, é que as coisas sejam diferentes, mesmo que às vezes doa um bocado. MADALENA MIRANDA. Bom, eu não queria interromper, mas acho que temos mesmo de terminar porque vai começar a sessão das seis horas, que é a sessão final. Obrigada a todos. PANORAMA ’06 | filmes sobre filmes 161 162 PANORAMA ’06 | abc debate final QUE PANORAMA? (integral) à procura de uma programação, e de um objecto Com os programadores do PANORAMA (Fernando Carrilho, Inês Sapeta Dias, Madalena Miranda) e os convidados Catarina Mourão, Graça Castanheira, José Manuel Costa, Manuel Mozos 5.Fevereiro.2006 PANORAMA ’06 | que panorama? 163 164 PANORAMA ’06 | que panorama INÊS SAPETA DIAS. Vamos então dar início ao debate final do Panorama, que tem como pergunta de partida: “Que Panorama?”. Por um lado, queremos perguntar que panorama do documentário português pudemos ver aqui, e assim falar do estado das coisas. Por outro lado, a pergunta dirige-se à própria Mostra: que Panorama foi este, que questões colocou, e que questões colocam vocês à própria Mostra? Zé Manel, começas tu? JOSÉ MANUEL COSTA. INÊS SAPETA DIAS . Pode começar por esse lado, e seguir. Aqui é a parte da organização. PUB ( LEONOR AREAL). INÊS SAPETA DIAS . Também era importante ouvir a organização. Já lá vamos, prefiro... PUB ( LEONOR AREAL). ... ter a última palavra. INÊS SAPETA DIAS. Não a última, mas a intermédia. E não a primeira, também. Porque acho que a primeira já está dita (esteve aqui, ao longo destes nove dias). Então, digo duas ou três coisas para começar. Em primeiro lugar eu não estive todos os dias aqui. E isso introduz um dos problemas de que queria falar: parece que a Mostra funcionou muito bem ao nível de público, mas é muito difícil vir cá todos os dias. Já tinha visto uma parte significativa dos filmes, mas muitas coisas não tinha visto, e estive cá três dias durante a semana em que vi coisas novas, mas ficou muito por ver. Portanto, o que eu vou dizer é parcelar em relação à visão global deste programa específico. Não sei se algum dos meus colegas aqui sentados viu tudo do princípio ao fim, mas talvez fosse bom, alguém que tenha uma visão global, depois comentar o que eu digo, porque talvez possa ter de corrigir alguma coisa. O que me ocorre dizer para já tem a ver com a questão do âmbito. Eu acho que mais tarde ou mais cedo isto vai ser discutido e eu, pela minha parte, gostaria de lançar já a questão para a mesa e lançá-la de uma forma muito directa. Nalguns dos dias em que eu cá vim, vi no mesmo programa – e penso que isso foi deliberado por parte da programação – coisas que correspondem a níveis de produção, e níveis de conceptualização completamente diferentes. Ou seja, obras relativamente amadurecidas e obras de escola e filmes feitos por razões institucionais ou outras, que não são nem pequenos exercícios de escola, nem documentários com um maior fôlego – são obras, digamos, com um acabamento mais tradicional no que respeita a moldura global do documentário. E quando saí da sala para discutir isso – porque nalguns casos essas obras não me estimularam nada –, para discutir se não seria importante fazer alguma clivagem maior, os programadores responderam que a ideia do Panorama é precisamente dar uma visão muito alargada dos muitos níveis diferentes das coisas que se estão a fazer ao nível do documentário. E ocorreu-me que possa estar a acontecer aqui algum equívoco sobre esta matéria, e que talvez valha a pena ir atrás (este é o meu vício, mas talvez seja bom haver aqui alguém com esse vício), ir à História e tentar ajudar a encontrar algumas referências para isto, para esta dificuldade JOSÉ MANUEL COSTA. PANORAMA ’06 | que panorama? 165 em delimitar o que é o documentário, fenómeno que para algumas pessoas é muito recente, muito relacionado com as novas tecnologias e com o acesso mais livre e fácil aos meios de produção. De facto essas alterações tecnológicas criaram um boom enorme de produção, e hoje praticamente ninguém consegue abarcar o conjunto das coisas que se fazem (estamos aqui a falar e devem estar a chegar à net mais não sei quantas imagens, mais não sei quantos pequenos filmes, obras entre as imagens e os filmes). Estão a aparecer coisas todos os dias, e por causa disso muitas pessoas dizem que há uma tal diversidade de produção que é importante exemplificar todos esses níveis da mesma produção. Mas a mim parece-me que parte disto é um equívoco, concretamente é um equívoco pensar que isto é um fenómeno recente, ligado às novas tecnologias. Na história do documentário sempre existiram muitas outras coisas que cabiam na palavra ‘documentário’. Aliás, há uma discussão e uma polémica em volta da História do documentário, para se decidir quando é que ele começa. Não vou estar a chatear hoje as pessoas com isto apesar de ser muito importante, mas para mim o documentário não é toda a não-ficção que começou com os primórdios do cinema. Na minha visão da História do documentário, ele é um movimento, um ramo próprio da produção, que foi extremamente livre, extremamente diversificado, mas que obviamente tem uma História própria, tem um impulso próprio que nasce num determinado momento da História do cinema, e não corresponde, para mim, a toda a produção visual ou audiovisual fora da ficção. Em particular, durante toda a História do documentário, mesmo já no movimento documental, a partir do final dos anos 20, princípio dos anos 30, houve sempre outras coisas a que muitas vezes chamavam documentário (até nas próprias salas de cinema). Portanto, para além das actualidades que hoje ocupariam um lugar mais próximo do noticiário de televisão e que portanto não são chamadas para esta conversa, sempre houve um espaço de produção para o documentário científico, didáctico, institucional, enfim, muitas outras formas absolutamente estimáveis de produção, nalguns outros casos com um bom acabamento e com alguma eficácia, que têm a sua História própria, e que obviamente – não digo que não – têm articulações muitas vezes interessantes a fazer com a História do movimento documental. Mas, como costumo dizer em conversa, não é isso que me traz aqui. O que me traz aqui é, para dizer directamente, um movimento que em determinado momento na História da arte cinematográfica se desprende de outras coisas e tem uma História própria. E que portanto tem uma ambição de construção que obviamente não foi só estética, e não foi só de entretenimento. (E isto foi de facto específico na História do documentário. Eu acho que não houve, na História do documentário, o documentário puramente lúdico, como houve na ficção. Acho que o movimento documental, talvez por razões do contexto e da altura em que nasce, esteve sempre muito marcado, desde a sua origem, por uma certa missão social. Independentemente de ser mais ou menos político, foi sempre empenhado socialmente e acho que isso faz parte da sua História). De qualquer forma, o documentário que me levou a apaixonar por essa zona do cinema, e que depois me levou a acompanhar, a cada momento, as coisas novas que iam surgindo, é o documentário cuja História começa na altura desse desprendimento, e que para mim é uma História perfeitamente inserida na arte cinematográfica. É evidente que no passado, como no presente, convém não ser estanque, convém não tomar decisões como a de não mostrar apenas porque se trata de um objecto institucional, por exemplo. 166 PANORAMA ’06 | que panorama? Porque a História mostra também que dentro dessas zonas não artísticas, digamos assim, do documentário existiram muitas vezes coisas que tiveram um enorme papel, uma imensa influência na História da arte cinematográfica do movimento documental. E portanto é preciso estar atento a isso. Aliás, acabámos de ver um caso exemplar disto mesmo, que é O Pão do Manoel de Oliveira, um filme de encomenda, de algum modo, e com apoio institucional bastante preciso, mas que, qualquer pessoa percebe, é um filme de um cineasta, é um filme de um artista, que tem outras ideias e que usa aquele terreno para pôr essas ideias em prática. Enfim, mas talvez não faça muito sentido estar a falar nisto porque neste caso se tratam de filmes que à partida saltam para fora dos seus limites institucionais. Portanto, o que eu quero começar por sublinhar é que acho que valia a pena clarificar um bocado este território, mesmo sem criar fronteiras muito estanques e estando muito atento às coisas que estão a ser feitas fora destas margens. Acho importante definir e conversarmos sobre isso, obviamente, pensando se o futuro de uma Mostra como esta é de facto programar tudo aquilo que à partida uma pessoa inscreve na área do documentário ou não. Eu diria desde já que não me preocupava nada que não fosse. Porque sempre houve muitas outras coisas a que se chamou documentário mas que não fazem parte ou não estão no rasto desse movimento, que a mim particularmente me interessa. Por outro lado, ao dizer isto, não excluo de modo nenhum – pelo contrário incluo à partida – o interesse em ir às coisas embrionárias, os chamados filmes de escola, embora eu ache que nalguns casos eles deviam ser objecto de uma selecção muito criteriosa. Ou seja, eu acho, para resumir tudo numa palavra, que tendo o Doc Lisboa um forte critério selectivo, tendo o Doc’s Kingdom como uma coisa ainda mais selectiva uma vez que são apresentados muito poucos filmes para discutir, e querendo criar um espaço aberto onde se passe quase tudo, a ideia de que tudo vai passar aí é uma completa utopia. Primeiro, porque nunca é verdade: quanto mais se abre, mais coisas ficam de lado. E depois porque faz parte do próprio interesse destas coisas haver de facto um critério de programação. Eu suponho que vocês o definiram, minimamente, e já me tentaram explicar isso. Mas eu acho que o futuro do Panorama passa por assumir um critério de programação, dar a cara por isso, e saber que há coisas que à partida se arriscam mostrar, e coisas que não se arriscam mostrar. Nos filmes de escola muitas vezes não há aquilo que eu chamaria um acabamento puramente académico, tradicional, do filme mais institucional, mas há uma palpitação, há uma procura de qualquer coisa que às vezes é muito mais interessante mostrar. Dito isto, os filmes que a mim menos me interessaram aqui não foram apenas aqueles que têm essa configuração, digamos, mais institucional, ou promocional, mas foram também aqueles cujo acabamento, de uma maneira geral, parecia ignorar completamente a História – e confesso que me surpreende encontrar estes filmes. Por exemplo, quando oiço determinados comentários off, quando vejo determinadas formas de entrevista ou de testemunho para a câmara, tenho por vezes a sensação de que as pessoas que o fizeram operaram uma espécie de tábua rasa a toda uma História. Eu gosto muito de um cinema dito hoje observacional, que trabalha sem esses mecanismos do comentário off e da entrevista, mas longe de mim dizer que hoje o documentário não tem interesse se recorrer a esses elementos (e nas aulas farto-me de sublinhar isso). Aliás, se o dissesse PANORAMA ’06 | que panorama? 167 estaria a entrar em contradição completa, porque acho que a coisa mais importante da História do documentário – e podíamos analisar isto com muito detalhe – é o facto justamente das suas balizas terem sido tão abertas, e o facto de jogar com coisas não controláveis e isso ter obrigado a um choque com uma zona de não controle no olhar o outro. Isso, para mim, é o mais interessante do documentário, foi aquilo que eu chamo de antídoto natural contra as convenções – ao contrário do cinema de ficção que entrou mais rapidamente nas convenções narrativas, o documentário viveu mais livre do que isso. E hoje temos de estar especialmente atentos a isto porque o boom de produção, e a utilização televisiva em particular, criou obviamente novas convenções, e há nisso, para mim, um empobrecimento da liberdade do documentário. Mas, voltando um pouco atrás, o que me surpreende é sentir que há um comentário off em que se mudássemos o locutor actual para o Fernando Pessa ou alguém assim, parecia estarmos a recuar umas décadas no tempo. Isso surpreende-me. Acho que é fundamental que nos sítios onde se está a ensaiar produção, sejam eles as escolas, sejam grupos de trabalho, as produtoras, seja o que for, haja sempre uma mínima consciência de que o que estão a fazer tem uma História, e que não vale a pena repetir coisas que estão feitas. E que por exemplo o comentário off, sei lá, nos anos 30 fazia sentido de uma certa maneira e que hoje fará todo o sentido usá-lo se formos capazes de o re-inventar. Dou um exemplo muito concreto. Há dois dias vi o filme da Luciana, O Encontro, que não conhecia e me interessou, e é um filme que está todo ele entrecortado por testemunhos para a câmara, feitos segundo um modelo absolutamente determinado, que parece, num certo sentido, partir do pressuposto da entrevista: ponho um microfone, dou um tema, e a pessoa fala. E, no entanto, percebe-se logo a partir da segunda intervenção que há uma óbvia, evidentíssima, vontade de re-inventar o próprio dispositivo do que é isso de falar para a câmara, porque o dispositivo está lá segundo regras completamente diferentes. O próprio tema da conversa, a ideia da janela, que acaba por agarrar imensos discursos, interessa-me também pela mesma razão, porque dá a volta a um dispositivo que de outra forma poderia ser extremamente desinteressante. Este tipo de voltas, este tipo de trabalho sobre o que já foi feito, o descobrir novas facetas de um dispositivo que parece esgotado, é que me interessa, e é isso que eu procuro. Outro comentário que eu queria fazer é que nos dias em que estive cá – e agora admito que isto possa falhar completamente por causa dos dias em que não estive – não encontrei uma vertente que julgava que ia encontrar aqui. Encontrei o filme de escola, esse tal filme que eu chamo institucional, mais ou menos académico, mas não encontrei uma outra área que eu acho que hoje se cruza bastante com o que era o terreno tradicional do documentário, e em cujo cruzamento eu acho que se estão a passar algumas das coisas mais interessantes para o cinema todo, ou para, enfim, o que é hoje a importância das imagens em movimento. Falo daquilo a que eu chamaria, para encurtar definições, a incursão da imagem no espaço tradicionalmente considerado das artes plásticas, isto é, as instalações que trabalham na fronteira entre a fotografia, o cinema, o que era o vídeo, o vídeo-arte, enfim, toda essa área cujos objectos estão hoje, muitas vezes, em completo terreno de sobreposição com o documentário e onde eu acho que se passam algumas das coisas que estão a desafiar mais não só a História do documentário, mas a História 168 PANORAMA ’06 | que panorama? do cinema. Para mim, um dos interesses do espaço documental actual está relacionado com essas áreas e custa-me a acreditar que não vos tenha chegado nada deste campo às mãos. Acho que aí há qualquer coisa que tem a ver, não necessariamente com a programação, mas com a maneira como nós todos estamos em diálogo com as outras áreas. Achei estranho que não aparecessem porque tenho a certeza que estão a ser feitas imensas coisas nessas áreas, e não me pareceu de todo que tenham aparecido aqui. Isto surpreendeu-me pela negativa. Faço um último comentário. Juntando alguns dos filmes feitos nos últimos tempos de que gosto bastante (que não vim cá ver, por falta de tempo e porque já os tinha visto), os que descobri aqui e que me interessaram mais, aqueles que fazem parte de um documentário mais rico, nos melhores exemplos destes está a faltar um fôlego maior no documentário em Portugal. Nos melhores exemplos. Acho que não há grande diferença nas ideias entre o que se faz em Portugal e no mundo. Esta nova geração, desde os anos 90, como eu tenho dito, para mim, naturalmente entrou na fase do que se faz no mundo. Mas, olhando para o que se está a fazer no mundo, para além de haver mais dinheiro e mais hipóteses de mostrar os trabalhos, as ideias não são muito diferentes, e acho que faltam em Portugal documentários com mais fôlego, e é isso que me interessaria interrogar. Quando gosto muito de um filme falta-me sempre qualquer coisa. E já agora volto a usar o filme da Luciana como exemplo, porque foi um dos filmes que me estimulou. Se alguma coisa eu teria a dizer em relação ao filme é que me soube a pouco. Quer dizer, eu interessei-me imenso pelo filme, acho que é humanamente muito rico – e isso já é dizer muito –, acho que o filme consegue muito bem por um lado parcelarizar completamente as conversas, portanto tirar um bocadinho de uma, e de outra, mas ao mesmo tempo fazer um fluxo que viaja, e que acaba por constituir um diálogo que parece ser sempre o mesmo, que continua. Mas senti – é uma coisa que eu sinto muitas vezes, não sei se é um vício meu – não sei se na duração final do filme, ou se naquilo que eu pressinto ser o trabalho que o filme teve na sua elaboração, na sua preparação, rodagem, pós-produção, eu sinto que era preciso haver mais. Às vezes estamos perante obras que mostram haver fôlego para mais. Eu acho que aquela aventura que está ali, aquela experiência, a mim parece-me que era matéria para algo mais vasto. Apesar de eu achar – e atenção, isto é delicado de dizer porque posso estar a dizer o contrário do que penso – que a ligação entre as histórias interrompidas funciona, e que uma história se converte na outra, de algum modo senti que em alguns casos me apetecia mergulhar com mais profundidade nalguns daqueles episódios, nalgumas daquelas figuras. E portanto senti que havia ali matéria para uma coisa maior. Eu sei que há pessoas que vão dizer que eu gosto dos filmes muito longos, mas eu insisto em dizer que não é só uma questão de duração – e aqui sublinho também que quando digo maior não digo à partida que deveria ser maior em duração final. Maior em tudo. A matéria, para mim, puxava para mais, e estou a sentir isto em imensos outros filmes. Acho que na ponta, digamos, mais exigente, o documentário português está demasiado económico. Se é por causa de condições de trabalho... provavelmente é, mas eu gostava de vos ouvir falar sobre isso. O Zé Manel dispensa apresentação, é o José Manuel Costa, mas talvez eu precise (vocês deviam ter apresentado as pessoas). Graça Castanheira, sou realizadora, sou GRAÇA CASTANHEIRA. PANORAMA ’06 | que panorama? 169 da direcção da Apordoc e dou aulas de documentário no conservatório. E o Zé Manel disse de uma maneira erudita tudo aquilo que eu tinha mais ou menos para dizer. Ou seja, eu concordo, e tenho dúvidas, que já expressei internamente na Apordoc, acerca da democraticidade desta Mostra. Porque eu acho que é preciso haver critérios. É forçoso. E a Democracia faz-se com uma extensa gama de critérios. E quando há ausência de critérios talvez estejamos a falar mais de anarquia do que de democracia. Foi o que eu senti, embora não tenha cá estado o tempo todo, obviamente, e portanto também não possa falar com muita propriedade. Mas dos dias em que estive, e através das reacções das pessoas que cá estiveram, e que não são pessoas propriamente do meio, são pessoas que têm interesse no documentário, o que eu sinto é que falta algum critério. Eu tenho duas actividades em que se passa exactamente o mesmo. Ou seja, eu faço design gráfico e faço documentário. Em relação ao design gráfico aconteceu, como sabem, aqui há 20 anos, a eclosão dos computadores. E então agora, hoje, toda a gente acha que consegue fazer design gráfico. E eu fico muito irritada com isso. Porque não se consegue. Não é toda a gente que consegue fazer design gráfico, assim como não é toda a gente que pode fazer documentário. Porquê? São disciplinas que têm a sua complexidade, que têm a sua metodologia, que têm uma gramática própria, que requerem uma série de conhecimentos, têm uma História – a qual o Zé Manel já referiu – e portanto eu acho que é simpático, é democrático mostrar tudo, mesmo aquilo que é feito num impulso (eu própria quando peguei numa câmara já tinha andado na Escola de Cinema mas sabia muito pouco) mas não sei se deve ser visto. Mas então, e para completar a questão que o Zé Manel coloca, porque é que falta ímpeto, porque é que falta alma, porque é que falta grandeza? O que eu acho que falta é formação, também. Ou seja, eu proponho – e isto é uma estupidez, o que eu vou dizer – é que o dinheiro do Panorama seja reinvestido para o ano, e se mande o Zé Manel para Nova Iorque, a mim para Cuba, a Catarina para Espanha para não ficar muito longe dos filhos, e vamos todos também aprender um bocadinho mais, para ensinar melhor. O que eu acho que falta também é uma cultura do documentário. A Apordoc foi fundada há 10 anos para defender uma cultura do documentário, para tentar identificar o género documental (documentário / cinema documental). Eu acho que foram 10 anos de uma luta persistente, consistente, e uma das vitórias, digamos, da Apordoc, foi ter separado o concurso de curtas-metragens do concurso do documentário (porque há 10 anos, quando nos queríamos candidatar a dinheiro do ICAM, fazíamo-lo no interior de um concurso geral de curtas-metragens). Conseguiu-se torná-lo independente. E então tentámos perceber o que é cinema documental, o que é o documentário de criação (como vem escrito na portaria do ICAM). Foram todos passos importantes. E agora acho que falta dar os outros passos. E falta então perceber que estas portas que o documentário tem abertas, estão abertas no interior de uma linguagem muito específica, que é a linguagem do cinema. Eu agora, para dar aulas, tive que voltar a ler o Bazin, voltar a ler uma série de teóricos, e fez-me muito bem. Não só ler o Bazin, mas também estudar outra vez a regra dos 30º e do salto do eixo, e aplicar isso tudo ao documentário, outra vez. 170 PANORAMA ’06 | que panorama? E saber que essas coisas existem para poder não as usar, que também é importante. Portanto, eu acho que falta aqui um certo profissionalismo. Sinto que se está a fazer um documentário um bocadinho naïf, com todas as qualidades que isso possa ter, e com todos os defeitos e limitações que isso possa impor. Esse é o meu balanço desta Mostra. Sendo que eu tenho um compromisso pessoal de fazer os melhores documentários possíveis, dar as melhores aulas possíveis... o documentário há-de ser sempre aquilo que eu mais gosto de fazer, e há-de ser sempre a área do cinema que eu prefiro. Mas acho que era fundamental repensar este Panorama, e pensar o que é que pode servir melhor este mercado, o que é que pode servir melhor o crescimento destas pessoas. Acho que houve coisas muito positivas, por exemplo, eu vi filmes de estudantes da Escola de Cinema que ainda não tinha visto (só os apanhei no segundo ano, não tinha visto o que tinham feito no primeiro, não tivemos tempo), e portanto foi óptimo ter uma sala grande, com uma boa projecção, com um projector afinado, com boas cores. Foi bom para mim porque tive melhores condições que na Escola de Cinema, foi bom para eles terem espectadores, e portanto há aqui uma série de coisas muito positivas, profundamente democráticas. Mas também vi coisas indigentes que acho que afastaram as pessoas do documentário. Porque as pessoas vêm ver documentário nacional, e basta verem três ou quatro filmes muito maus, e muito incipientes, muito mal acabados, muito convencionais, para não quererem ver mais. Para mim, aliás, a grande questão está nos mal acabados, e os documentários que derivam directamente de uma colagem à linguagem televisiva, sem apresentarem qualquer distinção de uma reportagem, que é outra fronteira fundamental para nós definirmos. Acho que é contraproducente esses filmes estarem nesta amálgama geral. Este é o meu balanço. E estarei, obviamente, cá para discutir o que é que se poderá fazer de melhor. Ou então estou disponível para que me convençam do contrário, completamente. Se alguém argumentar de que isto é profundamente positivo assim, eu sou toda ouvidos. Eu daqui a pouco tenho de me ir embora, e portanto vou só dizer uma coisa. Bem, primeiro apresento-me também: sou a Catarina Mourão, sou realizadora, e tenho dois filmes aqui na Mostra. E portanto sou talvez a única pessoa na mesa a ter um olhar diferente, estou envolvida no Panorama de outra maneira. Não estou na direcção da Apordoc e sobretudo não posso fazer um balanço completo porque vim cá muito pouco, assumo já isso. Mas parece-me que esta discussão está a ir por um caminho... não sei qual era exactamente o objectivo deste debate, mas ambos o Zé Manel e a Graça abordaram a questão da pertinência e relevância deste Panorama, ou os moldes em que ele foi feito. Mas para mim há uma outra questão interessante – não sei se o é para vocês – que é, analisando o Panorama, tentar perceber porquê estes resultados. Há uma crítica geral a um certo desequilíbrio entre obras, colagens à televisão, já se ouviu dizer, obras mal acabadas, diz a Graça, obras sem impulso, diz o Zé Manel, e isto é, de certa forma, um espelho do documentário que neste momento se faz em Portugal. E acho que vale a pena analisar isso. CATARINA MOURÃO. Não estou exactamente a dizer que a Mostra se deva repetir nestes moldes, mas há qualquer coisa de bom que pode sair dela, que é a oportunidade de fazer esta análise. Para mim, isto é PANORAMA ’06 | que panorama? 171 resultado de qualquer coisa que ambos os textos do Zé Manel e do Jorge Campos, no catálogo, abordam: o boom não foi acompanhado por um apoio efectivo do ICAM e das televisões, etc. E mesmo ao nível da formação, só agora se está a sentir também uma verdadeira explosão. Acho que vale a pena abordar estas questões. Porque é que há uma identificação de certos objectos audiovisuais com o documentário, e será que faz sentido ou não? Será que tudo o que é não-ficção é documentário? Claro que não, mas são questões complicadas, que vale a pena discutir. Depois há um outro balanço a fazer que é pensar se para o próximo ano faz sentido a Mostra acontecer nestes moldes. Mas acho que para já este foi o Panorama que existiu e acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre o que está aqui a ser mostrado, e porquê que é isto que há para ser mostrado. MANUEL MOZOS . Olá, chamo-me Manuel Mozos, trabalho tanto na ficção como no documentário. E realmente eu estou mais de acordo com a Catarina. Acho que o que é muito complicado é ter espaço para divulgar o que se faz neste momento em Portugal, independentemente de ser exclusivamente documentário. E segundo me parece, o Panorama foi aberto a pessoas que se quiseram inscrever, e eu julgo que até muitas delas não tiveram lugar noutro tipo de locais de exibição, como o Doc Lisboa, e outros locais onde o documentário tem lugar cativo. E eu acho que é muito interessante que se possa ter uma ideia não só das coisas que saem das escolas, mas coisas também muito amadoras. Eu defendo que tem que haver um espaço para a divulgação. Se calhar o Panorama, ainda por cima numa primeira edição, terá os seus defeitos, mas para mim tem imensas qualidades. Por abrir um campo maior sobre a produção, e precisamente por permitir discutir o que é que agora é válido, o que é realmente cinema. Acho que no campo do documentário se está demasiadamente formatado por modelos de televisão. Noutros países também, mas em Portugal não há dinheiro para fazer um documentário, e os espaços onde é exibido são fracos, do meu ponto de vista. É muito difícil os documentários terem distribuição em cinemas, e as televisões fazem imensa pressão sobre como se deve fazer o documentário. Ou seja, não há nenhuma liberdade. E eu acho interessante que, apesar de poder não ser nestes moldes, haja espaço para se poder ver o que se produz em Portugal. Mesmo as coisas mais amadoras e com menos probabilidades de algum dia virem a ter alguma divulgação. Eu defendo que deve haver espaço para toda a gente. GRAÇA CASTANHEIRA . Eh pá, eu também defendo que deve haver espaço para toda a gente. Eu só vos quero fazer uma pequena pergunta antes de abrirmos o debate, se não se importam. Levantei uma questão em que ninguém pegou, que foi o não estar aqui presente o espaço a que eu chamo das instalações. Eu pensava que hoje haveriam propostas que pudessem ser apresentadas simultaneamente como documentário e como... vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto? JOSÉ MANUEL COSTA. 172 PANORAMA ’06 | que panorama? CATARINA MOURÃO. Isto é uma opinião, mas à partida acho que uma instalação implica a dimensão ‘espaço’. Ou seja, uma instalação de artes plásticas não é só a projecção bidimensional no écran, normalmente. Há todo um outro território que se calhar aqui não é o mais... Vou fazer um grande esforço para não entrar já em diálogo, para não ficarmos aqui o resto da noite a discutir isso. Mas o que me parece óbvio é precisamente que nos últimos tempos essa anterior separação está a esbater-se por todo o lado. Quando... JOSÉ MANUEL COSTA. CATARINA MOURÃO. Posso? JOSÉ MANUEL COSTA. CATARINA MOURÃO. Só quero dar um exemplo. É que eu tenho de me ir embora... JOSÉ MANUEL COSTA. Nós, no último Doc’s Kingdom, quando exibimos o último filme do Kiarostami, exibimo-lo como filme em sala, e ele foi concebido inicialmente para passar num espaço desse género de que falas. Quando eu por exemplo fui ver aquelas instalações que estiveram no CCB no âmbito do Lisboa Photo e nós pudemos ver, por exemplo, o plano do Michael Snow, achas que não era possível passar aquilo em sala? Acho. Então retiro o que disse. Foi impulsiva, a minha resposta. E deixo uma sugestão para o próximo Panorama. Deve haver oportunidade para ver tudo, diz o Manuel Mozos. Mas no território da ficção não existe este espaço. Porque é que o Panorama não passa a ser um espaço mais aberto, abrangente? Assim como tu falas das instalações, eu falo de um cinema mais de ficção onde se faz muita coisa que não se vê. Porque é que não se abre tudo? (Porque o próprio Michael Snow é tanto ficção como documentário). CATARINA MOURÃO. GRAÇA CASTANHEIRA . Mas isso era voltar à Mostra de Vídeo, que era uma actividade da Videoteca onde estavam incluídos todos os géneros. CATARINA MOURÃO. Pois, se calhar. Apesar de o Panorama ter tido esta perspectiva bastante abrangente, trata-se, de qualquer maneira, de uma programação. E isso quer dizer que houve alguns filmes que ficaram mesmo de fora, algumas reportagens, por exemplo. E não foi fácil. E também queria dizer que nos apareceram um ou dois filmes do campo da vídeo-arte, e nós convidámos esses realizadores a participarem na Mostra de Vídeo que a Videoteca vai organizar aqui também no Fórum Lisboa. Surgiram então um ou dois filmes, não digo do campo da instalação, mas da vídeo-arte. Em relação à reportagem, quero também dizer que tivemos consciência que realmente estavam presentes no Panorama conteúdos que podemos considerar completamente contaminados pela linguagem televisiva, e deixámos de fora algumas coisas – e foi difícil – que considerámos serem peças jornalísticas autênticas, algumas oriundas de canais de televisão. Acho que já todos nós desconfiávamos que era isto que se andava a produzir, já havia esta sensação, nos últimos cinco anos desenhou-se a possibilidade do Panorama trazer estes filmes. FERNANDO CARRILHO. PANORAMA ’06 | que panorama? 173 Há aqui ainda filmes de autodidactas, pessoas que adquiriram câmaras e computadores, e não tiveram qualquer formação. As portas para essas pessoas também foram abertas. Em relação às escolas existe já outra expectativa, obviamente, e elas têm uma outra responsabilidade. E há realmente uma crítica a fazer às escolas que apresentaram trabalhos também eles completamente influenciados pela linguagem televisiva, e que também levantam questões sobre se devem ou não ser considerados documentário. De qualquer maneira, eu queria dizer que ao longo destes pequenos debates que nós organizámos, onde corremos o risco, por se centrarem em torno de temáticas (e isso aconteceu por um lado, por vezes esses pequenos debates terminaram em questões muito longe do cinema), pudemos questionar os jovens criadores, e os alunos de escola acerca do seu processo cinemático, na sua construção fílmica, digamos. Houve a possibilidade dessa confrontação, e houve uma porta aberta a essas pessoas, e parece-me que isso trouxe um aspecto pedagógico. Agora passava se calhar a palavra aqui à Madalena. MADALENA MIRANDA . Bom, primeiro que tudo eu também me apresento. Sou a Madalena Miranda, pertenço à Apordoc e também pertenço à organização do Panorama. Gostava de dizer que nós começámos o Panorama – e acho que todos sentimos isso – com a necessidade de arrumar a casa. De passar os apontamentos a limpo, pôr os separadores no dossier. E basicamente o que nós sentimos é que já não era possível continuar a tentar olhar apenas para aquilo que gostaríamos que fosse o documentário. Acho que nos apercebemos que, perante o boom das máquinas que se compram no supermercado – como disse ontem um realizador que esteve aqui – do boom das escolas de cinema e dos cursos de documentário que apareceram por todo o lado, para além da persistência de um suposto meio profissional que continua a tentar existir, as coisas nos estavam a escapar. E achámos que era necessário criar um espaço onde se pudesse olhar para todas estas coisas ao mesmo nível. Isso pressupõe alguma disponibilidade e alguma generosidade. De quem faz e de quem vem ver. Porque a ideia não é ver só bons documentários, não é só perceber o que é que tem fôlego, é perceber onde é que ele não existe e porquê. E acho que nós conseguimos, de alguma forma, limpar o dossier, criar separadores, criar grupos, fazer uma coisa que, pessoalmente, acho que foi muito importante, que foi convidar pessoas de outras áreas a olharem para aquilo que se estava a fazer a este nível, criar um jogo de equilíbrios nos debates entre o que são questões do cinema e o que são questões daquilo que se filma. Porque eu, tal como José Manuel Costa, também acredito que o documentário deve ser empenhado socialmente, mesmo que seja só uma forma de arte e uma forma de arte cinematográfica. Portanto, esta foi a nossa proposta. Há uma coisa que eu gostava também de referir que é, tal como a Inês disse há bocado, a nossa ideia não era chegar a certezas, a ideia era um bocado criar mais dúvidas, para podermos sair daqui a pensar em conjunto. INÊS SAPETA DIAS . Vamos abrir a discussão. Eu tenho aqui o microfone comigo, para passar a quem quiser, mas começava já por dizer uma coisa. PUB (ANTÓNIO CUNHA). 174 PANORAMA ’06 | que panorama? O meu nome é António Cunha, sou há 15 anos o director da Videoteca da Câmara Municipal de Lisboa, e espero continuar a sê-lo durante mais alguns anos. E agora irei falar como responsável da Videoteca Municipal, ou seja, um dos pilares em que o Panorama assenta. Naquilo que me concerne, e com todo o respeito quer pela opinião da Graça, quer do José Manuel Costa, eu continuo a acreditar, ou pelo menos a querer acreditar, que a abertura de um espaço enorme, de uma janela enorme sobre uma vontade de produzir, de aparecer, de ser visto, de mostrar, de falar, é fundamental de manter. Dizem a Graça e o Zé Manel que é necessário criar critérios para mostrar: que critérios? Os gostos pessoais? A moda? A História? Que critérios é que vão, e podem vir a assistir a uma selecção no próximo Panorama? Porque, para a Graça e para o Zé Manel, os documentários poderão ser uma coisa, não quer dizer que o sejam obrigatoriamente para todas as outras pessoas. Exactamente porque há uma História que vem desde o Nanook e, enfim, por aí fora, que se foi alterando, mudando, houve coisas feitas nessa época, houve coisas feitas em épocas posteriores, houve encomendas que não deixam de ser documentários, há documentários que não deixam de ser encomendas. Houve coisas feitas em 35mm, em 16mm, em super 8, em 9,5mm, enfim, agora é a altura do vídeo, também não me parece que esta seja uma discussão nova, e que seja por se comprarem câmaras no supermercado que se fazem mais coisas. Evidentemente que se faz mais, também se escreve mais: aqui há 50 anos havia muito mais analfabetos do que há hoje, e não é por haver parkers com ponta estabilizada a quartzo que há melhores escritores. Um escritor precisa de uma bic, não precisa de uma parker com ponta de ouro estabilizada a quartzo. Desde que tenha qualquer coisa para dizer e desde que saiba escrever. Não sei se a Madalena terá muita razão quando diz que proliferam por aí escolas e cursos de documentário. Se calhar não proliferam tanto quanto isso. Nós, Videoteca, começámos a organizar um curso aqui há uns anos (espero que ele se possa continuar a desenvolver); os ateliers Varan da Gulbenkian estão a dar, obviamente, um contributo importantíssimo... e aí residirá talvez a razão de ser do Panorama: criar vontades, condições para que se continuem a fazer coisas. E quando digo condições não me refiro a grandes subsídios por parte do ICAM. Habituei-me, desde pequenino, àquele provérbio chinês: “se vires um homem com fome à beira de um rio não lhe dês peixe, ensina-o a pescar”. E acho que é nisso que reside a evolução do documentário, das curtas, da vídeo-arte. Para além da Mostra de Curtas que a Videoteca começou a organizar aqui no Fórum Lisboa (a partir do momento em que a Câmara comprou o Fórum Lisboa – interrompemos quando as coisas começaram a correr mal, mas agora voltam a correr bem...), tínhamos de facto a Mostra de Vídeo, essa sim uma amálgama complicada de manter. E eu sonhei nessa altura com uma coisa que, com mais selecção, com mais cuidado na programação, com mais espectadores ou menos, se está de facto a enraizar: dividir o ano em três, e em cada uma dessas partes podermos fazer uma Mostra representativa daquilo que se faz de muito bom, de menos bom, nas escolas, com vontade, com menos ou mais dificuldades. E a ideia é um pouco essa – e por aqui me calarei – mantermos uma mostra de documentário tão abrangente quanto possível (e falo da parte de um dos pilares da organização do Panorama). Não há aqui nenhuma intenção de dizer que se não for assim não se faz, de forma nenhuma. PANORAMA ’06 | que panorama? 175 Penso que é importante manter, como será importante transformar a Mostra de Vídeo da Videoteca, fazendo com que passe a ser de facto uma Mostra de vídeo-arte com instalações, e que será em Junho – aniversário da Videoteca – e que em princípio será aqui também no Fórum. E a Mostra de Curtas que a Inês retomou o ano passado, depois do ano de interrupção, e que será aqui, em Novembro. O que é que eu gostaria que acontecesse, ao fim e ao cabo, e deixem-me rematar desta maneira: estou na Câmara Municipal de Lisboa desde 1990, e espero continuar por três ou quatro anos. Mas dentro de três ou quatro anos vou-me embora, porque a careca e a barriga vão aumentado, e há que criar outras vontades, e outras energias. Mas gostaria, quando me fosse embora, que este espaço, esta sala magnífica do Fórum Lisboa, fosse conquistado (e falando em termos pessoais, peço que me ajudem nisso) para as curtas, para o documentário, para a vídeo-arte, para a estreia de coisas portuguesas, e para muitos debates como este. É necessário ganhar esta sala para mostrar estas coisas, independentemente de este ser mais televisivo e aquele... vi aqui um documentário que pelos vistos devo ter sido o único a gostar, porque é uma coisa eminentemente televisiva, sobre o Luís Pacheco. E gostei muito de ver aquele documentário sobre o Luís Pacheco porque me mostrou coisas que nunca tinha visto. E – tenho de confessar a minha ignorância – nunca li A Comunidade, e fiquei com vontade de o ir já comprar. Portanto, esse documentário se calhar não serviu para nada, mas serviu-me para descobrir um livro que, pelo que as pessoas lá diziam – eu não posso, naturalmente, pô-las em dúvida –, era uma das mais brilhantes obras, não da Literatura portuguesa, mas da Literatura universal, e eu não conheço. Portanto eu agradeço a quem fez esse documentário ter-me permitido verificar mais uma vez que me faltam ver e conhecer inúmeras coisas. Calo-me de imediato, vou-me embora, não falo mais. Mas acredito, ou pelo menos quero acreditar, que o futuro deste espaço que é o Fórum da cidade e que tem magníficas condições para exibir 35mm, 16mm, vídeo, e espero que em breve alta definição, e que tem um espaço bom para fomentar estas conversas, passa por mostras como esta. E sem pôr ninguém de lado. Não quero estar a ser impertinente, mas se alguém for posto de lado deverá ser por sua própria iniciativa, alguém que considere que de facto isto não é para si. O Fernando, a Inês, a Madalena discutiram muito a questão da selecção desde o início. Pelo meu lado sempre procurei que não se enveredasse por esse caminho, e eles às tantas diziam-me “então, mas se começarem a aparecer para aí filmes de casamentos e baptizados? Filmes de férias?”. Logo vemos. Se calhar temos que criar lá em baixo na Videoteca uma mostra do filme doméstico. Porque não? Se por parte da Câmara Municipal de Lisboa não houver alteração – eu espero que não – e continuar a haver vontade que estes espaços estejam à disposição das pessoas – de quem faz, de quem vê -, isso é o essencial. E essa será a grande conquista. Porque temos o extraordinário Doc Lisboa, temos o magnífico Doc’s Kingdom, eu acho que não faria muito mal ter um Panorama... não digo com os filmes de família, mas também sem os pôr de lado, criando um novo espaço para eles. Peço desculpa, falei demasiado. Quem fala a seguir? 176 PANORAMA ’06 | que panorama? Eu sou o Miguel Gaspar, trabalho em audiovisuais, e já tinha comunicado ao António Cunha a forte impressão que me causou a sessão de abertura. Tal como várias pessoas já disseram, foi-me impossível estar em todas as sessões, mas a sessão de abertura deixou-me a sensação dessa mistura entre o filme de escola, e o filme mais maduro, como foi aqui dito. E achei realmente infeliz ter logo na abertura uma selecção ou uma escolha – segundo o que foi dito não houve grande discriminação – que acabou por ser bastante penosa. Porque em certos filmes passaram 10 minutos sem que eu percebesse nada do que estava a ouvir. Quer dizer, claro que os conteúdos são importantes, é tudo importante, mas o que eu perguntaria ou acrescentaria é: já que não vamos distinguir as escolas, no futuro se calhar até se irão incluir os casamentos e os baptizados, podia-se pelo menos distinguir a qualidade técnica mínima, para podermos perceber alguma coisa. Mesmo nos filmes de escola não será possível fazer essa distinção? Aqueles que são audíveis, ou aqueles que mesmo sendo de escola deixam muito a desejar. Portanto, sugiro só a distinção técnica mínima para ser audível. Tem que haver um mínimo respeito por quem está ali sentado e quer perceber alguma coisa. PUB ( MIGUEL GASPAR ). Bem, em relação à diversidade, primeiro. Pelo que eu percebi – não sei se percebi bem – parece que sentem que não houve uma programação, não houve um pensamento por trás da programação. E ele existiu. E ele assentou exactamente no desejo de transmitir essa diversidade e de criar espaços de discussão. Porque dividimos a programação em blocos e cada bloco terminava sempre num debate onde o objectivo não era discutir o tema, mas a maneira como filmes, muito diferentes, olhavam esse tema e olhavam objectos mais ou menos próximos. Portanto, a ideia foi sempre criar espaços de discussão a partir dessa diversidade. Não foi mandar as coisas para a sala, sem eco. O nosso objectivo foi sempre criar um eco, uma ideia de programação que eu acho que é forte, e que existiu. Essa programação não assenta de facto numa selecção. Assenta numa organização e num desejo de criar espaços de debate. Depois em relação aos requisitos técnicos mínimos. Não sei exactamente de que filmes é que estás a falar, mas... INÊS SAPETA DIAS . PUB ( MIGUEL GASPAR ). MADALENA MIRANDA . INÊS SAPETA DIAS . Os da sessão inaugural... O Inimigo tinha... Não sei se queres... MADALENA MIRANDA. Sei qual é o filme a que se refere. E na nossa decisão pesou o conjunto do filme, pesaram as outras qualidades que ele tem, que não passam por essa condição técnica tão específica do som. Eu sei que foi uma escolha, poderíamos ter escolhido de outra maneira. Acho que assumimos essa escolha pelo filme ter outras coisas, e por acharmos que dá a ganhar para além desse pormenor. E já agora gostava de dizer que posso ter sentido o mesmo quando vi alguns filmes que são considerados obras-primas do cinema português como o Vilarinho das Furnas, como o Acto da Primavera, entre outros. Desculpem lá, posso só dizer uma coisa? É que eu quero sair já rapidamente do lugar onde me estão a colocar, está bem? Só porque eu não enfio esse chapéu. O chapéu GRAÇA CASTANHEIRA . PANORAMA ’06 | que panorama? 177 da pessoa que é elitista, que acha que quem faz e não sabe, não deve fazer, etc. Ou da pessoa que diz que não houve programação, não houve critérios. Se calhar eu devia ter começado por dizer tudo aquilo que eu acho profundamente positivo neste Panorama, nomeadamente no que me permite avaliar qual está a ser o trabalho feito ao nível do documentário, isso é-me útil. Eu acho este Panorama profundamente útil. Agora, chegámos ao fim e a pergunta é: “que panorama?” e portanto eu estou a tentar fazer um balanço crítico. E o balanço crítico para mim é este, muito especificamente: qualquer artista, qualquer criador tem que lutar por uma certa qualidade no seu trabalho até atingir parâmetros – socialmente estabelecidos – que vão permitir que esse trabalho seja avaliado, seja exibido, etc. Esta profunda democraticidade, isto do ‘vem tudo’, eh pá, lamento imenso... Eu por exemplo, gosto muito de escultura. Tenho lá uns projectos de escultura, já fiz uma, mas não tenho nenhuma pretensão que a Galeria Luís Serpa vá exibir as minhas esculturas. Eu hei-de ser sempre, enquanto escultora, uma escultura naïf e com as minhas limitações. A menos que vá para o Ar.Co três anos estudar escultura, e aprender um bocado de História, saber quem são os grandes autores, e conhecer minimamente a metodologia, a gramática interna da escultura. Aquilo que eu acho que são critérios, é o que para mim tem a ver com a identidade do documentário. O documentário, a unidade de trabalho do documentário, é o plano. A unidade de trabalho de uma reportagem é a palavra. Logo aí, eu consigo fazer automaticamente uma distinção radical entre documentários que vêm de uma escola mais jornalística, mais com tentações de objectividade, sobre a realidade, sobre a equidistância e coisas assim do género, e um documentário onde precisamente a unidade de trabalho é a unidade de trabalho do cinema, que é o plano. Todos nós sabemos que em cinema não se pode escrever num argumento “João está angustiado” ou “João está triste”. Não. O João, para estar triste em cinema, tem que fazer alguma coisa, tem de agir de maneira a mostrar ao espectador que está angustiado. Ora, muitas vezes, entre aquilo que se convencionou chamar as portas enormemente abertas do documentário, vi documentários em que do primeiro plano ao último plano não havia réstia de ideia de cinema, não havia uma ideia visual. E no primeiro plano dizia-se “o João está angustiado” e no último dizia-se “o João está triste”. Tudo da boca para fora. Tudo gramática. Tudo texto. Portanto, eu acho que há certos critérios que vale a pena nós também acordarmos, ou pelo menos discutirmos. E eu acho que o Panorama é um bom início de discussão. Nesse sentido acho que é profundamente positivo. Mas eu acho que é preciso, e fundamental, começarmos a discutir estas coisas a sério. Porque eu pessoalmente não gosto, mesmo, e sinto-me até mal na sala perante certos filmes. Ontem estava a dizer à Nina e à Rita que estava irritada comigo porque não conseguia ficar na sala, e estavam lá os meus amigos todos na boa a ver um filme mau. E eu não conseguia, não conseguia porque me irrita. Irrita-me que não haja critérios, que não haja identidade, que não haja... e irrita-me porquê? Eu já fiz documentários maus, e se eu pudesse ter tido formação, se eu pudesse saber algumas coisas teria sido muito bom para mim, teria evitado uma data de maçadas como fazer um documentário mau, e estar a exibi-lo e estar a chatear o espectador. Que é o que eu acho que aconteceu aqui. Acho que quando se exibe alguma coisa tem que se ter 178 PANORAMA ’06 | que panorama? respeito pelo espectador. E há aqui filmes que do meu ponto de vista... não é que as pessoas sejam más, e que ponham aqui os filmes para torturar os espectadores, mas há coisas que não pode ser. Pronto. Acho que é preciso haver crescimento, e é preciso haver um crescimento sustentado pela formação, e acho que é preciso que as pessoas saibam que para terem o seu filme aprovado para participar numa Mostra, seja ela qual for, têm que trabalhar um bocadinho e têm que estudar. E não basta que saibam escrever. Porque escrever em cinema é muito complicado, porque é preciso pegar numa câmara, é preciso requisitos técnicos. É preciso saber fazer som, é preciso saber fazer uma data de coisas. O cinema é altamente complexo. É uma forma de expressão artística altamente complexa. E calo-me (estamos todos com tendência para uns grandes textos, desculpem). PUB (LUCIANA FINA). No fundo ia pôr os mesmos problemas. Acho que é uma questão de prioridades. Talvez seja porque acredito que o critério da grande abertura seja um belíssimo critério, em muitíssimos casos, mas acho que se calhar há outras prioridades ou talvez uma opção sobre as prioridades a fazer. E nesse sentido os critérios servem para arrumar não só a casa mas também as ideias. Então, a questão é: precisamos só de arrumar a casa, ou também de arrumar as ideias em volta do documentário? E se precisamos de arrumar as ideias à volta do documentário, talvez haja a necessidade de um critério assumido. Nesse sentido acho que o Zé Manel deu uma ideia clara desde o princípio quando disse que é preciso assumir um critério. De certeza que abrir a Mostra a todos é uma belíssima ideia, e ter um contentor assim, também. Mas é de facto uma questão: não acredito nos critérios técnicos, acho que podem existir em segundo plano a uma questão de pensamento sobre a escrita, e sobre o cinema, e o que é que é escrever cinema. Mas até que ponto o público é nossa vítima quando estamos a fazer programação neste sentido? Porque apesar de tudo há pessoas que têm mais conhecimento e reconhecem questões de som, ou questões técnicas, ou até conhecem mais a linguagem do cinema. Falei com muitas pessoas que saíram da primeira sessão, da sessão inaugural – e que são pessoas com outras profissões mas que têm uma sensibilidade pela escrita em geral, ou pela realidade em geral – e não voltaram mais. Portanto, se é a intenção do Panorama criar, por um lado um público para o documentário mais atento, mais formado, e mais numeroso, e por outro lado criar uma reflexão sobre a escrita, e uma cultura do documentário, talvez valha a pena tentar também procurar esse critério. Repito, acredito que a grande abertura é uma belíssima ideia. PUB ( MIGUEL RIBEIRO ). Olá, chamo-me Miguel Ribeiro e passaram dois filmes meus aqui no Panorama. Eu queria, primeiro, congratular a Videoteca e a Apordoc, porque acho esta iniciativa muito importante. E é importante para mim nos moldes em que se passou nesta primeira vez, simplesmente pelo espírito democrático. Passaram dois filmes meus, um é filme de escola, o outro não é, e foi muito importante na medida em que o Panorama – e isso é mérito dos programadores – teve em si uma dimensão didáctica. As próprias pessoas que fizeram os filmes puderam dialogar com os espectadores e aprenderam sobre os seus próprios trabalhos e isso para mim é muito importante. PANORAMA ’06 | que panorama? 179 E o filme pode de facto não ter méritos técnicos mas é importante estar aqui. É muito importante para um realizador estar aqui. E não penso que este seja um espaço aberto a realizadores que já sejam consagrados, é um espaço aberto para pessoas que querem ser realizadores, que querem, que sonham ser realizadores. É aberto a todos. Não é aberto só a quem foi ensinado dentro de determinados parâmetros socialmente aceites, como a Graça disse. Não há parâmetros socialmente aceites. Os artistas é que vão impondo os parâmetros. Podem ser parâmetros medíocres, como podem ser parâmetros geniais. Mas, isso só chega aos olhos das pessoas enquanto houver um espaço em que possamos ter o privilégio de assistir a coisas feitas com uma câmara de supermercado, como com uma câmara HD. É importante existir um espaço onde possamos ver essa gama larga. Agora, se as pessoas saem e não voltam é problema delas. Tenham paciência, vejam, observem, aprendam, critiquem. É preciso ver a importância deste fórum. Estamos no Fórum Lisboa e acho que o nome ‘Panorama’ tem que fazer justiça ao seu próprio nome: ‘panorama’. Só para terminar, não sei se ainda aqui está a pessoa que disse que não percebeu nada dos filmes da sessão da abertura, mas um dos filmes que passou foi meu. Eu compreendo que haja esse critério técnico, mas acima do critério técnico... PUB ( MIGUEL GASPAR ). Não se percebia nada. PUB (MIGUEL RIBEIRO). Pois não, mas... O meu filme foi o último que passou, e eu, até porque fiz o curso da Videoteca, tenho preocupações em relação a esses aspectos técnicos. Acho é que às vezes aquilo que se diz não é tão importante como a vontade de dizer. Graças à Mostra de Vídeo, alguns dos meus filmes passaram, e hoje vejo esses filmes e acho-os muito maus. Mas foi muito importante para mim aquele filme passar. E eu compreendo isso mas… acho que não é só para a qualidade técnica que devemos olhar, o mérito também está para lá disso. PUB 6. Eu vou falar enquanto espectadora, para relembrar um pormenor. No primeiro dia entregaram um catálogo a toda a gente, acho que há ali mais alguns, e como a Mostra está no fim acho que era interessante que quem não levou para casa, levasse. E no catálogo estão pistas sobre o que se vai ver. Diz-se aqui que há trabalhos que são o primeiro filme de jovens ou menos jovens, e há um descritivo do filme. Eu penso que, à partida, quem vem com este guião, sabe aquilo que o espera, e está mais ou menos preparado para um filme que tenha maior ou menor qualidade técnica. Portanto, queria chamar a atenção para isto, e dizer que no fundo a democraticidade tem vantagens, e uma delas é o critério ficar do lado do espectador. O espectador vê e pode no fim gostar ou não gostar... PUB ( LEONOR AREAL). PUB E não voltar. 6. ...e não voltar ou voltar. Mas o critério de selecção fica com o espectador. Não é assim que se criam públicos. Não é realmente assim que se criam públicos. E o catálogo não diz nada sobre a qualidade técnica dos filmes. E só um pequeno esclarecimento: eu nunca disse que o contexto era o do socialmente aceite. O socialmente aceite são os critérios mínimos, estão a ver? Mínimos. Eu acho que aqui não houve nenhuns. E eu acho que isso é grave. Ou não é o que serve melhor nem o espectador, nem a própria mostra. GRAÇA CASTANHEIRA . 180 PANORAMA ’06 | que panorama? PUB ( MIGUEL RIBEIRO). Na televisão é que não há critérios de certeza. GRAÇA CASTANHEIRA . Está bem, mas nós não estamos aqui a fazer uma coisa de televisão, estamos precisamente a criar um universo alternativo. Eu já vi mostras de todo o cinema italiano em Roma, todo o cinema que se produzia num ano. E ficaram de fora uma data de filmes. Uma data deles. Ou seja, há determinados patamares que têm de existir e eu acho que são relativamente fáceis de fixar, com uma boa discussão, com bons entendimentos, com bons critérios, com bons professores, que poderão dizer quais são os critérios mínimos. INÊS SAPETA DIAS . Viste esses filmes que ficaram de fora, da mostra de cinema italiano...? GRAÇA CASTANHEIRA . Vi, então, claro que vi, sim. São filmes da ordem destes de que eu estou a falar aqui. Sem condições técnicas, sem o mínimo de critério que não se podem, em boa verdade, chamar de documentário. Mas é tendo visto esses filmes que podes falar sobre aqueles que estavam lá, e é assim que podes falar desse critério. Aqui, o que estamos a fazer, é dar uma arma para que as pessoas possam falar sobre aquilo que... INÊS SAPETA DIAS . GRAÇA CASTANHEIRA . Eh pá, eu acho que realmente isto é dificílimo. É dificílimo ter um pensamento crítico, dificílimo. Anyway... Eu estudei, estão a ver? Estudei. Pronto. E eu acho que se deve estudar. A sério. Não se deve fazer e mostrar, e pronto, está mostrado. E para a própria pessoa eu acho que não é bom porque fica convencida de que é um documentarista! E não é! Vá aprender! INÊS SAPETA DIAS . Mas... Mas essas pessoas vão ver o filme dos outros, e vão chegar à conclusão que o filme deles carece de coisas, de aspectos técnicos, de linguagem cinematográfica. Isso não é só escola que dá, também se aprende vendo. PUB (MIGUEL RIBEIRO). INÊS SAPETA DIAS . E um dos aspectos que apareceu nas discussões destes debates que foram fechando cada bloco, foi as pessoas comentarem certos filmes a partir de outros, e tornar-se claro na cabeça dessas pessoas o que é que faltava num filme por terem visto isso que falta extremamente bem explorado e definido noutro filme programado lado a lado. Quer dizer, essa discussão, poder comentar uns filmes a partir de outros, com a presença dos próprios realizadores que podiam aprender com isso, concordando ou não com essas opiniões que apareceram, eu acho que isso é forte. PUB ( JOANA PIMENTA). Eu não sei se vou dizer uma coisa muito clara, também ainda estou um bocado confusa... mas eu não sei até que ponto está muito claro para quem é que o festival está a ser feito. No sentido em que por exemplo quando vou ao Doc Lisboa, um festival com uma selecção muito rigorosa e que já tem um certo glamour, vou lá e já sei que vou ver um bom filme. Aqui venho para ser surpreendida. E não o fui muitas vezes. Tal como a Graça fiquei irritadíssima, sem perceber como é que amigos meus conseguiam estar na sala. PANORAMA ’06 | que panorama? 181 Mas por outro lado, vim cá muitas vezes e fiquei cá muito tempo, e talvez isso tenha contribuído para o cansaço, mas parece-me que o que cansou mais as pessoas, e não tem nada a ver com o documentário, foi a Mostra estar dividida em temas. Acho que cansou muito o espectador ter seis filmes sobre o mesmo assunto. E é por isto mesmo que eu digo que não sei até que ponto o festival está organizado para quem faz documentários nas escolas ou profissionalmente, ou se está feito para que um público venha e conheça e queira ver todo o documentário. É só isto. PUB (LEONOR AREAL). Eu também estive nalgumas sessões e ver maus filmes faz mal à saúde. Fiquei cheia de dor de cabeça, fiquei extremamente irritada, fiz um esforço para ficar até ao fim do filme, e esse tipo de prova é completamente desanimador. Eu acho que deve haver critérios mínimos. Não é uns critérios máximos como há no Doc Lisboa, que eu também acho insensato, mas que haja um número de admissíveis, como um numero clausus, e a partir daí fecham os lugares. FERNANDO CARRILHO. Queria referir que todos aqui queremos trabalhar o cinema. É disso que se trata, aqui. Mas houve também... vou contar uma pequena história, e contra mim vou falar. Num dos dias estava um senhor que chegou ao Panorama trazido pela temática, e andava pelo hall de entrada a coçar a cabeça e quando me viu com a insígnia da organização veio ter comigo e a primeira pergunta que me fez, meio atrapalhado, foi: “mas o que é que vocês entendem por documentário?”. E de seguida disse que havia filmes que o faziam dormir e outros muito interessantes onde aprendia qualquer coisa. Tentei explicar-lhe muito brevemente que não era isso que procurávamos, falei-lhe um pouco do cinema, e do que é a contaminação pela televisão, e que por isso havia certos documentários que de certa forma eram um pouco aulas. E aí ele disse “ah, mas é exactamente isso, esses é que me interessam, com esses eu aprendo”. Isto exemplifica que de facto houve pessoas que vieram pelos temas, para aprender, pelo lado pedagógico, e com isso estávamos a perder o lado do cinema. De qualquer forma com a indignação que ele mostrou quando eu expliquei esses dois campos do documentário, de certeza que foi para casa a pensar um pouco sobre isto que é o cinema documental. Depois de ter dito o que disse no princípio e depois da Graça ter falado, parece-me, não sei se estou a interpretar bem, que ficámos aqui numa espécie de barricada, como se estivéssemos a dizer a mesma coisa, e eu acho que não estamos. E agora apetece-me entrar em discussão com ela também. Em primeiro lugar as questões que levantei não eram só sobre o Panorama. Quer dizer, eram sobre o Panorama, e eram sobre a programação, mas eram também uma tentativa de abrir a discussão para aquilo que alguém dizia no início de aceitar o que foi visto e discutir isso mesmo: o que é que isto nos mostra do documentário em Portugal. E estamos a discutir pouco isso. Se calhar havia tanta urgência em discutir a mecânica da Mostra que vamos ter hoje pouca possibilidade de saltar para fora disso, mas era interessante de facto assumirmos que vimos isto, e perguntar: agora onde é que está o documentário em Portugal? Mas já que se discutiu tanto a Mostra, eu vou voltar ainda aí para tentar precisar algumas coisas. Não tenho só respostas, tenho também perguntas, mas gostava de tornar algumas coisas mais JOSÉ MANUEL COSTA. 182 PANORAMA ’06 | que panorama? precisas. Em primeiro lugar, apesar de eu dizer que acho necessário assumir um critério, ao longo da discussão senti-me muito longe de algumas das coisas que disse a Graça sobre o que é que pode ser um critério. Quando eu digo que é preciso assumir programação, dizê-lo é num certo sentido, uma verdade de Monsieur La Palice, quer dizer, não há mostra sem programação. Não há acto de dar a ver sem programação. Qualquer que ele seja, por mais selvagem que seja, tem programação. Portanto, iludam-se aqueles que pensam que pode haver um espaço onde tudo aleatoriamente vai ser exibido, porque isso nunca acontece, para além do mais nunca há tempo para isso. O que eu digo é que prefiro que se assumam escolhas. Preferia que houvessem programadores que dissessem “apetece-me dar a ver isto”, independentemente da qualidade (e é aqui justamente que eu começo a divergir da Graça), programadores que achassem que havia qualquer coisa de sugestivo, de provocante, de interessante numa obra, ou num pedaço de obra, qualquer coisa. Eu gosto desses gestos de pessoas que propõem que se veja qualquer coisa a que ninguém está a ligar nenhuma, e talvez seja uma coisa interessante, pode estar mal feito, não se ouve o som, mas há uma ideia qualquer interessante, e há alguém que propõe olhar aquilo de outra maneira. E aí, o papel do programador pode ser também, não só o dar a ver, mas também contextualizar, defender. Num certo sentido, e para vos dar já uma possível sugestão prática que não vai resolver nada, só vai baralhar o esquema, eu acho que uma mostra muito aberta podia ser uma semana de vários locais de exibição onde vários grupos, conforme perspectivas diferentes, escolhiam filmes e davam a ver. Se calhar este espaço até dá para isso, não sei. Por exemplo, nesta sala, durante a semana, um grupo de pessoas podia dar a ver coisas numa perspectiva completamente oposta em termos de crivo técnico, ou estilístico, ou temático, em relação àquilo que passa na sala principal. Ou seja, se queremos que seja o espectador a escolher, digamos, se lhe atiramos coisas e queremos que ele escolha, porque não confrontá-lo à partida com propostas se calhar concomitantes, alternativas, no sentido de criar o grande fórum onde a diferença é também marcada pelos programadores? Agora, há aqui um ponto que para mim é crucial. Eu sinto-me muito identificado com o que a Graça diz mas páro num certo ponto. A mim assusta-me imenso a selecção técnica pura e dura. Como aqui já se disse, houve filmes fundamentais na História do cinema português que não se percebiam. Eu, por exemplo, a propósito de um estudo que estava a fazer, voltei a estudar o Rio de Onor do António Campos. O António Campos, quando fez esse que é um dos seus filmes mais importantes, só tirou cópias feitas em reversível sobre reversível. Ou seja, ele filmou em positivo, e a cópia que exibiu foi feita a partir desse positivo. E, rezam as crónicas, que na sua primeira exibição, no Festival de Santarém, não se percebia nada. Não se via a imagem, não se percebia o som. Pronto. Ele passou um ano ou dois a tentar refazer aquilo tudo, e finalmente refez o som e o filme ficou um pouco melhor desse ponto de vista. E no entanto, para mim, esse é um filme importantíssimo dele. Isto é só um exemplo, um fait-divers num certo sentido. E conto-o porque me assusta imenso esse crivo da legibilidade ou do nível técnico, tal como me assusta (e eu não conseguiria definir) a tentativa de definir o critério estilístico ou mínimo em termos de identidade para dizer que qualquer coisa é ou não documentário, ou é ou não é cinema. Mesmo a coisa mais concreta que tu disseste e com a qual me sinto muito identificado por a conseguir identificar em 90% como cinema de que eu gosto e que analisei, de que o plano é a unidade do cinema, mesmo isso pode ser discutido. E o cinema moderno acho que a pôs em discussão. PANORAMA ’06 | que panorama? 183 Eu prefiro, portanto, que haja e que se assumam escolhas, e que elas sejam ditas. Nem que, em última análise, haja um grupo de pessoas que escolhe uns filmes entre tudo o que se fez, aqueles que se querem mostrar, e de preferência vários grupos, e uma Mostra que junte essas várias visões, esta é a especificidade do Panorama, estou perfeitamente de acordo. Aqui tem que haver mais abertura do que a selecção portuguesa do Doc Lisboa ou, por maioria de razão, da programação portuguesa do Doc’s Kingdom. Portanto, quanto mais filmes portugueses se mostram, mais acho que se devem mostrar coisas diferentes. Mas acho que tem de haver escolha. Agora, acho que não se pode, e isso é perigosíssimo, do meu ponto de vista, para aquilo que me leva a gostar de documentário, cair na definição do que é documentário, ou do que dentro do cinema é documentário ou não é. Deste ponto de vista, volto a uma lição de História. Goste-se ou não se goste (eu gosto muito de muita coisa que ele fez, há quem goste menos), um dos autores que estruturaram ou ajudaram a estruturar a própria ideia do movimento documental ao longo do séc.XX foi o Joris Ivens. E há uma frase dele que sempre me ajudou na defesa do que é a liberdade do documentário. Na fase final da vida dele, nos últimos 10 anos, toda a gente fazia retrospectivas e pediam-lhe que desse essa definição, já que ele era o Senhor Documentário na História do Cinema. E a coisa mais concreta que ele conseguia dizer era que o documentário é uma no man’s land entre a reportagem e a ficção. E aquilo que eu mais gosto na frase é precisamente o “no man’s land”, uma terra de ninguém. Porque justamente ele conseguia dizer o que era reportagem e sabia mais ou menos que havia um campo vastíssimo que era a ficção, e o documentário seria uma coisa entre um e outro, e de certa forma era definido pela negativa. Costumo dizer também que não há uma identidade teórica mas há uma identidade histórica do documentário. Podemos dizer o que foi, mas não podemos dizer o que é, e o que vai ser. E o que eu gosto nesta atitude é o documentário poder ser de facto um terreno selvagem, o que tem a ver com o facto de ele nunca ter tido, na sua História, uma indústria, um mercado – e isto é um alerta à navegação actual porque agora há um mercado do documentário, e quando há um mercado começa a haver convenções. Foi isso que permitiu que ele fosse uma espécie de reserva, de retoma de energia e de renovação de ideias na História do Cinema. Portanto, no dia em que começarmos a dizer demasiado o que é o documentário, que na minha opinião seria a mesma coisa que dizer o que é o cinema, estamos a começar a tirar-lhe uma das suas maiores potencialidades, para mim. Tal como no cinema mainstream, quando o mercado cinematográfico era de facto um grande negócio no mundo, em que as convenções deram para todos os lados, a televisão teve de facto, perante o documentário, um papel desastroso a este nível, mas ao mesmo tempo natural. Mas quando começo a ver um, dois, três, cinco filmes que repetem fórmulas, começo a sentir que se está a empobrecer aquilo que foi o documentário, que se está a perder a sua maior riqueza. Portanto, para mim, seria quase sagrado justamente evitar critérios valorativos, critérios de definição de identidade do género. Mas isso não quer dizer que não haja critérios, mesmo que eles tenham de mudar de ano para ano. Dizer que perante um tudo se escolheu um determinado grupo de filmes, e dar a cara por isso. Ou dar a possibilidade, e repito, que haja não um olhar programador, mas vários, em confronto. E mesmo essa área que eu chamo das instalações 184 PANORAMA ’06 | que panorama? poderia (porque não?) conviver aqui, e acho que seria das coisas mais interessantes a fazer porque justamente é daquelas zonas onde se está a jogar alguma interrogação sobre o que vai ser o futuro das imagens em movimento. Finalmente, houve aqui uma frase há bocadinho sobre a questão de ter havido filmes de autodidactas, e eu acho que é preciso dizer o seguinte: autodidacta – e agora se calhar aproximo-me outra vez um pouco mais da Graça – não quer dizer ignorante, não é? Quer dizer, grande parte da História do Cinema foi feita por autodidactas, bem como uma grande parte da História do documentário. No fundo só gerações muito recentes é que aprenderam o documentário na escola. Agora, o auto-didactismo não tem nada a ver com o facto de não se querer, não se ter curiosidade sobre o que já se fez, e sobre as etapas disso. Porque ver é também estimular a curiosidade para repensar o que já se viu, acho que isso faz parte de um trabalho criativo. E portanto eu acho que, não quero insistir mais nisso, e não quero sobretudo confundir as coisas, o auto-didactismo não desculpa ignorância. Depois, isto leva a outra questão – e vou terminar aqui – que é a questão do ensino. Falou-se muito nisso, na necessidade de ensinar. E, de facto, está-se a ensinar documentário em variadíssimos sítios, há cursos, há cadeiras, etc., algumas directamente de produção, outras não (eu, por exemplo, há muitos anos que digo que a cadeira que dou na FCSH-UNL não é de produção. Faço uma mistura entre a História, as ideias e a experiência concreta). O que poderíamos propor, e eu proponho isso para o próximo ano, porque temos andado a rodear o assunto e ainda não o atacámos a fundo, é um debate sobre o que é o ensino do documentário e o que poderá ser. Porque nós não estamos a discutir isso. Eu, por exemplo, conheço indirectamente – porque nunca participei directamente nisso – os Ateliers Varan. E conheço não só pela experiência em Portugal, mas pelo contacto de pessoas que fizeram os Varan em Paris durante alguns anos. E, apesar de, primeiro, ser uma entidade formadora que assenta numa das áreas do documentário que mais me interessou e apaixonou (eles apostam no cinema directo); e apesar da relevância óbvia que tem aquela plataforma de formação para muita gente que passou por lá; eu ouvia descrições de pessoas que relatavam como é que os formadores Varan faziam a sua crítica às obras feitas (“isto pode-se fazer, isto não se pode fazer”) que me gelavam o sangue nas veias. Para mim são tudo o contrário do que é ensinar documentário. Eu sei que isto é complicado, porque parece que não fica espaço nenhum para ensinar documentário, e por isso é que tínhamos de discutir isto com mais tempo. Mas eu acho que o documentário tem que ser justamente o espaço de ensino onde há menos regras. Pode-se dizer o que é que já foi feito e que resultados teve, e tem que se estimular a pessoa a conhecer isso e a interrogar isso. Não se pode dizer “no documentário pode-se fazer assim, não se pode fazer assado”. Em nenhuma área, do meu ponto de vista. GRAÇA CASTANHEIRA. Eu e o Zé Manel raramente estamos de acordo seja no que for, eu até estava a achar estranho ele deixar-se ficar tanto tempo no mesmo bolo. Mas pronto, foram bons, aqueles cinco minutos. PANORAMA ’06 | que panorama? 185 Basicamente eu acho que isto é como a lei do aborto, mais ou menos. Ou seja, a longo prazo o que eu acho é que as mulheres vão deixar de abortar porque têm uma consciência tal que isso deixa de se tornar possível. Mas no entretanto temos que aprovar a lei. Ou seja, o que eu acho é que no entretanto temos de discutir o que é e o que tem sido o documentário. Farto-me de dizer isso nas aulas, de como tudo é possível no documentário. Isso é que é lindo, e isso é que é assustador. Não posso estar mais de acordo com esta noção de inteira liberdade no interior do documentário. No entanto, e a médio prazo, acho que é fundamental discutir o que é que tem sido a identidade básica do documentário/cinema documental, e as relações que o documentário tem de continuar a manter com o cinema, sob pena de se diluir naquilo que é a linguagem televisiva dominante. Ou na linguagem de reportagem que assenta na objectividade criada no séc.XIX, e termos portanto a entrevista A e B que assenta no encontro e não na relação, que assenta na palavra e não no plano. Acho que há uma série de coisas muito pedagógicas, curtinhas, inocentes, que se podem dizer acerca do documentário e que ajudam. Ajudam processualmente. Eu vejo isso nos alunos: quando pegam nestas pequenas diferenças torna-se muito mais fácil atacar a realidade, colocar a câmara, torna-se muito mais fácil construir o documentário. É disso que eu estou a falar. Não estou a falar de limitar, não estou a falar de restringir, não estou a falar de tornar o documentário uma coisa identificável, e identificável segundo os meus parâmetros. Não estou a falar disso. Mas acho que a breve trecho é fundamental discutir estas questões do documentário, e da sua relação com o cinema. PUB ( LEONOR AREAL). Eu também concordo que não se deve ser normativo no campo do documentário, e acho que se podem criar espaços diferentes dentro do grande espaço “Panorama”. Por exemplo, se se pode discutir o ensino do documentário, talvez se possa também criar uma secção dos filmes de escola, que aliás existe em muitos festivais no mundo. A partir daí a discussão que se tem, e a maneira de ver os filmes, modifica-se porque eles não estão a ser cotejados com filmes, digamos, mais amadurecidos. Ou também se podia, por exemplo, criar uma secção de documentário de televisão. E aí, nessa separação, seria propiciada a reflexão que se calhar falta, o amadurecimento da reflexão que talvez tenha estado ausente aqui. PUB ( GONÇALO TOCHA ). Bem, acho que está provada a razão de ser do Panorama: finalmente estamos a discutir critérios de selecção e de qualidade, o que fazia falta. E isto não aconteceria se não se mostrasse a maior parte do que foi feito. Mas, em todo o caso, houve muitas coisas que ficaram de fora porque as pessoas não se inscreveram. Há muitos documentários que não estão cá. Por outro lado, estávamos a ir para um caminho interessante: a discussão em volta da exibição, que é um problema fundamental não só do documentário mas do cinema, e do que convencionamos chamar cinema e documentário alternativo. Portanto, eu considero que esta Mostra é fundamental, foi fantástica porque houve exibições em boas condições. Mas não a considero um evento de carácter alternativo, porque em todo o caso se trataram de exibições institucionais. Portanto, o circuito alternativo – e poderei explicar 186 PANORAMA ’06 | que panorama? depois melhor isso – será talvez outra coisa que está a surgir e que está a mudar a questão da exibição. É qualquer coisa que já está a mudar há alguns anos, e vai mudar sempre a partir do momento em que as pessoas não detêm só as câmaras mas detêm também os projectores de vídeo e podem fazer exibições em espaços não convencionais. Se calhar, assim poderá surgir uma força muito maior nos trabalhos de que o Zé Manel estava a falar, as instalações e os próprios objectos preparados para um certo tipo de contexto de exibição. É totalmente diferente exibir um filme numa sala de 800 lugares... e se calhar é disso que estamos a falar: do que é que queremos ver num espaço destes, e de que nem todos os filmes resultam aqui. E isto é um bocado como as bandas de música que só podem ter força se tiverem espaços para tocar, e espaços diferentes. Também os filmes poderão funcionar assim. PUB ( ANTÓNIO CUNHA ). Não concordo naturalmente que dentro de uma iniciativa se estabeleçam várias secções. Embora concorde, por outro lado (e dá-me ideia de que se trata de uma proposta quase diametralmente oposta), com a sugestão do Zé Manel, de se criarem quase espontaneamente, num mesmo espaço, programações diferentes, espaços alternativos de exibição. Isso agrada-me, francamente, e acho que seria um caminho porventura a analisar, a ponderar. E no que respeita a outra questão de que ambos a Graça e o Zé Manel falavam, de que é necessário talvez definir melhor o que é documentário, conversar um pouco sobre o que é ensinar documentário, eu pela parte que me diz respeito deixo desde já o repto para que organizemos essa discussão quando entenderem. Pela parte da Câmara, e seguramente pela da Apordoc também, estamos mais do que disponíveis para pôr em marcha um congresso, uma reunião, um fim-de-semana, chamem-lhe o que quiserem, sobre o tema. Porque o Fórum da cidade, acima de tudo, é para isso que serve. PUB (LEONOR AREAL ). Porque é que não concorda com a criação das secções? Ainda não explicou. PUB ( ANTÓNIO CUNHA). PUB ( LEONOR AREAL). Não tem explicação. É uma questão de não achar... Assim não posso argumentar, se... PUB ( ANTÓNIO CUNHA). Não, mas não há nada a argumentar, portanto... O que a programação criou também são secções, não é? Por trás daqueles blocos estão critérios de aproximação entre filmes, e esses critérios podem ser temáticos, como estilísticos, de género... PUB (LEONOR AREAL). PUB ( ANTÓNIO CUNHA ). Mas os critérios temáticos são uma forma de olhar. Tudo isto é uma forma de olhar, como também essa sua é uma forma de olhar. E no seu entender ela é óptima, no meu entender ela pode criar 1ª divisão, 2ª divisão, 3ª divisão... JOSÉ MANUEL COSTA. Posso dizer uma coisa? É que eu não concordo com esse tipo de secções mas acho que consigo explicar porquê. E acho que estes blocos também eram secções. Ou seja, há divisões na programação, sempre. Quanto mais não seja por num dia se ver umas fitas, e noutro dia se verem outras. Aquilo que fica ligado porque se viu a seguir cria relações, que já são dife- PANORAMA ’06 | que panorama? 187 rentes daquilo que se vê três dias depois. Muito bem, mas há divisões mais interessantes, mais estimulantes do que outras. A mim, por exemplo, criar a secção dos filmes de escola, não me parece nada estimulante neste tipo de acontecimento. Quer dizer, não estou contra que possa haver mostras de filmes de escola, mas aqui dentro, dentro deste Panorama, ter a secção dos filmes de escola, parece-me claramente remeter esses filmes para um gueto que pode atrair as pessoas que andam na escola por qualquer razão e afastar as outras que vão sempre escolher ver outras coisas. Ou não, mas seja como for não é por serem todos filmes de escola que me interessa vê-los em conjunto. Tal como a mim também não me interessa muito agrupar os filmes pelo nível de acabamento, por exemplo. Não sei se isto ficou claro, mas quando eu no princípio dizia que havia filmes que me tinham afastado completamente da sala, esforcei-me por dizer que não era por uma questão de nível técnico ou de acabamento, era por uma questão de nível conceptual, porque esses filmes repetem coisas que, para mim, feitas hoje, daquela maneira, são tão académicas que não me estimulam nada. Portanto, eu, nesse sentido, prefiro ver um filme pouco acabado mas por onde passa uma ideia qualquer diferente, que faz faísca quando posto imediatamente antes ou depois de um filme se calhar muito importante. Neste sentido: como resolver esta questão? Assumindo justamente a programação. Assumir que programar é escolher. Porque se escolhe o que se mostra e não se mostra, mas também o que se junta. É sempre uma escolha, não há outra hipótese de ver coisas, não podemos chegar aqui e ver coisas se não houver alguém que proponha isso, quanto mais não seja porque faz uma programação diária, e portanto já está a escolher. PUB (LEONOR AREAL). Digamos que esta proposta era uma maneira de tentar conciliar a posição mais da mesa, com a posição de alguns deste lado do público, que querem mostrar os seus filmes, e que acho não ser a posição mais certa, porque qualquer pessoa que faz quer mostrar mas isso às vezes não é o bastante. Mas há maneiras de cruzar critérios. Por exemplo, no Doc Lisboa, os filmes estão organizados por dia com uma unidade, mas pertencendo a secções diferentes (internacional, investigação...). JOSÉ MANUEL COSTA . Não, mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: o filme ‘x’ ao qual eu chamo académico, no sentido de tradicional, feito segundo regras que não foram minimamente questionadas, é um filme que acho que pode perfeitamente passar aqui, mas devia haver alguém que, ao escolhê-lo, não dissesse “eu programo-o porque ele foi feito”. Porque isso não é verdade. Isso é uma mentira. Há muita coisa que vai sendo feita e não vai ser vista aqui. Portanto, eu gostava que alguém dissesse: “ok, eu programo-o aqui, apesar desse lado que tu, Zé Manel, possas achar académico, por causa ‘disto’. E proponho que seja visto juntamente com o outro filme por causa ‘daquilo’”. E aí tudo bem, vamos discutir. Outra hipótese é dar aos criadores um espaço para eles exibirem os seus trabalhos. É uma outra hipótese, como aquelas mostras de super 8 que há agora, em que as pessoas levam as suas coisas e mostram. Isso, acho estimulante. Agora, no espaço intermédio não há nada. Ou seja, a ideia de que um certo filme está aqui porque alguém o escolheu mas não o escolheu, está cá porque existe, isso é que eu acho que é mentira. 188 PANORAMA ’06 | que panorama? INÊS SAPETA DIAS. Mas também pode ser dito que um filme está cá, e está programado com outro, para se falar dum através do outro. Essa também é uma hipótese. JOSÉ MANUEL COSTA. Ok. PUB (LEONOR AREAL). Eu, de qualquer maneira, não só percebi o que disseste, como concordo. Acho que de facto se calhar a melhor solução, e a mais forte, e não apenas aqui mas nas outras mostras também, ou seja, por exemplo no Vídeo Lisboa, ou no Doc Lisboa, é ter uma programação que é assumida – assumida pessoalmente – que é identificada, defendida. E muitas vezes isso não se vê. GRAÇA CASTANHEIRA . PUB (LUCIANA FINA). Mas isso... É ter critérios de programação, que vão para além dos temas e que entrem mais na matéria. INÊS SAPETA DIAS . Que programação? Estão a dizer que... PUB ( LUCIANA FINA ). Estou a dizer critérios de programação, nem sequer estou agora a falar de critérios de selecção. Critérios de programação. Isto é, a ordem com que os filmes são dados, o cruzamento dos dias, podia haver um critério, aí. E a meu ver esse critério também podia ser de selecção, neste caso. Uma selecção não tão apertada como num festival competitivo, será sempre um Panorama. Mas todos os Panoramas, em todos os festivais do mundo, têm um critério mínimo de selecção. Um mínimo que não corresponde talvez ao mínimo que vocês encararam. Isto é, parte-se de um critério e organizam-se os filmes segundo esse critério. Nesse sentido, era o que eu dizia de certa forma nos debates em que participei, os debates sofriam com o escorregar sempre para questões temáticas. O arrumar os filmes por temas tem esse risco, e vai contra a ideia de desenvolvimento de uma cultura do documentário. Porque as pessoas que estão cá, e também as que trazem filmes e que vêm ver, têm vontade de falar sobre outras coisas. O critério pode ser uma boa base para esses debates. MADALENA MIRANDA. Em relação a estas várias questões que estão aqui a ser lançadas, e pegando nesta questão da Luciana, gostava de dar o exemplo de um dos debates de ontem, o debate do “Detrás do Traço”. Basicamente, dentro da nossa lógica de programação, juntámos nessa rubrica vários filmes sobre artistas plásticos. Convidámos o Delfim Sardo, que é um crítico e professor de arte, e a Raquel Henriques da Silva para virem falar disto. A nossa iniciativa foi muito positiva, e falo deste debate porque foi daqueles que nos encheu as medidas, em que o tema deu origem a uma reflexão sobre o cinema e sobre a linguagem. PUB ( LUCIANA FINA ). São artes visuais e a linguagem... MADALENA MIRANDA . Não, não tem a ver com isso. PUB ( LUCIANA FINA ). É o Delfim Sardo... Não, não tem a ver com isso. Ele é óptimo, é verdade, mas fez-nos pensar porque é que os filmes de arte são normalmente monografias celebrativas, por exemplo. MADALENA MIRANDA. PANORAMA ’06 | que panorama? 189 Porque é que quando se filma um artista a trabalhar, se filma o sucesso e não o fracasso, sendo que 90% do trabalho de um artista se baseia no fracasso. Isto para mim são questões sobre o cinema, são questões sobre o meu trabalho como documentarista que eu gostava que tivessem sido colocadas a partir dos temas. E porque os filmes são sobre coisas, e eu acho que também era impensável estar aqui, e juntar pessoas para falar sobre o cinema, e só sobre o cinema, quando nós saímos para a rua foi para filmar coisas que estavam a acontecer, ou que aconteceram, ou pessoas com quem estabelecemos relação, com planos ou com palavra. A realidade existe e supostamente é mais ou menos através dela ou com ela que queremos chegar a algum lado. E portanto, a ideia foi essa, pegar num tema para poder trazer outras discussões ao de cima. Outra coisa que eu gostava de dizer era em relação às escolas: não tivemos muitos professores aqui, a assistir aos filmes. Um professor deve ter a responsabilidade de, ao começar a dar uma matéria nova ou menos nova, perceber o que é que se está a fazer, o que está a acontecer ao nível daquilo que vai trabalhar. O que se passa é surpreendente, porque há filmes muito díspares, e era muito importante que os professores pudessem olhar para eles e discuti-los. Por outro lado acho que dizer que um filme frágil é um filme de escola não é verdade, assim como também não é verdade o contrário. Como é óbvio esta foi uma primeira iniciativa e nós sentimos que ela devia mesmo ser assim. Mesmo, do coração. O nosso critério foi muitas vezes: em caso de dúvida, fica. Porque se calhar, se nos suscita dúvidas, há aqui qualquer coisa para pensarmos. Eu acho que essa ideia do documentário como terra de ninguém continua a ser válida, só que as variáveis tornaram-se exponencialmente maiores. E quando, por exemplo, temos coisas de pessoas que já nasceram com os vídeo clips, e que fazem filmes a pensar no vídeo clip, e que perguntam o que se terá de fazer para aquilo ser mais documentário, isso é terra de ninguém. PUB (JOÃO LUZ). Como é que se constrói uma cinematografia? Daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e o que é que vão ver? O que é que se fez em Portugal, no início deste século, cem anos depois de aparecer o cinema? O que é que aconteceu? Como é que as pessoas integraram o digital? O que é que as pessoas filmaram? Que tipo de filmes fizeram, quem é que fez? Acho que o Panorama mostrou tudo isto de uma maneira didáctica, e de facto houve momentos muito interessantes nos debates, didácticos e pedagógicos. Temos de ter um patamar mínimo para que as pessoas que querem trabalhar nisto consigam perceber qual é o mínimo do que se faz, para não fazer abaixo disso. E talvez o Panorama deva elevar a fasquia para impor esse patamar mínimo. Mas o que está a acontecer a meu ver é das coisas mais saudáveis que podem acontecer no cinema, pôr as pessoas a falar e a discutir – é uma coisa que se faz pouco. Não estiveram cá tantos professores como deviam ter estado, nem alguns realizadores, mas isto é, a meu ver, o mínimo que se pode fazer. E continuo a deixar a pergunta: como é que se constrói uma cinematografia? 190 PANORAMA ’06 | que panorama? FICHA TÉCNICA Este livro é o primeiro volume de três com a transcrição dos debates ocorridos durante as edições do Panorama 2006, 2008 e 2009. TÍTULO Panorama – Mostra de Documentário Português: os debates COORDENAÇÃO, TRANSCRIÇÃO, EDIÇÃO CRÍTICA Inês Sapeta Dias DESIGN Isilda Marcelino IMPRESSÃO DEPÓSITO LEGAL ISBN TIRAGEM CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA I M P R E N S A M U N I C I PA L 284978/08 978-989-95561-1-9 750 ex. Janeiro, 2010 EDITOR CML/Videoteca Municipal de Lisboa O PANORAMA é uma co-produção da Videoteca Municipal de Lisboa, APORDOC – Associação pelo Documentário e EGEAC – Empresa Municipal. Programação e moderação dos debates: Ana Almeida, António Loja Neves, Fernando Carrilho, Inês Sapeta Dias, Madalena Miranda A organização do PANORAMA agradece a todos os realizadores que participaram nos debates, e decidiram mostrar os seus filmes nesta Mostra. Agradece também a todos os convidados que viram e comentaram os filmes programados. E a todos os que tornaram possível a Mostra PANORAMA. PANORAMA ’06 | ficha técnica 191 192 PANORAMA ’06 | abc Panorama – Mostra de Documentário Português: os debates VOLUME PANORAMA ’06 | abc 2 1 2 PANORAMA | introdução PANORAMA ’08 | abc 3 6 PANORAMA ’06 | abc PANORAMA ’08 | introdução 7 Inês Sapeta Dias | edição crítica dos debates do PANORAMA 8 PANORAMA ’08 | introdução debate SOM: a construção de uma substância PROGRAMAÇÃO: José Carlos Schwartz – a Voz do Povo | Adulai Jamanca [52’] A Festa | Joana Cunha Ferreira [48’] Evocação de Barahona Fernandes | José Barahona [22’] Balaou | Gonçalo Tocha [77’] As Duas Faces da Guerra | Diana Andringa e Flora Gomes [100’] Nikias Skapinakis: o teatro dos outros | Jorge Silva Melo [60’] Um Pouco mais Pequeno que o Indiana | Daniel Blaufuks [78’] O Casino | Hugo Maia [13’] Arquitectura de Peso | Edgar Pêra [24’] Ilha da Boa Vida | Mercês Gomes [25’] Homens que são como Lugares mal Situados | João Trabulo [21’] Paisagens Sonoras | Pedro Gil e José Leitão [15’] CONVIDADO: Joaquim Pinto MODERADO POR: Inês Sapeta Dias, Ana Almeida 16.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | som 9 10 PANORAMA ’08 | som EXCERTOS DO TEXTO: A ARTE DO CINEMA SONORO (1938) Rudolf Arnheim O inquérito que se segue foi sugerido pela sensação de mal-estar que todos os filmes sonoros despertam no autor e que não é aplicado pelo aumento do conhecimento do novo meio. É uma sensação de que existe nele qualquer coisa que não está bem; de que se trata de obras que, devido a contradições intrínsecas de base, são incapazes de uma existência verdadeira. Aparentemente, aquela sensação de falta de à vontade é motivada pelo facto da atenção do espectador ser dividida em duas direcções. Dois meios que se degladiam na tentativa de atrair o interesse do público, em vez de unirem os seus esforços para o conquistarem. Como os dois meios se esforçam por exprimir o mesmo assunto num modo duplicado, infere-se uma desconcertante coincidência de duas vozes, cada uma das quais impede a outra de dizer mais de metade daquilo que desejaria dizer. Esta situação prática exigiu um estudo teórico das leis da estética cuja violação tornou o filme sonoro tão pobre. Um tal empreendimento revelava-se tanto mais urgente desde que comecei a suspeitar de que os princípios, geralmente utilizados na discussão do assunto, estariam errados ou, pelo menos, mal aplicados. Atingiu-se o ponto em que as pessoas interessadas se esforçavam, quanto muito, por interpretar a natureza do novo meio, mas tinham deixado de se interrogar, sobre a admissibilidade ou não da sua existência. Na verdade, esta pergunta seria agora considerada ofensiva, derrotista, reaccionária. Parecia-me cada vez mais premente a necessidade de tentar, enfim, resolver o problema. Para o efeito, decidi investigar as condições em que as obras de arte, de uma maneira muito geral, se poderão basear em mais do que um processo – como o da expressão oral, a imagem em movimento, o som musical – e qual a amplitude, natureza e valor de tais obras. O resultado deste exame necessariamente incompleto foi aplicado então ao filme sonoro. O teatro combina a imagem e a conversação com êxito. – Os dois elementos, cuja rivalidade o filme não consegue reconciliar são, naturalmente a imagem e o diálogo. É uma rivalidade surpreendente se nos lembrarmos de que, na vida quotidiana, a fala raramente nos impossibilita de ver ou a vista nos impede de ouvir. Mas, mal nos sentamos diante do ecrã, notamos tais perturbações. Provavelmente reagiremos de maneira diferente por não estarmos habituados a encontrar na imagem do mundo real a espécie de precisão formal que no trabalho artístico – através de dados sensoriais – representa o assunto e as suas propriedades de uma maneira tão clara e expressiva. Normalmente, colhemos da natureza que nos rodeia pouco mais do que ideias vagas, suficientes para a nossa orientação prática. A realidade física modela e reúne coisas e acontecimentos apenas como aproximação de «ideias» puras, autênticas, que estão na base do mundo empírico. A imprecisão da cor, a discordância numa composição linear não interferem necessariamente na nossa percepção quando observamos apenas com fins práticos; e a ausência de pureza literária de uma frase pode não nos impedir de compreender o seu sentido. Por isso, quando, na vida quotidiana, um conjunto desequilibrado de elementos visuais e auditivos não conseguir produzir incómodo, não é razão para nos sentirmos surpreendidos. Pelo contrário, no reino da arte, a expressão incerta de um objecto, a inconsistência de um movimento, uma frase mal construída prejudicarão imediatamente o efeito, o significado, a beleza transmitidos pela obra. É por este motivo que uma combinação de meios sem a suficiente coesão íntima se tornará intolerável. PANORAMA ’08 | som 11 É pouco provável que a associação da imagem em movimento à palavra falada, como tal, seja a causa do desconforto criado pelo cinema sonoro: esta combinação dos dois meios parece sancionada pelo teatro, arte antiga e muito fecunda. Talvez o erro esteja no modo especial como o cinema sonoro emprega esta antiga combinação. Na realidade, o próprio teatro tem sido, de tempos a tempos, acusado de hibridez. Algumas críticas têm salientado que através da sua história, o teatro tem oscilado entre dois processos extremos, ou confiando toda a produção à representação no palco ou apenas ao diálogo. Assim, talvez, o teatro esteja constantemente a tentar resolver um problema interno insolúvel, inclinando--se para uma das duas formas de expressão mais puras, das quais é uma mistura: a simples imagem em acção – como acontece na dança – ou a simples comunicação oral que alcançou recentemente bastante perfeição em certas peças radiofónicas. De facto, esta inclinação do teatro para as formas puras e extremas não provaria necessariamente que a sua combinação é inadmissível. Um dos impulsos artísticos mais importantes deriva do desejo de o homem fugir à perturbadora multiplicidade da natureza e, portanto, procurar representar esta realidade complexa com o meio mais simples. Por esta razão, um meio de expressão capaz de produzir obras completas com os seus próprios recursoss manter-se-á para sempre renitente em qualquer combinação com outro meio. Assim, no teatro, é evidente esta tendência para um meio mais uniforme e, por isso, mais simples – uma tendência para obter efeitos mais elementares e, de certo modo, imediatamente mais impressionantes pela acção visual pura ou pelo diálogo puro. Todavia, o encenador compreende também que, pela combinação do meio visual mais concreto e relativamente mais simples com o processo mais abstracto e complexo da palavra, pode produzir trabalhos mais ricos os quais poderão reproduzir mais completamente a vida humana. Por este motivo, sacrifica-se até certo ponto – um sacrifício que será muitas vezes duro, principalmente para o indivíduo com o bichinho do teatro: impõe ao instinto pelo teatro a sua vontade de actuar como um escravo do trabalho do dramaturgo, concordando em interpretar, em enriquecer, em torná-lo mais tangível. A fim de ter êxito tem contra a sua viva inclinação para o teatro «absoluto», isto é, para a espécie de representação que é pura acção de palco. Vem a propósito referir que esta pantomina resultou estéril sempre que foi tentada e possivelmente assim continuará a ser a menos que seja estirilizada a ponto de transformar-se em dança ou visualmente tão rica que se torne cinematográfica. Paralelismo entre representações completas e representações independentes. – O enriquecimento e a unidade que podem gerar arte a partir da cooperação de vários meios não são idênticos à fusão de todos os géneros de percepção sensitiva típica da nossa maneira de conhecer o mundo «real». Porque, na arte, a diversidade dos vários meios de percepção exige separações entre eles – separações que só uma maior união pode vencer. Seria, evidentemente, absurdo e inconcebível tentar fundir artisticamente os elementos visuais e auditivos do mesmo modo que uma frase se liga à seguinte ou um movimento a outro. Por exemplo, a união existente, na vida real, entre o corpo e a voz de uma pessoa só será válida numa obra de arte se existir entre os dois elementos um parentesco muito mais intrínseco do que o simples facto de estarem ligados biologicamente. O artista concebe e forma a sua imagem do mundo através das propriedades sensoriais directamente perceptíveis, tais como as cores, formas, sons, movimentos. As características expressivas destes objectos de percepção servem para interpretar o sentido e o carácter do tema, cuja essência deve ser manifestada naquilo que pode ser observado. Contudo, neste nível (inferior) dos fenómenos sensoriais não é possível obter-se uma relacionação artística dos fenómenos visuais 12 PANORAMA ’08 | som e auditivos (não é possível colocar um som numa pintura!). Só num outro nível, mais elevado, precisamente ao nível das chamadas propriedades expressivas, é que tal relação é possível. Um vinho tinto carregado pode ter a mesma expressão que o som escuro de um violoncelo, mas não se pode estabelecer qualquer relação formal entre o roxo e o som como fenómenos puramente perceptíveis. Assim, no segundo nível, torna-se artisticamente possível uma fusão de elementos provenientes de reinos sensoriais diferentes. Contudo, uma tal mistura deve respeitar as separações estabelecidas ao nível inferior. Pressupõe, de facto, que em cada uma das áreas sensoriais em causa se formou uma estrutura fechada e completa nesse plano inferior – uma estrutura que, à sua maneira e por si só, deve apresentar o tema completo da obra de arte. Quando, no segundo nível, desaparece a barreira puramente material, os elementos provenientes das diferentes áreas (por exemplo, a visual e a auditiva) devem, no entanto, conservar os agrupamentos e as separações estabelecidos no primeiro nível. Por outro lado, podem tirar vantagem do modo como se assemelham ou contrastam entre si, no que se refere à expressão e, assim, criar inter-relações. Por exemplo, todos os movimentos de um grupo de bailarinos se mantêm unidos entre si e, em conjunto, separados da música que os acompanha. Na estrutura musical, também todos os sons ficam interligados. Mas a semelhança da expressão transmitida pelos padrões das suas áreas sensoriais torna possível combiná-los numa obra de arte unitária. Por exemplo, um determinado gesto dos bailarinos pode assemelhar-se a uma frase musical correspondente em expressão e significado... tal como o gesto do actor pode corresponder ao sentido da frase que profere. A combinação de vários meios de expressão numa obra de arte proporciona-nos um artíficio formal cuja virtude mais importante reside no facto de, no segundo nível estrutural, se ter estabelecido uma relação entre padrões que são completos, fechados e inteiramente independentes no nível inferior ou primário. Além destes dois níveis que menciono pode haver outros superiores – de facto, quase sempre existem – , mas que são menos importantes. Um deles refere-se às características dos objectos representados na obra de arte, no que diz respeito à sua relação com o nosso mundo físico real: por exemplo, as relações práticas, materiais entre o corpo e a voz humana. Este nível está mais perto da vida quotidiana e as relações nele criadas são, por conseguinte, mais evidentes para o nosso raciocínio. Mas o tipo de relação estabelecido a este nível entre padrões de diferentes áreas de percepção não é suficiente para as tornar homogéneas, combináveis ou permutáveis. A sua disparidade no primeiro nível é um entrave pois o que acontece neste nível vai afectar todo o trabalho. (Compreender-se-á que as relações entre elementos do mundo físico podem ultrapassar a simples coincidência no tempo e no espaço. O corpo e a voz de uma pessoa, por exemplo, não são apenas vizinhos acidentais que nada mais têm em comum. Pelo contrário, como pertencem ao mesmo organismo, estão intimamente relacionados também no que se refere à sua expressão – uma semelhança que torna mais significativa a afinidade física desse corpo e dessa voz. Mas nem na arte nem na realidade tal afinidade empírica é sempre acompanhada por uma afinidade de expressão; nem a semelhança de expressão se encontra apenas em coisas empiricamente ligadas). Pode levantar-se a objecção de que a literatura emprega todos os sentidos – vista, ouvido, olfacto, tacto, gosto – tão arbitrária e inseparavelmente combinados como nós os conhecemos na vida quotidiana. No entando, esta objecção só se poderá tornar válida para uma pessoa que acredite que as palavras do escritor não são mais que um processo de despertar, na memória do leitor, imagens de recordações que deverão substituir as sensações perceptíveis directas que o escritor não pode proporcionar. PANORAMA ’08 | som 13 (Diz Schopenhauer: «Para mim, a definição mais simples e correcta de poesia é: a arte de estimular o poder de imaginação através de palavras»). Mas será que realmente a linguagem literária não é superior ao expediente a que, por exemplo, o escritor de argumentos cinematográficos tem de recorrer quando quer descrever as cenas de um filme? Será a palavra apenas transitória, ou será antes a forma final da criação literária? Não consistirá a natureza especial da literatura precisamente na abstracção da linguagem, que chama cada objecto pelo nome colectivo das espécies e, portanto, o define numa forma genérica, sem atingir o próprio objecto na sua concretização individual? É desta particularidade que a literatura retira os seus efeitos mais característicos e vigorosos. A palavra poética refere-se directamente à significação, ao carácter, à estrutura das coisas; daí a qualidade espiritual da sua visão, a agudeza e a concisão das suas descrições. O escritor não está ligado à concretização física de um determinado ambiente; logo, pode associar livremente dois objectos, mesmo que na realidade não sejam afins no espaço e no tempo. E, dado que usa como material, não a sua percepção real mas sim o conceito, pode compor imagens com elementos tirados de fontes sensoriais diferentes. Não tem de se preocupar se as combinações que cria são possíveis ou mesmo imagináveis no mundo físico. Quando Göethe, num dos seus poemas chama ao carvalho uma torre gigante envolta por um manto de nevoeiro, do termo «torre» utiliza só a altura, do «gigante» apenas o volume, do «manto» unicamente a função de cobrir – o que nenhum pintor poderia conseguir. O escritor actua naquilo a que chamei o segundo plano ou o superior no qual as artes visuais e auditivas também descobrem a sua afinidade. Compreedemos agora por que o escritor pode combinar numa unidade autêntica, o sussurro do vento, o deslizar das nuvens, o odor das folhas secas e o contacto dos pingos da chuva com a pele. É verdade que, num certo sentido diferente, o escritor também alcança um nível de concretização imediata de modo a aproveitar-se das suas propriedades animadas. Não nos pode fazer crer, ouvir, cheirar ou sentir as coisas que evoca, mas as palavras que emprega para as classificar são sons, isto é, material auditivo. A expressão transmitida pelas sequências de vogais e consoantes, o ritmo de forças, as ligações e as separações permitem-lhe exprimir num meio diferente e mais concreto do que o som, o que está a dizer ao mesmo tempo por meio de conceitos. Neste sentido, qualquer obra literária, é por si, uma composição e, portanto, sujeita às regras que estamos a explicar. As condições para a combinação de meios artísticos. – Anteriormente afirmei que os meios artísticos se combinam como formas separadas e estruturalmente completas. Por exemplo, o tema a ser expresso numa canção está nas palavras do texto e também, de outro modo, nos sons da música. Ambos os elementos se ajustam um ao outro de modo a criar a unidade total, mas, no entanto, a sua individualidade mantém-se evidente. A sua combinação lembra um casamento feliz, em que a semelhança e a adaptação conduzem à unidade mas em que, no entanto, a personalidade dos cônjuges permanece intacta. Não se assemelha à criança fruto deste casamento, na qual ambos os componentes estão inseparavelmente misturados. De igual modo, na representação teatral a acção visível e o diálogo devem apresentar o tema na totalidade. Se houver uma lacuna num destes componentes nunca poderá ser preenchida pelo outro. O encenador deve interpretar a essência do diálogo, para os olhos dos espectadores, através da cor, forma e movimento, do aspecto e gestos dos actores, da organização do ambiente e da maneira como nele se movimentam as pessoas. A representação visual não pode ser interrompida, a menos que o intervalo, a quebra, não vá dividir a acção, mas faça parte desta. Não se deve permitir que a acção 14 PANORAMA ’08 | som visível se torne inexpressiva ou vazia de sentido em benefício do diálogo pois nem as suas linhas mais substanciais poderão compensar tal deficiência. Do mesmo modo, uma interrupção do diálogo só pode admitir a forma de intervalo; não pode justificar a passagem de uma acção auditível a visível. Pode haver, é claro, o contraste contrapontístico de um descanso na pantomima após uma troca simultânea de réplicas acaloradas no diálogo, ou de um momento de silêncio após a parte mais importante de uma acção pantonímica – mas somente quando a harmonia de um trecho musical é enriquecido pelas frequentes saídas e entradas das várias vozes ou instrumentos. O diálogo deve ser completo. – Já se disse o suficiente para demonstrar que não se justifica o hábito que certos realizadores «intelectuais» têm de apresentar a acção quase inteiramente sob o aspecto visual, introduzindo só esporadicamente o diálogo. Tal processo não cria, evidentemente, um paralelismo entre dois elementos completos, um profundamente visual, e o outro, escassamente auditivo: em vez disso, o diálogo apresenta-se muito fragmentado; compõe-se de bocados separados por intervalos que lhe tiram continuidade. A intenção expressa destes realizadores é realçar o diálogo, em certos momentos culminantes, como uma espécie de condensação da imagem visual. A distinção dos meios é inteiramente descurada e, daí resulta aparecerem subitamente fragmentos de conversação com um efeito cómico de surpresa, num espaço auditivo vazio onde parecem voar à deriva. O defeito não pode ser eliminado com um preenchimento dos silêncios pela música ou ruídos apropriados; pois já verificámos que mesmo no domínio da arte sonora, a música e o diálogo só podem ser combinados quando houver paralelismo entre dois componentes completos e separados – um poema e uma melodia. Se o diálogo não estivesse disposto em fragmentos, mas diluído em grandes conjuntos, cada um dos quais com uma estrutura fechada e contínua, o resultado seria diferente, como, por exemplo, na 9ª Sinfonia de Beethoven, e numa recente tentativa idêntica de Mahler, em que a música instrumental se completa com vozes humanas, de modo que a partir desse momento a obra prossegue numa base mais ampla, mais grandiosa. No entando, no cinema sonoro, mesmo este esquema nada remediaria pois permaneceria o problema no estilo visual da diferença entre as cenas mudas e as completadas com diálogo. Se cortássemos a um filme algumas imagens, para que o diálogo preenchesse o espaço vazio, veríamos que uma verdadeira fusão da palavra e da imagem é impossível nessas condições. A acção visual é sempre completa – se não artística, pelo menos tecnicamente. Esta acção visual completa, acompanhada de algo ocasional, representa um paralelismo parcial, não uma fusão. O defeito fundamental reside na Natureza fragmentária do diálogo (sem dúvida, uma interrupção do diálogo não produz a mesma espécie de choque psicológico que resultaria do desaparecimento súbito da imagem do ecrã. Tal aplica-se porque, psicologicamente, a quebra do diálogo não é tomada como uma interrupção da acção audível, na mesma proporção em que o desaparecimento súbito da imagem do ecrã interrompe a representação visual. O silêncio não é sentido necessariamente como o desaparecimento do mundo sonoro mas como uma forma de o realizar – vazio mas «positivo», tal como o plano recuado de uma fotografia faz parte do enquadramento. No entanto, um fenómeno pode não nos perturbar no sentido puramente psicológico, e ser, contudo, artísticamente criticável). Aqueles fragmentos de conversação têm pouca importância teórica, na medida em que representam apenas uma pequena concessão do realizador que tem de satisfazer os pedidos de diálogo por parte dos produtores e distribuidores. Neste caso, o realizador considera a sua obra um filme mudo, ou seja, PANORAMA ’08 | som 15 um filme na verdadeira acepção da palavra, adulterada por um princípio hostil (impor a conversação ao artista). Todavia, se julga que, por uma simples redução do diálogo, fugindo, deste modo, ao estilo do teatro, se aproxima de uma forma artística nova e autónoma como um «filme falado», revela simplesmente uma falta de sensibilidade profissional. Quanto menos palavras forem utilizadas e mais definida for a acção na imagem da tela, mais perturbantes, estranhos e ridículos nos parecerão os fragmentos de diálogo pois será ainda mais evidente que se está a utilizar o estilo tradicional do cinema mudo – mas sob uma forma adulterada. Paralelamente, a abordagem dos artistas mais modestos que trabalham nos estúdios ao serviço da indústrica do cinema é artisticamente mais honesta. Através do contacto diário com o meio, adquiriam uma compreensão intuitiva das necessidades intrínsecas do cinema e assim – em parte pelo menos – inclinam-se para o «filme 100% falado». Nestas produções, o diálogo acompanha o filme em toda a sua extensão, mais ou menos ininterruptamente, preenchendo, assim uma das condições mais elementares de um meio, nomeadamente o paralelismo. Além disso, no filme típico deste género observa-se uma redução cada vez mais radical dos meios de expressão visual em relação ao cinema mudo. Esta tendência deriva também, como demonstrarei, das condições estéticas criadas pelo cinema sonoro mesmo assim este processo não evita o desiquilíbrio entre a imagem e o diálogo, nem produz filmes falados artisticamente válidos. Pelo contrário, aproxima-se do estilo tradicional do teatro sem ser capaz ainda de renunciar aos novos encantos do cinema. (...) “Características específicas dos vários meios artísticos. – Anteriormente expliquei que a combinação de meios diferentes – por exemplo, imagem em movimento e diálogo – não pode ser apenas justificada pelo facto de, na vida quotidiana, os elementos visuais e auditivos estarem intimamente ligados e, de facto, inseparavelmente fundidos. Tem de haver razões de ordem artística para uma tal combinação: deve servir para exprimir qualquer coisa que não pode ser transmitida isoladamente por um dos meios. Verificámos que um trabalho de composição artística só é possível se as estruturas completas, produzidas pelos meios, estiverem integradas na forma de paralelismo. Naturalmente uma tal «via dupla» só tem razão de ser quando os componentes não traduzem uma mesma coisa. Devem completar-se mutuamente tratando sob aspectos diferentes o mesmo assunto. Cada meio deve trabalhar o assunto à sua maneira e as diferenças resultantes devem estar de acordo com as que existem entre os meios. O facto dos vários processos terem características diferentes foi provado por Lessing em Laocoonte por meio da combinação das artes visuais e da literatura. Para estabelecer uma distinção por exemplo, entre os meios representativos e não representativos compreende-se facilmente que a pintura ou a dança – em contraste com a música – podem transmitir temas subjacentes de um modo mais indirecto e encoberto. A representação está ligada a objectos tangíveis, mas precisamente por esta razão, em maior conformidade com a prática. A música transmite essas ideias mais directamente, mais pura e vigorosamente, mas a sua interpretação, que pode ser feita sem representar objectos, é também mais abstracta e genérica já que exclui a imensidão das coisas e dos acontecimentos concretos. É por isso que a música completa tão perfeitamente a dança e o filme mudo: transmite fortemente os sentimentos e os estados de espírito assim como o ritmo de movimentos que a representação visual gostaria de descrever mas que só lhe é possível com a deformação e confusão consequentes do uso de objectos concretos. 16 PANORAMA ’08 | som Não vale a pena comparar os valores relativos dos vários meios. Existem certas preferências pessoais, mas cada meio atinge a culminância à sua própria maneira. Se considerarmos a literatura o mais completo de todos os meios, não nos devemos esquecer, no entanto, que esta universalidade também tem os seus pontos fracos, geralmente onde os outros meios mostram um vigor especial. Quanto ao conteúdo, a palavra tem o alcance de todos os outros meios juntos: pode descrever as coisas do mundo como estáticas ou em mutação constante; pode saltar com uma facilidade inimitável de um lugar para o outro, deste momento para o seguinte. Apresenta não só o mundo exterior mas também o reino do espírito, a imaginação, a emoção, a vontade. Além de captar estes factos externos e internos em si, a palavra compreende também as relações lógicas e intuitivas que a inteligência humana estabelece entre eles. Pode apresentar objectos em quase todos os graus de abstracção: desde a concretização individual à mais vasta generalização. Pode andar saltitando entre o objecto da percepção e a ideia e satisfazer, ainda, as exigências tanto materiais como as de mais elevado nível espiritual. A sua melhor localização é no campo em que se encontram os fenómenos e as ideias, onde o poeta exerce a sua acção. A acção visual como complemento útil do diálogo dramático. – No extremo da escala, que vai da per- cepção ao conceito, a linguagem não consegue mais que um certo grau de aproximação. Não lhe é possível materializar coisas ao ponto de nos apresentar a sua própria natureza. Pode exprimir a «cor» mas não consegue mostrá-la. Daí, o hábito de completar o diálogo falado com a acção no palco e histórias com ilustrações. Ao mesmo tempo compreendemos que este processo não é necessário. O escritor pode descrever-nos qualquer objecto com o grau de precisão exigido pelo seu objectivo artístico. Uma representação não exige, por conseguinte, encenação – apenas permite. Assim, os cenários e o movimento dos actores deviam deixar humildemente a ribalta ao trabalho dramático que é completo por si mesmo. A criação torna-se realidade no momento em que o poeta tiver terminado o seu trabalho dramático que é completo por si mesmo. A criação torna-se realidade no momento em que o poeta tiver terminado o seu trabalho livremente e sem grandes preocupações. A acção no palco dá forma à visão indirecta transmitida pelo poeta. Cores, formas e ruídos satisfazem os conhecimentos mais simples e elementares dos sentidos do público e o poeta ainda os completa com o som e o ritmo das palavras. O som e a imagem são arte primitiva, e estão mais próximos da natureza do que a interpretação artística. A música, a pintura, a escultura, a arquitectura, a dança e o cinema apelam para a parte mais primitiva do pensamento humano. E, embora esclarecido pela palavra, o homem aprecia esses antigos recursos e a interpretação extremamente simples do que tem para dizer. A imagem mais concreta e antiga, sob o aspecto biológico, pode produzir efeitos mais fortes, pelo que a palavra pode ser prejudicada quando confrontada com ela e principalmente com o cinema. Nas boas produções teatrais pretende abafar-se o natural predomínio da apresentação mantendo-a a uma certa distância dos espectadores e limitando a acção no palco. Não poderia a acção visual tornar-se uma parte integrante da peça? – Em teatro, a acção visual está subordinada ao diálogo; mas não se limita a repetir o que o dramaturgo descreve ou podia descrever. A acção visual, ao apresentar o assunto de uma maneira especial, interdita à literatura, satisfaz uma das condições da combinação de meios. Assim, não será compreensível que, em certos casos, a linguagem constitua um instrumento insuficiente para o escritor de teatro? Não haverá coisas que ele não consiga exprimir por palavras mas unicamente por intermédio da acção no palco, e então sinta necessidade de utilizar ambos os meios? PANORAMA ’08 | som 17 Os dramaturgos incluem, em grau variável, nas suas peças, referências para acção externa no palco. Por outro lado, existe o tipo de poeta que se concentra totalmente na acção interior. A sua única ambição é representar apenas o choque de forças psíquicas através das palavras do diálogo. Existem provavelmente poucos exemplos reais deste caso extremo, embora a peça radiofónica tenha tendência para se desenvolver neste sentido. No extremo oposto, encontram-se os que criam peças baseadas apenas na acção externa – que transformam o dramaturgo num narrador da pantomima. Há dois processos pelos quais o escritor pode introduzir na peça as referências necessárias à acção externa. O processo clássico dos grandes dramaturgos consiste em inclui-las no próprio diálogo. Também encontramos, frequentemente, instruções que descrevem a cena e o que nela se passa. Estas instruções podem ser escassas e breves como nos clássicos, ou – como em certas peças modernas – desenvolverem-se em longas descrições do género das das novelas. No entanto, não são consideradas necessariamente um segundo meio. Não se trata aqui de uma infiltração da acção visual no drama, mas da adopção de técnicas de ficção. Existe uma diferença nítida entre a descrição literária da acção visual e a tentativa de descrever por palavras uma coisa produzida visualmente. No segundo caso, à semelhança do que se passa com a técnica dos argumentistas cinematográficos, as palavras funcionam como um mero expediente. Quando um poeta descreve uma pintura, não cria uma pintura, nem é essa a sua intenção. Por outro lado, a tentativa de outro meio, facilmente poderá revelar-se literariamente absurda, apelando excessivamente para a imaginação visual do leitor, ainda que a descrição provenha de um escritor de talento. Como exemplo vou transcrever um fragmento de G. Ch, Lichtenberg, escritor do século dezoito, que procurou eternizar em palavras a magistral interpretação de Garrick na cena em que Hamlet tem a visão do fantasma do pai. «Garrick roda subitamente sobre si mesmo, enquanto cambaleia dois ou três passos para trás, de pernas afastadas; o chapéu tomba-lhe para o chão; ambos os braços erguidos, em especial o esquerdo; a mão esquerda à altura da cabeça, o braço direito mais dobrado, a mão direita mais descida, dedos afastados e a boca aberta; assim se detém, como paralisado, no meio de um passo não excessivamente grande, amparado pelos amigos que, mais familiarizados com a aparição, temem que ele desfaleça; no rosto transparece-lhe tal horror que me fez estremecer mesmo antes de ele começar a falar». Se houver, portanto, uma verdadeira diferença entre a descrição literária do motivo visual e o registo por palavras de coisas pertencentes a esse meio não literário e visual, não será possível que o escritor sinta a necessidade de completar o diálogo e não apenas aompanhá-lo com uma encenação visual específica? Isto constituiria, de facto, um tipo de arte basicamente novo, porquanto o autor teria de cuidar pessoalmente da produlção visual, pois esta representa «a outra parte» do seu próprio trabalho e a simples «representação» consequente do mesmo. Até aqui os artistas têm preferido o meio único. (...) Através de toda a história da arte, encontramos apenas um exemplo de alguma importância que envolve não só a contribuição secundária de um meio para outro mas, até certo ponto, o esforço colectivo de dois meios: a ópera. No entanto, ao analisá-la, notamos que na prática um dos componentes, o musical, domina nitidamente. De facto, o libreto é um mero veículo para a música. É, muitas vezes, escrito segundo as necessidades do compositor, sendo então, de reduzido valor literário. Não é indispensável à verdadeira essência da ópera e serve principalmente para explicar o enredo e permitir 18 PANORAMA ’08 | som a encenação. (A obra de Richard Wagner aproxima-se de um equilíbrio entre a música e o libreto, mas é tão discutível e tão fortemente influenciada pela teoria que, por si só, não representa um contra-argumento válido). De facto, historicamente, o aparecimento da ópera representa provavelmente não tanto uma união de música e literatura, mas a conquista do elemento dramático pela música, que permanece aliás circunscrito ao estilo lírico. (...) Vale a pena lembrar, aqui também, que os grandes actores preferem muitas vezes peças medíocres que lhes permitam a improvisação e assim dedicar o seu desempenho essencialmente à expressão corporal e à voz; enquanto, por outro lado, o seu génio apresenta por vezes certos perigos para as grandes obras de literatura teatral. Do mesmo modo, os bailarinos e os realizadores de filmes mudos preferem música simples, definida, sem que necessariamente tenha de ser a melhor. Todos estes factos reunidos indicam-nos que, até hoje, os artistas têm mostrado pouca capacidade ou tendência para produzirem obras baseadas genuinamente em mais do que um meio. De facto, nos exemplos referidos, utilizava-se mais do que um processo, mas de uma maneira geral cada pessoa encarrega-se de um meio e uma delas assume o primeiro lugar: o meio dominante desenvolve uma estrutura rica do tema apoiado com mais simplicidade pelo secundário, sem que este seja desprezado ao ponto de se tornar insignificante, ou mesmo sufocado, de modo a não poder atingir o seu objectivo. A arte admite uma hierarquia funcional mas não tolera a atrofia qualitativa dos seus componentes. A hierarquia dos meios numa obra de arte. – Nos trabalhos de composição, os vários meios – assim como os artistas neles envolvidos – parecem formar hierarquias. As produções dramáticas da antiguidade são o melhor exemplo disso. Nelas domina a palavra do poeta, completada pela acção no palco, que descreve largamente os acontecimento dramáticos, e também pela música. As catedrais medievais constituem outro exemplo: a sua estrutura arquitectónica é enriquecida pela pintura e pela escultura. Juntem-se-lhe a presença e a participação do público teatral e da congregação religiosa, e teremos arte como um ritual absorvente e não como o objecto isolado em que vem a tornar-se num estádio posterior da civilização. Como já salientámos, estas produções hierárquicas são, geralmente, obra de várias pessoas e, a fim de conseguir uma verdadeira colaboração de todas elas, é necessário que haja comunidade espiritual, no sentido mais comum: a existência de um culto. O artista individual, por outro lado, tende a conceber o mundo apenas num meio. A cooperação de vários artistas ajuda a vencer a discrepância dos diferentes meios de percepção. Cada artista pode limitar-se a um campo sensorial. O produto final pode resultar especialmente incoerente, se nenhum dos meios se tornar decisivamente dominante, e houver, pelo contrário, um equilíbrio entre dois ou mais deles. Acontece isto, por exemplo, em certas canções. Tal como na ópera, a canção é uma forma essencialmente musical. Mas quando o poema que se transporta para a música consegue suscitar muito interesse, o equilíbrio entre música e poesia altera-se. Esta rivalidade entre os meios pode impedir o ouvinte de tomar um contacto profundo com a obra: pode não ultrapassar a apreciação do encanto formal resultante da combinação de componentes semelhantes embora heterogéneos. Possíveis vantagens do diálogo nos filmes. – Já desenvolvemos certos conceitos que podem ser úteis na apreciação do cinema sonoro. Do que se disse, concluímos, em primeiro lugar, que devia haver sempre um meio dominante. Refiro-me ao cinema, pois que no teatro já existe a predominância da palavra. Resta saber se a arte da imagem animada, que se concretizou no cinema mudo, admite um libreto do género do que a ópera utiliza para proporcionar uma estrutura à acção dramática. PANORAMA ’08 | som 19 Ora, como já vimos, o libreto da ópera (do mesmo modo que os seus predecessores na música religiosa, etc.) conquistou para a música um reino novo e vasto: a música dramática ou o drama musical. No caso do cinema, o diálogo não nos traz um novo tipo de trabalho. Quanto muito, desenvolve o que já existe. Lembremo-nos de que, no cinema mudo, o diálogo, sob a forma de legendas, não era a base nem o ponto inicial do trabalho a partir dos quais as imagens se desenvolviam. Era um mero expediente, incluído com o propósito de explicar os trabalhos formulados e realizados nas imagens. Talvez o diálogo falado não seja até capaz de cumprir esta função humilde, pois o que é útil para a ópera pode ser prejudicial para o cinema. Poderá um artista, isto é, uma pessoa dotada de uma firme sensibilidade para o meio que utiliza, sentir-se por vezes compelido a «transportar» o diálogo «para as imagens» em vez de o criar nelas? Sendo atraído precisamente pela imagem, a conversação pode seduzi-lo como mero expediente técnico para realçar o significado das cenas, evita os rodeios complicados necessários à explicação do enredo e abre um campo mais vasto de assuntos. Ora, de facto, o diálogo permite um grande desenvolvimento da acção externa e, em especial, da interna. Nenhum acontecimento ou estado de espírito pode ser convenientemente transmitido apenas por imagens. Logo, a introdução do diálogo falado tornou mais fácil a narração das histórias. Neste sentido, alguns críticos definiram o diálogo cienmatográfico como uma forma de economizar tempo, espaço e imaginação – uma economia que iria reservar o limitado comprimento do filme e a energia criadora do produtor, para a parte verdadeiramente significativa da obra. Todavia, falta ainda ver se no cinema existe alguma justificação para o género de enredo complicado que encontramos em novelas e peças teatrais. Compreende-se facilmente a razão por que o grande público cinematográfico aplaudiu a introdução do diálogo sonoro. O público deseja apenas participar, o mais totalmente possível, nos acontecimentos emocionantes a que assiste. Ora, de certo modo, a melhor maneira de o conseguir é misturar a acção visual com o diálogo: apresentam-se de um modo concreto, ao sentido da vista, os acontecimentos externos e, simultaneamente, pensamentos, intenções e emoções das personagens, expressos em palavras, na sua forma mais directa e natural. Além disso, a sensação de presencear os acontecimentos é notavelmente realçada pelo som das vozes e outros ruídos. As úncias objecções do público surgem quando o diálogo, muito condensado, não explica bem a acção ou quando, pelo contrário, a acção externa é reduzida, tornando aborrecido o diálogo. De uma maneira geral, são estas as objecções dos entendidos. O diálogo estreita o mundo do filme. – O exemplo da ópera parecia justificar e recomendar o uso do diálogo, mas temos de usar alguns cuidados se quisermos comparar a arte dos sons e a arte do cinema na sua relação com o mundo falado. Uma das principais características do diálogo dramático é que limita a acção do actor humano. Isto serve perfeitamente a música porque, como já dissemos, a ópera foi criada precisamente para apresentar, sob a forma de música, seres humanos em acções dramáticas. É claro que a imagem não precisa do diálogo para apresentar o homem mas, no mundo da visão, a humanidade não desempenha o papel principal que lhe é reservado no palco. É claro que, em certos quadros, as figuras humanas se destacam no primeiro plano; mas, outras tantas vezes, as pinturas mostram-nos o homem como fazendo parte do que o rodeia e que lhe dá sentido e ao qual ele dá sentido. O homem aparece como parte integrante da Criação, de que só artificialmente pode ser destacado. O cinema esteve, desde o início, mais preocupado com o mundo animado pelo homem 20 PANORAMA ’08 | som do que com o homem a destacar-se do mundo. Por isso, parecia intolerável ser limitado pelo diálogo aos desempenhos da figura humana. A apresentação do ambiente natural do homem fôra uma das conquistas que justificaram a existência, ao lado do teatro, do cinema. É claro que os filmes mudos haviam mostrado bastantes vezes os actores em close-ups. Mas, o que era mais importante, haviam gerado uma união de homem silencioso e coisas silenciosas bem como da pessoa próxima (audível) e da (inaudível) que se encontrava distante. No silêncio universal da imagem, os fragmentos de um vaso partido podiam «falar» exactamente da mesma forma como uma personagem falava ao seu próximo, e uma pessoa que se aproximasse, por uma estrada e fosse vista no horizonte apenas como uma mancha, «falava» como alguém que estivesse a representar no primeiro plano. Esta homogeneidade é destruída pelo filme falado: concede a fala ao actor e, como este é o único que a pode ter, todas as outras coisas são empurradas para segundo plano. Ora há um limite na expressão visual que pode obter-se da figura humana, sobretudo se a imagem tiver de seguir um diálogo. A pantomima pura dispõe de três formas para superar esta limitação. Pode desistir de ilustrar enredos e, em vez disso, apresentar o movimento «absoluto» do corpo, isto é, o bailado. Neste caso, o corpo humano torna-se um instrumento das formas melódicas e harmónicas, que são superiores à mera pantomima, como a música é superior a uma (hipotética) arte dos ruídos naturais. Em segundo lugar, a pantomima pode adoptar a solução do filme mudo, nomeadamente, tornar-se uma parte do mais rico universo em movimento. E, finalmente, pode subordinar-se ao discurso dramático – como acontece no teatro. Mas todas estas três soluções estão inacessíveis porque o bailado não precisa de fala e talvez nem sequer a tolere; não pode submergir no gigantesco orbis pictus do filme mudo por causa da sua ligação à figura humana; e não pode tornar-se escravo da fala sem desistir do seu próprio eu. O diálogo paralisa a acção visual. – A fala não só limita o cinema a uma arte de retratos dramáticos, como também interfere na expressão da imagem. Quanto melhor era o filme mudo, tanto mais estritamente costumava evitar a apresentação de pessoas no acto de falar, por mais importante que a fala seja na vida real. Os actores exprimiam-se através da postura e da expressão facial. O significado adicional era fornecido pela forma como a figura aparecia dentro do campo de filmagem, pela luz e, sobretudo, pelo contexto total de sequência e intriga. A contrapartida visual da fala, isto é, os movimentos monótonos da boca, rende pouco e, na verdade, apenas dificulta o movimento expressivo do corpo. Os movimentos da boca demonstram à sociedade que a actividade de falar leva o actor a assumir um comportamento que, em termos visuais, é monótono, desprovido de sentido e, muitas vezes, grotesco. É óbvio que se não pode ligar a fala à imagem imóvel (pintura, fotografia); mas é igualmente inadequada para o filme mudo, cujos modos de expressão se parecem com os da pintura. Foi precisamente a ausência de diálogo que fez com que o filme mudo desenvolvesse um estilo próprio, capaz de condensar a situação dramática. Deixar ou encontrar alguém, ganhar ou perder, ser amigo ou inimigo – todos estes temas eram apresentados nitidamente através de algumas atitudes simples, tais como o erguer da cabeça ou de um braço, ou a vénia de uma pessoa para outra. Tudo isto conduziria a uma espécie de discurso muito «cinegénico», que estava cheio de pequenos acontecimentos e que, com a chegada do filme sonoro, foi substituído por uma representação teatral, pobre em acção exterior mas bem desenvolvida psicologicamente. Isto significa a substituição da figura, visualmente proveitosa, do homem em acção, pela imagem do homem que fala. PANORAMA ’08 | som 21 No que respeita à ópera, não se levantam objecções ao facto de o diálogo centrar a acção em torno da personagem humana; nem quanto à paralização visual do actor. Aquilo que a ópera pretende é, já o dissemos, a expressão musical do homem em acção. Necessita pouco das virtudes expressivas da imagem animada no palco, imagem que tem um estatuto secundário, complementar, interpretativo. O encenador de uma ópera não hesita em parar a acção no palco para destacar as árias longas. Isto dá muito tempo ao diálogo e, na verdade, tempo de mais: as frases têm de ser esticadas e repetidas para obedecerem à música. Assim, o que prejudica o filme não prejudica a ópera. Se, depois de discutirmos as dificuldades teóricas que se levantam no caminho do cinema sonoro, olharmos em volta para vermos se, na prática, a produção cinematográfica desenvolveu soluções satisfatórias, verificamos que o nosso diagnóstico se confirma. Os filmes sonoros médios de hoje em dia esforçam-se por combinar cenas visualmente pobres cheias de diálogo com o estilo tradicional, completamente diferente, da acção muda. Se fizermos a comparação com a época do cinema mudo observamos também um declínio impressionante de qualidade artística, tanto nos filmes médios como nas melhores produções – uma tendência que se não pode atribuir exclusivamente à cada vez maior industrialização. Pode parecer surpreendente que a humanidade deva produzir, em grande número, obras baseadas num princípio que representa um tão radical empobrecimento artístico quando comparado com as formas mais puras existentes. Mas será essa contradição verdadeiramente supreendente numa época em que, em outros aspectos, tanta gente vive também uma vida irreal e não consegue atingir a verdadeira natureza do homem e as suas manifestações apropriadas? Se o contrário se passasse no cinema, não seria essa agradável insconsistência ainda mais supreendente? No entanto, podemos alegrar-nos com o facto de as formas híbridas serem muito instáveis. Têm tendência para perderem a sua irrealidade e se transformarem em formas mais puras, mesmo que isso implique um regresso ao passado. Por detrás da nossa corrida desordenada há forças inerentes que, a longo prazo, vencem o erro e a imperfeição e conduzem a acção humana em direcção à pureza da excelência e da verdade. [texto retirado livro A Arte do Cinema que junta vários textos de Rudolf Arnheim que este juntou no seu livro Film as Art. O livro foi traduzido por Maria da Conceição Lopes da Silva e editado pelas Edições 70 em 1989] 22 PANORAMA ’08 | som INÊS SAPETA DIAS . A nossa mostra começou hoje com o bloco do “som”, onde a programação juntou filmes que, por um lado, usam de uma maneira especial a voz off, filmes onde é a voz que guia a leitura; e, por outro lado, filmes onde a pista sonora é tratada de uma forma particular e relevante, quase independente. Talvez o que una todos estes filmes, assim, no “som”, seja uma certa ideia de dessincronismo, de inter-dependência e problematização da relação imagem-som. Vou começar por pedir aos realizadores que nos falem do seu processo de trabalho. Como é que era o filme antes de começar a ser feito, e que processo levou a este filme que agora pudemos ver. O filme Paisagens Sonoras seguiu-se a um desafio lançado aqui ao mestre [José] Leitão, depois de um workshop ali com o mestre Joaquim Pinto, em Avanca, em 2006. A ideia é antiga e baseia-se em trabalhar o som como substância, como matéria, em vários filmes que se seguirão, e não só neste que passou aqui. Tentamos captar o som de um determinado espaço, e, de certa forma, invertemos as coisas, ilustrando esse som com uma imagem. Tentamos, assim, ser o mais neutro possível na imagem e na montagem, para que o som sobressaia. Basicamente, este foi o ponto de partida e depois de muitas discussões chegámos àquela forma final. Eu lembrei-me, ou consciencializei-me à posteriori, de uma noção ou de um conceito de um filósofo chamado Walter Benjamin: o “inconsciente óptico” – de que ele fala a propósito da fotografia. Para quem não conhece, a ideia é basicamente que com a fotografia se começaram a ver uma série de coisas que não era possível ver com a visão normal. Ou seja, uma objectiva regista tudo o que está à sua frente, e nós fazemos uma selecção daquilo que vemos. Talvez se possa usar este conceito aqui, no caso do som. Muitos daqueles sons que vocês ouviram no filme estão lá, o som é directo, não há manipulação nenhuma, mas ao mesmo tempo há ali uma série de coisas de que nós – nós, que não estamos muito habituados a trabalhar e a sentir o som – não nos aperceberíamos normalmente. JOSÉ LEITÃO. Sim, a ideia era ouvir o que o microfone consegue captar e que é um bocado mais abrangente do que aquilo que a câmara consegue ver. Daí a câmara ter uma grande angular, mas ainda assim não conseguir o que o som consegue. PEDRO GIL [ PAISAGENS SONORAS ]. Não pensei este filme especialmente em relação ao som, ou em relação à imagem. Foi um filme muito intuitivo, que fiz sem escrever nenhum projecto, porque me pediram para fazer um filme sobre o meu avô. Tinha alguns materiais dispersos – fotografias, super 8’s – e depois foram-me chegando imagens de arquivo. E o que foi interessante, agora que penso nisso, em relação ao som, foi que muitas vezes tinha imagens mas não tinha sons. E outras vezes acontecia o contrário: havia cenas em que tinha sons, e não tinha imagens, ou tinha sons que não eram coincidentes com as imagens e que depois acabei por fazer coincidir de uma forma mais ou menos temática. Isto abriu-me algumas perspectivas, porque tive de trabalhar de uma forma pouco usual para mim. Filmei muito pouco para este filme – ele é feito sobretudo de materiais de arquivo. Quando filmamos temos o directo – entrevistas, voz, a acção – e eu neste caso não tinha, o que fez com que tivesse um espectro muito mais alargado para criar e para falar sobre o que estava a acontecer. O filme foi agrupado aqui a um outro filme pelo uso da voz off, neste caso uma voz off pessoal. No meu caso acho que o uso dessa voz foi uma escolha muito intuitiva, não podia ser de outra maneira. Estava a falar de mim e das minhas recordações e portanto, no fundo, sou eu que atravesso o filme. Ao princípio, quando comecei a pensar e a fazer cinema, tinha muita relutância, JOSÉ BARAHONA [ EVOCAÇÃO DE BARAHONA FERNANDES ]. PANORAMA ’08 | som 23 mesmo no documentário, em usar a voz off. Tinha um certo preconceito em relação a dizer coisas de uma forma muito explícita, através da palavra. E... bem, acho que neste caso dei a volta. Achei que podia usar a palavra, e que o texto poderia complementar aquilo que se via, ou aquilo que não se via. Por exemplo, quando filmei a casa de saúde, não podia filmar os doentes por uma questão ética. E descrevê-los e filmar só o jardim acaba por ser uma forma de montagem. E por isto… passei a acreditar num determinado uso da voz off. DIANA ADRINGA [ AS DUAS FACES DA GUERRA ]. Eu vejo-me particularmente aflita para dizer qual foi o meu método de trabalho em termos de som – não percebi porque é que o filme foi englobado em “som”. Se tivesse que ter alguma categoria, acho que este filme que o Flora e eu fizemos poderia ser englobado em algo que se chamasse “narrativa”, por hipótese (embora eu admita que, sim, em cinema uma narrativa é composta de som e de imagem). Classificá-lo-ia também tranquilamente em montagem. Mas onde eu nunca me lembraria de o pôr era em “som”. E com isto não estou a dizer que o som não seja um excelente trabalho feito pela Armanda, apenas não começaria por aí. Eu sou jornalista, provavelmente tudo quanto faço começa com uma história. Começa com a preocupação de como contar uma realidade, e foi assim também que começou este filme. Começou numa primeira ida à Guiné em que reparei que as pessoas me repetiam uma frase do Amílcar Cabral – mas repetiam a sério e não como um chavão –: “nós nunca combatemos os portugueses, nós combatemos o colonialismo. Os portugueses eram nossos aliados, e eram vítimas, também”. Essa foi a primeira coisa que me fez pensar que era preciso fazer um filme, um filme sobre os dois lados. Depois partiu também de uma canção muito antiga, do Bob Dylan, em que ele diz que os alemães também tinham Deus do lado deles. Ou seja, a primeira ideia foi que numa guerra cada um acha certamente que tem razão. Neste caso, da guerra colonial, eu achava que quem tinha razão era o lado que combatia o colonialismo, mas era preciso ouvir os dois lados. Porque há dois lados numa guerra e o que não faz sentido é que só se trate um deles. A segunda coisa que levou ao filme foi ter tropeçado numa pedra que tinha o nome de soldados mortos, dois dos quais tinham morrido no dia em que eu fiz 20 anos. Quando fiz 20 anos era ferozmente – como ainda sou – contra a guerra colonial (só que hoje em dia ela já acabou. Aquela…). E tocou-me que houvesse jovens da minha idade que no dia em que eu estava provavelmente a beber um copo com os meus amigos, estivessem a morrer numa terra que não era deles, em nome de uma ideia de pátria que também, provavelmente, não saberiam qual era. Depois encontrei o Flora Gomes, achei que isto tinha que ter duas... achei que tinha de ter o outro lado, e o outro lado teria que ser o Flora Gomes, que tinha feito um filme extraordinário chamado Mortu Nega, sobre a Guerra Colonial. E o que eu queria contar é que é possível uma guerra unir dois povos em vez de os separar. Portanto, o filme partiu, não de um conceito de som, nem um conceito de imagem, partiu de uma ideia: como é que uma guerra aproxima em vez de dividir? E como é que se conta essa história? Entretanto fomos escolhendo pedacinhos que tinham que entrar. A pedra tinha que entrar, obviamente. Tinha que entrar a história do soldado Fragata que é ferido em combate pelo PAIGC, é salvo pelo PAIGC, e mandado para Portugal, curado pelo mesmo PAIGC. Estas eram as histórias. Depois sabíamos que havia algumas personagens: era preciso mostrar os desertores ou os homens acusados de deserção; e aqueles que tinham tido medo. Era preciso ter 24 PANORAMA ’08 | som aqueles que combateram como verdadeiros combatentes, convictos do que estavam a fazer. E aqueles que punham em causa tudo aquilo que os tinham mandado fazer. A questão foi como é que se organizava a história. A imagem passou por muitas fases. A nossa primitiva ideia foi meter tudo num navio ao largo de Bafatá, e portanto aí o centro era a imagem. É o sítio mais bonito do mundo, para mim, Bafatá. E essa imagem tinha de estar. Púnhamos todos num barco, e os encontros faziam-se naturalmente com as pessoas a entrar e a sair. Isto era muito complicado em termos de produção, e logo os nossos produtores nos disseram “vocês devem estar enlouquecidos, arranjem uma forma mais clássica”. E então a forma mais clássica que encontrámos foi esta. Eu nunca tive nada contra o texto off, acho que se conta bem uma história com texto off, e que pode ser necessário contá-la dessa forma. Tenho tudo a favor da voz das testemunhas, gosto muito da voz humana. Interessa-me ter pessoas a falar de diferentes maneiras, com diferentes sotaques, diferentes tiques de linguagem. E portanto essa parte organizava-se por si. Mais complicado foi, para mim, que sou jornalista e escrevo o menos possível, o mais seco possível, assumir o filme como meu e dar a tal voz pessoal – que aliás só está na entrada. Foi complicado assumir que era eu que queria contar a minha história sobre a minha geração, e assumir esse tom mais pessoal. Depois foi complicado também convencer o Flora Gomes a ler... a falar também. Porque o Flora achava que o português dele podia não ser bem compreensível, que a minha voz era mais bonita... aquelas coisas que as pessoas acham e dizem quando não querem fazer qualquer coisa. Houve depois a dúvida se ele deveria falar crioulo ou não. A minha primeira opção era que sim, mas depois sobrepôs-se toda a vertente prática de ser mais fácil de perceber se estivermos os dois a falar em português. E, de facto, essa língua une-nos e a maneira como os guineenses falam português é tão boa e tão respeitável como a maneira como nós falamos português. E portanto entendemos que devia ser usado o português, e que deviam ser as duas vozes a falar, e a apresentar os dois lados. Foi assim que chegámos aqui. E depois deu-se a minha surpresa quando percebi que vocês tinham escolhido o filme e o tinham posto em “som”. Para mim, som e palavra não são exactamente a mesma coisa, e de facto eu acho que é um filme de palavra e de narrativa. Mas vocês depois vão explicar, sobretudo tu, Joaquim, tens o peso de explicar porque é que o puseram neste sector. HUGO MAIA [O CASINO]. Bom, não sei muito bem por onde começar, porque sou a pior pessoa para falar dos meus filmes. Ao nível do som, a única coisa que interessava era ter o som do que se estava a passar à frente da câmara. E ao princípio pareceu-me uma ideia muito simples, limitar-me a captar o som e a utilizá-lo depois na montagem. Mas isso revelou-se mais complicado, não só por questões técnicas, mas também porque havia uma grande amplitude nos níveis de som – sons muito altos, sons muito baixos – e a maior parte das pistas ficaram queimadas, até. Depois, na montagem, apercebi-me de que a maior parte do som teria de estar dessincronizada, mas isso não me incomodou muito porque achei que essa combinação entre imagem e som transmitia aquilo que eu sentia neste tipo de eventos que reúnem muitas pessoas. A minha preocupação estava sobretudo ao nível da performance do corpo e dos gestos das pessoas, não tanto a palavra delas, ou a voz delas, ou o discurso delas, verbal. Portanto, a emissão de uma opinião não me interessava muito. PANORAMA ’08 | som 25 Foi isto que se passou. Fomos para lá, captámos o som, a imagem, e depois na montagem foi necessário, por razões técnicas e também de estilo, dessincronizar o som nalgumas partes para que se transmitisse aquilo que me parece ser um bocado uma atitude geral neste tipo de eventos onde as pessoas vão e pertencem a grupos diferentes de participantes – há o público popular, há o público VIP – sendo que todos eles têm um comportamento corporal diferente e têm uma forma diferente de estar nessa situação. Depois já vamos conversar mais sobre cada filme. Agora, Joaquim, pedia-te que desses as tuas impressões, lançasses as tuas primeiras perguntas. INÊS SAPETA DIAS. Gostava, talvez, de começar por falar de uma coisa que me sugere concretamente o filme da Diana e o ela dizer que não percebia porque é que o filme dela estava aqui integrado no “som”. Antes de virmos para aqui disseste-me que várias pessoas tinham vindo perguntar se o filme da Diana existia em DVD. JOAQUIM PINTO. INÊS SAPETA DIAS. Sim, alguém perguntou isso. JOAQUIM PINTO. Eu achei a pergunta interessante porque acho que há um problema fundamental que o teu filme levanta: o problema da amnésia nacional sobre uma série de temas. Um desses temas é o da Guerra (e peço desde já desculpa se não falarmos só de som, acho que é fixe se isto for uma coisa mais ou menos livre). E o teu filme levanta uma série de questões que provavelmente farão com que uma série de pessoas tenham vontade de o ver novamente. Mas, enfim, esta atitude de amnésia não tem só a ver com a Guerra. Há uma espécie de atitude de amnésia também em relação ao som. Este país tem uma coisa estranha: às vezes as coisas avançam, depois têm interrupções, têm recuos e... digamos que, na minha opinião, há uma memória sobre o trabalho de som que se perdeu. No período Tóbis do cinema português, a época das comédias, se repararem no genérico dos filmes, na maior parte deles a imagem é feita por portugueses e o som por estrangeiros. Quando o cinema português – esse cinema português, comercial – entra em crise, nos anos 50, essas pessoas desaparecem e não deixam memória. Algumas delas ficaram, e uma inclusive ainda está connosco, o Alexandre Gonçalves que eu julgo que tu terás conhecido ainda na RTP... DIANA ADRINGA . Sim, sim. JOAQUIM PINTO. Mas praticamente a memória tinha-se perdido, desaparece qualquer traço de como fazer som. E, quando eu comecei a trabalhar, no final dos anos 70, início dos anos 80, de certa forma não tinha referências. Por exemplo, como a Diana sabe perfeitamente, na RTP, durante anos e anos, não houve qualquer respeito pelo som. Isto é, um dos grandes problemas dos arquivos da RTP é que há imagem mas não há som. Na altura não havia vídeo portátil, trabalhava-se em filme, em 16mm, e o som era gravado à parte. E essas bobines sonoras eram gravadas e re-utilizadas logo a seguir. Ou seja, quando eu estava no conservatório, trabalhei na RTP, e sabia que as bobines com os sons 26 PANORAMA ’08 | som que eu gravava iam ser apagadas para serem usadas no dia seguinte. E portanto, a memória sonora, na maior parte dos casos, perdeu-se. Desapareceu. E é praticamente impossível de reconstituir. Há uns anos atrás lembro-me de ver já não sei que documentário em que apareciam umas imagens do 25 de Abril de ’74, da RTP, que não tinham som. E na altura consegui mais ou menos refazer o som com gravações da RDP, captadas por repórteres da rádio. Eram sons que não tinham nada a ver com as imagens, mas foi a única maneira de recuperar uma memória sonora aproximada. Portanto, isto para dizer que, ao contrário da prática que hoje em dia é óbvia por se trabalhar em vídeo – ver-se o material de imagem e som ao mesmo tempo (sobretudo se gravarem as duas coisas com a câmara) – no início dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, tinha-se perdido no cinema o hábito de ver projecções síncronas. E tive a sorte de num dos primeiros filmes em que trabalhei, quando o Paulo Branco tinha acabado de chegar a Portugal, o filme do [Raoul] Ruiz chamado O Território (The Territory), a equipa era constituída só por estrangeiros, eu e o Vasco [Pimentel] estávamos a fazer o som, e eles queriam absolutamente ver o material síncrono todos os dias. A única solução na altura era repicar o material – repicagem é passar os originais para filme magnético de 35mm – sincronizar, e ir ver a projecção à Nacional Filmes (A Tóbis não tinha projecção síncrona). Acho que foi o primeiro filme onde trabalhei em que diariamente, à noite, íamos ver o material filmado com som. E de repente apercebi-me aí de uma coisa que já suspeitava mas que mesmo assim foi um choque: percebi que o som directo é uma questão de escolhas. Lembro-me que estávamos a filmar em Sintra, em exteriores, no Inverno, quando havia muito pouca luz ambiente. A NASA tinha criado umas lentes de propósito para o filme Barry Lyndon do Kubrick, umas lentes que permitiam filmar com muito, muito pouca luz. Passado uns anos essas lentes ficaram disponíveis no mercado e este era o primeiro filme que se fazia com elas. Ora, como se estava a filmar com muito baixa luminosidade, a abertura do diafragma era grande (para entrar o máximo de luz possível), a profundidade de campo tornava-se muito reduzida, o que fazia com que essas lentes fossem muito pouco tolerantes em termos de foco. Isto exigia, da parte do assistente de imagem, um trabalho muito preciso em termos de focagem, especialmente porque a maioria das cenas tinha travellings, os personagens moviam-se, etc. E lembro-me então de ficar chocado por perceber duas coisas: em primeiro lugar percebi a relação entre as escolhas da colocação do microfone – ou seja, o que fica mais ou menos timbrado – e o trabalho de foco do assistente de imagem. Percebi que eram dois trabalhos que não podiam estar desligados, e portanto fazer som era uma questão de escolhas. Em segundo lugar… não vos consigo explicar bem, mas senti uma alegria enorme ao ver aquele material síncrono, porque senti que me tinha apropriado de uma corporalidade qualquer daquelas personagens. Senti que o grão da voz dos actores estava lá. Isto é um bocado aquela ideia (de que me apercebi existir por exemplo nalguns sítios remotos em África) de que a câmara rouba qualquer coisa de nós. E a sensação que eu tinha é que, de certa forma, nos tínhamos apropriado de qualquer coisa física daqueles actores, tínhamos pegado em qualquer coisa deles e isso estava ali, no écran, ao vivo. Era a sensação de que eu e o Vasco tínhamos feito qualquer coisa que era justa e estava certa, uma sensação que não se repetiu muitas vezes mais ao longo do meu trabalho posterior (repetiu-se algumas vezes, mas não muitas). PANORAMA ’08 | som 27 Depois desse trabalho, e especialmente depois do filme ter passado em Cannes, e de o Michael Fano (uma das pessoas ligadas ao movimento da música concreta) o ter visto e ter elogiado a banda sonora, seguiram-se muitos convites para trabalhar noutros filmes. E passado uns tempos, talvez em ’82, um bocado na continuação desse processo, fui parar à América Latina, para fazer o som de dois documentários, um na Costa Rica, outro na Nicarágua, para o canal então chamado Sept (que depois se transformou em Arte), na altura em que o estéreo (e em relação ao estéreo, o vosso filme [Paisagens Sonoras] levanta-me muitas questões) estava a começar a ser utilizado na televisão e por isso ninguém sabia muito bem como é que o havia de gravar. Foram os primeiros documentários que eu captei em estéreo, e senti a mesma coisa que no filme do Ruiz, isto é, que tinha nas bobines uma parte da vida daquelas pessoas. E passados uns 20 anos, num documentário que fiz no Arizona, em que utilizei um gravador digital, na altura em DAT, essa sensação não estava lá. Isto é, qualquer coisa se perdeu. E num intervalo de 20 anos tive a sensação de que estava a andar para trás, e de que alguém andava a omitir factos. E porquê? Eu não sei, mas levanto esta questão também em relação aos vossos filmes. O que é que se passou? Tenho um amigo que trabalha numa empresa americana especializada em fazer som de concertos de música clássica e o que ele me diz é que quando vai às discussões sobre desenvolvimento de produtos tem a sensação de que cada vez menos se fala sobre som, e cada vez mais se fala sobre comunicação (no sentido de “informática”, digamos). E há um lado de grande frustração no meio disto, a sensação de que em vez de se andar para a frente se está a andar para trás. Mas eu gostava de perceber o porquê disto. Talvez consigamos chegar lá, porque se ouvirmos... por exemplo, o que é que me marcou em termos de som? Lembro-me do Mépris do Godard, ou o Pierrot le Fou, ambos com som do Antoine Bofanti. E hoje vejo coisas em que nitidamente houve percas. Agora, o que é que se perdeu? É uma das perguntas que eu gostava de colocar aqui. INÊS SAPETA DIAS. Mas antes de irmos aí gostava de te ouvir a falar um bocadinho mais dos filmes ou que fizesses perguntas mais directas aos realizadores que agora estão aqui. JOAQUIM PINTO. Eu tenho várias perguntas a pôr-vos. Mas acho que se calhar o ideal é falarmos todos, não é? Posso? Será que o que se perdeu não foi o facto de o som deixar de ser gravado em separado, e portanto, deixar de ter uma existência autónoma? Como surgiu uma série de equipamentos que gravam som e imagem ao mesmo tempo, deixou de haver o discernimento, e uma percepção diferenciada de um e de outro plano. Não terá isso alterado o próprio trabalho? PUB (LEONOR AREAL). JOAQUIM PINTO. É uma hipótese. INÊS SAPETA DIAS. Mas gostava de, ainda assim, antes de irmos mais para esse lado, e esse tipo de questões gerais, nos centrássemos um bocadinho mais nestes filmes. Há perguntas a fazer aos realizadores? Joaquim, queres ser tu o primeiro... Deixas-me só dizer duas coisas? A primeira é responder a quem muito gentilmente perguntou se o filme está em DVD: sim, está em DVD. DIANA ADRINGA . 28 PANORAMA ’08 | som Depois, eu penso que obviamente uma das coisas que destruiu a utilização do som na televisão, na RTP, foi a passagem do filme para o vídeo. No filme, o som era feito por especialistas, e quando se passou para o vídeo chegou-se à ideia brilhante de que não era preciso saber nada de som, e então muitos antigos motoristas foram reciclados e transformados em operadores de som o que fazia com que muitas vezes não estivessem minimamente atentos ao que estavam a fazer (e isto sem ofensa para esses trabalhadores, porque a culpa não é deles é de quem agarrou neles e os mudou de função). Ainda assim, mesmo no tempo do filme se deitavam fora as bobines, o que tem ver com a fase do ódio à voz humana, que se passou na televisão. Houve uma altura em que cada vez que tinhas alguém a falar desatava toda a gente a gritar “porque é que tens uma cabeça falante?!”, e a televisão tornou-se uma cadência de imagens a passar a grande velocidade com música ou som que não era síncrono. Acho que isto ajudou. E eu, ao contrário de ti, Joaquim, sinto-me neste momento muito mais motivada porque trabalho com pessoas que estão a fazer som a sério e sinto que estão a trabalhar, coisa que durante anos não acontecia – o som era completamente deixado para segundo plano. E quando há pouco disse que não tinha percebido a inclusão do filme no “som” não estava com isto, antes pelo contrário, a pretender diminuir a importância do som. Só acho que neste filme não fiz uma utilização especial do som, o que já me aconteceu fazer. Acho que o som tem uma extrema importância, nomeadamente para dar aquilo de que nós não temos imagem. Não apenas o que fica fora da imagem, mas, nos tais filmes de arquivo, o som tem capacidades únicas em relação a coisas que não se têm ou que nunca foram filmadas. Lembro-me duma coisa que fiz em televisão há muitos anos, em que queria falar (estou sempre a tentar lutar contra a amnésia...) dos massacres feitos em Luanda depois do 4 de Fevereiro. E obviamente não há imagens de massacres feitos por portugueses sobre a população angolana depois de 4 de Fevereiro. E nós pusemos sons. Sons de correrias, sons de pessoas a fugir, sons que nós fizemos em estúdio – aliás divertimo-nos imenso. E o que é engraçado é o número de pessoas que me contou ter visto as imagens quando o filme passou. Essas imagens pura e simplesmente não existem, nunca lá estiveram, o que esteve foi um som que as substituiu, que induziu as imagens. E portanto acho que é extremamente importante trabalhar o som, e acho que esse trabalho pode suprir muito do que não é possível ter de outra forma. A única coisa que achei é que não se passava isso neste documentário. Neste momento, quando vou ao cinema, aflige-me imenso o volume do som. Não sei se é da captação, se é da reprodução, acho que o som está sempre demasiado alto, não se consegue jogar na cabeça com as informações sonoras que estão a chegar, pelo menos na minha não consigo. Já evito ir a certas salas porque não consigo pura e simplesmente suportar o som transmitido. INÊS SAPETA DIAS. Em relação à construção do teu filme (e tenho a mesma curiosidade em relação ao filme do José Barahona), quando falaram, referiram a montagem, falaram sobre as imagens... Pergunto: foi a vossa voz que guiou a montagem? Como é que se processou esse trabalho, entre a voz e a imagem? Foram caminhando em conjunto. A partir de certa altura, pelo menos no meu caso, quando o filme estava mais organizado mentalmente, nós gravámos um texto e montávamos DIANA ADRINGA. PANORAMA ’08 | som 29 tendo em conta esse texto, umas vezes; outras vezes as imagens encontravam-se, compunham-se e entrava depois o texto. O que estava escolhido eram as intervenções das pessoas e as músicas que funcionam também como texto, e que sabíamos onde iriam ficar. Passa por ouvir as entrevistas três mil vezes e saber como é que elas se juntam. É um processo misterioso. JOSÉ BARAHONA . No meu caso... Bem, já agora, como curiosidade em relação ao que estavam a dizer, para o meu filme encontrei imagens de arquivo de 1959 sem som, e tentei ir buscá-lo à rádio, precisamente. Não era o mesmo som, mas foi assim que eu o trabalhei, mesmo não tendo o sincronismo. Especificamente em relação à voz off: foi uma coisa que eu nunca tinha feito, ter as imagens e ir experimentando falar por cima. Não escrevi a primeira versão da voz off, fui falando, e depois então ouvi, escrevi o que tinha gravado, voltei a gravar, voltei a escrever. Foi um processo muito intuitivo, que passou também pela escrita, mas que começou ao contrário. E acho que isto tem a ver com a facilidade trazida pelos avanços tecnológicos, de podermos trabalhar em casa, e fazer maquetes com mais facilidade. Em relação ao que o Joaquim estava a dizer, em relação ao que se perdeu, acho que essa facilidade faz com se percam algumas coisas. Eu também sou técnico de som e sei que há muitos documentários que são filmados sem técnico, porque não têm captação de entrevistas e às vezes parece que não é preciso, e depois tudo é construído a posteriori. As câmaras agora permitem isso, umas com mais qualidade, outras com menos. Muitos de nós já nos deparámos com esse problema, muitas vezes temos câmaras com uma boa imagem, e o som nunca corresponde – porque não é possível – a essa qualidade de imagem. É muito complicado fazer o som sozinho. Agora, isso também permite, em determinados filmes, ir para certos caminhos que de outra maneira não seriam possíveis. Quer dizer, o filme que passou juntamente com o meu hoje de manhã, o Balaou, possivelmente tem um som directo que não poderia existir com um operador de som, e ainda um perchista. Há determinados filmes em que isso pode ser uma opção. Não sei se o Joaquim está de acordo, mas estes avanços tecnológicos e a facilidade que trazem permitem algumas coisas. Perdem-se umas, ganham-se outras... Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação ao som e em relação ao texto. Havia um texto, uma crónica que eu tinha escrito, sobre a pedra. E a minha ideia foi sempre que esse texto (que tinha saído bem, coisa que nem sempre acontece) iria ser aplicado ali. Mas na altura em que estávamos a filmar, obviamente não tinha o texto comigo e não o estava a ler. E, um bocado para conduzir a filmagem para o que queria mostrar, comecei a falar sobre a pedra. Comecei a dizer o nome dos mortos. E quando começámos a trabalhar na montagem esse som era para ser substituído por um outro muito bonito, o tal texto lido em estúdio, muito certinho. E depois chegámos à conclusão que aquela gravação, com o ambiente, com a própria emoção, talvez, de estarmos no sítio, era muito melhor do que pôr-me a fazer uma voz muito mais certa, a ler muito bem um texto provavelmente muito melhor construído do que aquele dito assim sobre a pedra. Optou-se por isso. E no início é o som que conduz a cena. Começa com um plano muito bonito do João [Ribeiro], uma palha que abana, e um som de vento. Foi isso que conduziu o princípio do filme. E acho que esse princípio dá logo a forma, e foi DIANA ADRINGA . 30 PANORAMA ’08 | som daquelas coisas que não podíamos prever, não sabíamos que ia acontecer exactamente assim. E foi a opção de colocar um som menos limpo, menos tecnicamente correcto, mas com um peso diferente, que construiu a entrada do filme. PEDRO GIL. Posso? Eu sou uma pessoa da imagem, venho da fotografia, e agora estou no vídeo por... por aproximação gradual e com interrupções. Mas portanto, de imagem – passo a presunção – acho que sei um bocadinho. E a partir da minha visão de pessoa da imagem, de onde venho e onde me situo, parece-me que não há educação nenhuma para o som, em nenhum aspecto. Nenhum de nós – a não ser as pessoas que se dedicam e estudam som – percebe alguma coisa de som. Zero. Ou ‘-20’. E acho que isso traz consequências, tal como o facto de se pensar que o som funciona como a imagem, que passa pelo mesmo processo de criação e construção (e isto especialmente no caso do cinema ou do vídeo). E falo a partir da minha própria experiência, porque tive essa ilusão que se foi desfazendo através do contacto com pessoas do som. Mas continuo a sentir que muitas pessoas pensam assim, portanto, que se faz zoom com o som, que há uma série de coisas importáveis. É a resposta possível que eu tenho para a tua pergunta, Joaquim. O som é uma coisa muito desconhecida. Há muita ignorância. INÊS SAPETA DIAS.. Hugo, não sei se queres falar também sobre isto? Disseste, no início, que foste assistir à inauguração do Casino, de fora. Como é que, com a pessoa que construiu o som, chegaram àquela ideia de, de repente, se ouvir aqueles sinos por todo o lado? Deixamos de ouvir seja o que for para além desses sinos. Aquilo passou-se exactamente assim? Quais é que foram as escolhas por trás daquele momento? Porque acaba por construir uma sensação muito forte... Houve ali um certo problema técnico. Esse é o som do que está a acontecer. Na realidade as pessoas estão a comportar-se assim, enquanto aquele som se está a ouvir. Mas não está síncrono. HUGO MAIA . INÊS SAPETA DIAS. Mas nunca vemos de onde é que aquilo... Vê-se. Aliás, eu até acho que mostrei demais. Às vezes até me arrependo de mostrar a grua numa determinada parte porque torna-se esquisito, nessa parte o som devia estar mesmo sincronizado, e acho que as pessoas nem percebem o que é que aquilo está ali a fazer. Vê-se alguém a mexer num tambor mas aquilo nem faz muito sentido, portanto mais valia nem estar lá. Durante a montagem comecei por pôr, depois tirei, depois pus outra vez, e houve várias razões que conduziram à decisão final de deixar ficar essa parte. Mas talvez não devesse ter insistido nesse reflexo do local... Até porque este documentário já é o segundo dentro da temática da performance do público num certo tipo de eventos, e durante o primeiro eu tinha aprendido que o que de facto me interessava era a performance das pessoas a assistir e não a dos artistas. Havia lá artistas mas não me interessava a performance deles. HUGO MAIA. INÊS SAPETA DIAS. Engraçado, era a memória que eu tinha. De repente já só ouvia os sinos por todo o lado... PANORAMA ’08 | som 31 Mas todos os sons que estão no meu filme estavam lá na realidade. Agora, o que se passa é que nós filmámos com duas câmaras e o som de uma delas ficou muito queimado, e nessa parte dos sinos só pude utilizar o som da outra câmara. Foi um bocado complicado montar o som do filme para que resultasse uma pista coerente. Mais... o que é que eu posso dizer? Já me perdi... HUGO MAIA . INÊS SAPETA DIAS. Não sei se queres falar sobre a relação entre o que se vê e não se ouve; e entre o que não se vê e o que se ouve. Não sei se pensaste sobre isso quando estavas a montar o filme. HUGO MAIA. Na altura em que filmei... havia um espectáculo. Não é? Aliás, havia vários espectáculos: havia o espectáculo dos VIP’s a chegar, havia o espectáculo que tinha sido organizado para as pessoas se divertirem enquanto não se dava o grande momento histórico da inauguração. E a minha ideia foi captar sobretudo o comportamento corporal das pessoas. Eu acho que gosto do meu filme porque uma vez em que o vi desliguei o som, só para ter atenção à imagem, para perceber uma coisa qualquer técnica, para ver se não havia drops, desligou-se o som para ter mais concentração e gostei do que vi. Mas o som não é acessório. Não está lá como uma coisa acessória, é outro plano. Ou seja, as pessoas estavam a vibrar, a ouvir o som e a olhar para cima, para aquela grua onde estavam os músicos pendurados. E quase que dançavam a ouvir aquilo, com o fascínio. Acho curioso o facto de as pessoas passarem tanto tempo munidas de uma máquina a tentar captar o momento, e nem o verem bem. Devem ver mais a máquina, e com a preocupação do registo não vivem o momento. Acho muito interessante todo esse comportamento corporal e achei que o som tinha de sublinhar isso, e às vezes as pessoas parece que estão a dançar ao som da música, mas na verdade não foi bem assim. Ou foi outro som que fez a pessoa mover, não foi aquele. Mas eu achei que a nível de ambiente, daquilo que estava lá, o filme transmitia a forma certa. O que me fez partir para este filme foi querer perceber como é que as pessoas se juntam para assistir a uma coisa que nem sequer lhes diz muito respeito, e ficam fascinadas com seja o que for que lhes apareça à frente. E, se calhar é bom as pessoas ficarem fascinadas, mas a mim aquilo parece-me uma espécie de religiosidade esquisita. E eu reparo que é qualquer coisa que acontece em imensas situações à nossa volta, até no dia-a-dia. Fiquei muito entusiasmado quando passei naquela zona três dias antes e reparei na tenda onde iam estar os convidados, achei logo que iria ser fenomenal a diferença de comportamentos entre os dois grupos. Ainda tentei ter uma autorização para filmar lá dentro mas não ma deram. De qualquer forma não foi necessário. Até achei melhor filmar de fora porque aquela tenda é uma espécie de preservativo entre o mundo VIP e os populares à volta, achei isso interessante. Houve então a ideia de ter duas câmaras, uma que captasse o público VIP e outra que captasse as pessoas que espontaneamente iriam por lá aparecer. INÊS SAPETA DIAS. É quase uma provocação, mas o Hugo estava a dizer que viu o seu filme sem som. E eu gostava de vos perguntar se vocês, Pedro e José, viram o vosso filme sem imagem. Alguma vez imaginaram o vosso filme a negro? PEDRO GIL . 32 PANORAMA ’08 Tu trabalhaste o som, sem imagem... | som JOSÉ LEITÃO. Mas... não. INÊS SAPETA DIAS. A questão não é tanto se o trabalharam assim, mas se tinham alguma vez considerado a hipótese de fazer um filme sem imagem, só com o som.... PEDRO GIL . A questão é que eu vi tantas vezes a imagem... JOSÉ LEITÃO. Isso não pode ser... Isso é rádio. INÊS SAPETA DIAS. Já foi feito... JOAQUIM PINTO. Se calhar vou pegar nalgumas coisas de que já se falou e tentar fazer um ponto da situação histórico. Eu acho que se nós olharmos para trás, no documentário, há uma marca. E há o antes e o depois dessa marca, que é o filme The conquest of Everest – a primeira vez que se usou um gravador síncrono para fazer um documentário, nos anos ’50. Eu acho que não existe cinema mudo. Isto é, o cinema antes do sonoro pressupõe um som que é imaginado, ou está mesmo lá, enquanto acompanhamento musical. De qualquer maneira há qualquer coisa que falta nesse cinema. E se virmos os documentários feitos antes dessa tal marca, por exemplo as coisas do Rouch dos anos ’40, há som mas não síncrono. Ou seja, há som que foi gravado no local e que foi mais ou menos sincronizado com as imagens, mas onde ainda não se chegou a essa viragem. No depois estou por exemplo a pensar em todo o cinema independente, o documentário americano dos anos ’60, que pressupõe a possibilidade de se gravar som com a mesma mobilidade com que se faz imagem. E talvez outra invenção que mudou profundamente o documentário tenha sido a película em K7. Isto é, em vez de se carregar a película na câmara, passou a haver um magazin que podia ser mudado instantaneamente. O que eu queria dizer com isto é que quando se faz cinema, vídeo, documentário, está-se a trabalhar com instrumentos. Não é exactamente a mesma coisa que escrever um texto onde se tem uma caneta e o papel. Estamos a trabalhar com instrumentos, e eu acho que é preciso tentar perceber com que instrumentos estamos a trabalhar e de que forma os podemos utilizar. Em relação à questão que levantou [Leonor Areal], eu acho que há hoje em dia a ideia de que o som é um dado adquirido. E a imagem também: filma-se e está lá a imagem e está o som. De facto, a possibilidade de se gravarem ambos no mesmo suporte é um dos problemas complicados. Mas, quer dizer, não sou... não sou dogmático em relação a isso. Inclusivamente eu acho que uma única pessoa pode fazer excelentes documentários. Estou a pensar nas coisas do Depardon, feitas com uma câmara de 16mm, um gravador (um Nagra pequeno) e um micro montado em cima da câmara. Há documentários absolutamente extraordinários filmados sem equipa, por uma única pessoa. Agora, eu acho que o importante é não tomar nada – e o som em particular – como dado adquirido. Quer dizer, não há som ambiente de “trânsito”. Há um carro de marca ‘x’, mais um carro ‘y’, uma bicicleta, uma pessoa que caminha da esquerda para a direita... Essa ideia de que há um som, uma massa mais ou menos informe, que é um dado adquirido e que podemos eventualmente PANORAMA ’08 | som 33 manipular, é uma ideia perigosa. A imagem é talvez mais óbvia, o que leva muitas pessoas a pensarem que o som se passa da mesma maneira, que está lá. Muitos de vocês vêm da fotografia, trabalharam em película e em suportes digitais, e conseguem mais ou menos perceber o que há em comum e o que há de diferente entre os dois suportes. No som, quando se fez a passagem do analógico para o chamado digital, as grandes multi-nacionais – basicamente a Sony e a Phillips – venderam-nos a ideia de que o digital seria o mundo perfeito. E as técnicas que usávamos para identificar os problemas do analógico não nos permitiam perceber quais seriam os problemas que o digital nos iria trazer. Porque os problemas não são da mesma ordem. Lembro-me que a primeira vez que fiz som em digital foi na 4ª parte do Soulier de Satin do [Manuel] Oliveira. Foi em ’84, não havia gravadores digitais portáteis, portanto só se podia trabalhar em estúdio, com uns conversores grandes, à parte dos gravadores. Na altura não se conseguia comprar esse equipamento em Portugal, encomendei, veio de Inglaterra, e quando liguei o sistema e fui fazer medidas não queria acreditar. Não queria acreditar! Não havia distorção, a resposta era absolutamente plana, era de facto o mundo ideal. Mas isso não correspondia à minha impressão subjectiva. Havia ali qualquer coisa que não batia certo. E mesmo hoje em dia a comunidade dos “audiófilos” gasta milhares de euros em gira-discos de vinil, e numa agulha não sei quê que permite ouvir não sei que mais, continua a falar-se em termos completamente subjectivos. Eu acho isto muito estranho. Ao fim de 20 anos, ou mais, continuamos a falar de um “som quente, um som...” – fico arrepiado quando oiço esse tipo de apreciações, porque é totalmente possível identificar o que é que não está a bater certo, quais são os problemas. Quando tiramos uma fotografia com uma máquina de 35mm, o que temos na película é de certa forma uma pegada. O que temos numa fita analógica pode ser uma pegada imperfeita, mas é uma pegada da realidade. Ora, o que temos nos sistemas digitais são números. E o que acontece é que com os números não temos mais do que lá temos. Vou tentar explicar doutra maneira. Porque é que acontece esta coisa tão estranha de se irem buscar gravações históricas, e depois se fazem reedições sucessivas? Porque no original analógico consegue-se sempre ir buscar mais alguma coisa. Como vocês sabem todos os sistemas têm uma relação sinal-ruído. Isto é, há um nível máximo a partir do qual não há nada. Na fotografia passa-se a mesma coisa: vocês sabem que a partir de determinada altura é branco, queima, não tem mais nada. E a partir de determinada altura, do outro lado, é preto, não fica nada, também. No som é a mesma coisa, em todos os sistemas. Isto é, vocês têm um limite a partir do qual não se pode ir. Como é que tu dizias que tinhas o som da outra câmara? HUGO MAIA . Queimado. JOAQUIM PINTO. Queimado. E se vocês descerem têm um limite mínimo a partir daí só têm ruído. O que acontece – e é dos fenómenos que eu acho mais estranhos e mais inexplicáveis – é que na gravação analógica por baixo desse ruído há informação. Nos sistemas digitais há um patamar a partir do qual não existe nada. E quanto mais nos aproximamos desse patamar 34 PANORAMA ’08 | som menos definição temos. Ora, o cinema é feito de subtilezas. O som de cinema não é o som de uma banda rock em que o temos sempre no máximo. É um som feito de dinâmica. E o que acontece é que, nos sistemas digitais, quanto mais nos aproximamos do detalhe, menos definição temos, mais duro o som é. E agora queria falar de outra coisa. Desculpem lá estar a lançar tiros em várias direcções... falámos aqui de voz off. Eu acho que... tenho a sorte de já ser um pouco antigo. Antigo no sentido de... o cinema tem quanto tempo? Cento e tal anos, não é? INÊS SAPETA DIAS. JOAQUIM PINTO. Por aí, sim. O som no cinema tem quantos anos? PUB ( LEONOR AREAL). Apareceu por volta de 1930. JOAQUIM PINTO. O que quer dizer que nos anos ’70 algumas das pessoas que tinham inventado as técnicas e os sistemas de som ainda estavam vivas, e ainda era possível bater-lhes à porta e perguntar “porquê”. Hoje em dia não é possível. Há uma espécie de barreira intransponível entre quem concebe e as pessoas que utilizam o material. A quem é que se fazem perguntas? Eu ainda tive a sorte de ir bater à porta de algumas pessoas e perguntar “porque é que isto foi feito assim?”. E isto tem que ver com a voz off: foi dessa forma que percebi que havia duas correntes com filosofias completamente opostas, desde que há som ligado a imagem. Uma das pessoas que eu ainda consegui conhecer foi o senhor Schoeps que estava, digamos, num dos extremos. A posição dele é que o instrumento de captação deve ser absolutamente neutro, deve ser transparente entre a fonte e o receptor. E havia uma outra posição um pouco nos antípodas desta, que era a de que o nosso ouvido não é linear. O nosso ouvido não se comporta linearmente – e todos nós sabemos disso –, é selectivo. Há curvas de sensibilidade que se comportam de forma diferente em relação a diferentes frequências, e o nosso ouvido tem uma espécie de limitador incorporado (todos vocês sabem que se forem a uma discoteca, depois de saírem, durante um certo tempo, a vossa sensibilidade fica mais baixa). Ou seja, a posição oposta ao senhor Shoeps diz que nós não somos neutros, e portanto fazer um instrumento neutro não faz sentido. Esta ideia acabou por chegar ao cinema dos Estados Unidos, e por contaminar depois o cinema europeu, nomeadamente o cinema de autor. E a questão quando se fala de voz off é: que voz off? E como gravar a voz off? O que é a voz off? É uma voz neutra? É uma voz interior? É a voz de uma personagem que está envolvida emocionalmente com a história? Há uma série de vozes off no cinema que não nos saem da memória, não é? Provavelmente todos vocês se lembram de filmes que têm uma voz off que vos marcou. Como é que foi feita? Como é que foi gravada? Voltando a um filme de que falámos há bocado, o Pierrot le Fou, uma das questões que se me punha era como é que o Belmondo foi gravado. E não resisti a perguntar: foi gravado com um micro que nasceu no mesmo ano que eu (portanto, está a fazer 51 anos) e eu trouxe um para se vocês depois quiserem ver. Desculpem lá, vou-vos só mostrar [tira um pequeno microfone de uma mala]... Isto é um micro de fita, já ninguém usa disto nos filmes. Ainda fiz alguns filmes com eles, mas praticamente PANORAMA ’08 | som 35 passou à história, acho até que a partir do ano que vem vai deixar de se fabricar porque vai contra todas as normas antipoluição da União Europeia, por utilizar chumbo. Mas este foi o micro que foi utilizado para gravar essa voz off e foi utilizado de lado. Não foi posto em baixo da boca, nem colocado verticalmente sobre a boca, mas obliquamente. Daí que eu ache que não existe uma voz off, existem muitas vozes off. Por exemplo, o que tu disseste, Diana: disseste que usaste a voz gravada no próprio sítio. Essa pode ser uma decisão tão importante como decidir que micro se vai usar para gravar a voz, e como se vai colocar. PUB ( SÉRGIO TRÉFFAUT). Joaquim, porque é que essa voz foi gravada assim? JOAQUIM PINTO. Este é um micro Beyer 160, com o qual praticamente nenhum dos equipamentos actuais funciona bem. Se vocês ligarem isto a uma mesa de mistura recente, ou mesmo a um interface protools, soa muito mal. Porque tem algumas características... para já é muito difícil de usar porque tem um nível de saída muito baixo, é muito delicado. E o seu princípio de funcionamento... provavelmente vocês já viram aqueles microfones grandes da Billie Holiday, que eram também usados no cinema americano dos anos ’40. O princípio é o mesmo, mas isto é uma versão, digamos, ultra-miniaturizada (ideia do senhor Eugene Beyer, em ’57). O que há nestes micros é um híman, e dentro do híman uma fita que está suspensa nas pontas. E dentro – não consigo ver porque não trouxe os óculos de ver ao perto – estão dois pontos vermelhos que indicam a posição da fita. E como esta é uma versão miniaturizada daqueles microfones grandes, ele usou dois truques para se conseguir ter algum nível com uma fita tão pequena. O primeiro truque foi usar uma fita, não lisa, mas em serpentina, em ziguezague. O segundo truque é que em vez de usar apenas uma, usou duas fitas, uma por trás da outra. O que acontece com estes micros é que eles são tudo menos regulares, em termos de direccionalidade. Se se for virando o micro, ele dá um som completamente diferente consoante a posição em que está a fita. E o que acontece com este micro, se gravares assim, obliquamente em relação à fonte, e que tens, não uma voz off, mas muito mais uma voz interior, a tua voz tal como tu a ouves. Obviamente isto é aproximativo, não estou a dizer que se eu gravar assim fico com a voz que oiço dentro de mim. Mas, a sensação que tu tens é a de uma voz que vem de dentro. Não sei se... o ideal era ouvirmos, mas é um pouco isso... O que eu vejo hoje em dia, precisamente nos filmes americanos, é que há a ideia de que é possível gravar um som limpo e manipular depois. E as pessoas ficam felizes de, com meios mais ou menos artificiais, conseguir um efeito qualquer. Ora, há coisas que, ou consegues na altura, ou é praticamente impossível de reproduzir. Ia-vos pôr uma questão em relação ao vosso filme: como é que vocês gravaram o som? JOSÉ LEITÃO. Com um microfone estéreo ligado à câmara. JOAQUIM PINTO. JOSÉ LEITÃO. E que microfone é? Um NT-4 da Rode. Eu já tinha visto os filmes em casa, em DVD, e hoje voltei a vê-los em projecção. E o vosso filme levantou-me uma questão: como restituir o espaço em função do tamanho JOAQUIM PINTO. 36 PANORAMA ’08 | som do écran? O Rode é um X-Y, portanto, tem duas cápsulas a 90º. É perfeito para a dimensão de televisão. Mas no écran de cinema não funciona exactamente da mesma maneira. E... levantava a questão. Não sei se vocês pensaram nisso, ou se... PEDRO GIL . Pensámos. Há sempre a questão dos meios, não é? JOAQUIM PINTO. Sim. E portanto, houve um compromisso. Isto foi gravado em HDV e portanto o som para MPEG... PEDRO GIL . JOAQUIM PINTO. JOSÉ LEITÃO. Sim, é complicado. Há esse problema. O som está empastelado porque é o som da câmara. PEDRO GIL . Portanto, o som do HDV é pior do que o de DV porque é mais comprimido. Ou melhor, é comprimido enquanto que o de DV não é comprimido. JOAQUIM PINTO. Mas de qualquer das formas os dois são maus. Vou contar-vos uma história... estranha. Tenho um amigo que trabalha no sítio que desenvolveu o formato de compressão MP3. Eles fizeram uma série de testes com vários algoritmos de compressão utilizando uma gravação feita num gravador de K7’s, um Sony TCD10, qualquer coisa assim. Depois reproduziram sem revelar o formato, e evidentemente a K7 tem algum sopro, mas mesmo assim soava melhor do que qualquer um dos sistemas comprimidos. Portanto, se puderem, evitem gravar o som nas câmaras. Sim, sim. Este filme foi uma primeira experiência, já há um outro que ainda não está montado, mas está filmado... este foi uma primeira experiência. A questão são os meios. A questão é fazer com os meios que se tem ou não se fazer. Sou acérrimo defensor da ideia de que só se deve fazer aquilo que se pensa conseguir fazer com determinado nível mínimo. E para mim – estou a falar em nome puramente pessoal – este filme tem esse nível mínimo. Ou seja, eu acho que o som podia ser muito melhor mas atingiu um nível mínimo para eu o aceitar como objecto. É a tal questão: a mim o que me interessava era estimular a recepção sobre o que é o som e como é que nós o sentimos. PEDRO GIL . Há uma coisa interessante: uma das limitações quando se filma em cinema é o tempo dos magazins. Quando se grava em digital pode-se gravar uma hora seguida sem interrupções, o que antes não era possível, porque ao fim de 10 minutos tinha que se mudar as bobines. Há bocado falei-vos de um documentário que fiz no Arizona, em que usei um DAT. Uma das coisas que fiz sempre que pude no tempo que lá estive foi pedir um carro à produção e ir para o deserto gravar ambientes. E então percebi que o ritmo dos ambientes sonoros no deserto não se compadece com uma gravação curta. Isto é, o ritmo a que as coisas acontecem só começa a fazer sentido ao fim de 10/20 minutos, e, por exemplo, faz todo o sentido gravar uma hora com ambiente contínuo. Antes de me ver nessa situação não tinha percebido JOAQUIM PINTO. PANORAMA ’08 | som 37 porque é que algumas pessoas tinham por hábito fazer retiros de meditação no deserto. Só percebi quando de facto cheguei, instalei os microfones e me pus a gravar. E percebi que são ambientes que vão evoluindo. As paisagens sonoras naturais são provavelmente muito mais ricas que paisagens sonoras humanas. Têm muito mais variação. E essas variações fazem sentido na continuidade do tempo. Só voltando um bocado atrás, ao que o Joaquim disse. Lembro-me que quando houve um ciclo na cinemateca sobre o Wiseman, os filmes dele me impressionarem pela humanidade e proximidade que nos permitem em relação às suas personagens. E fiquei muito espantada nessa altura quando ele disse “não faço câmara, faço som”. A partir do momento em que se sabe isso percebe-se que a grande humanidade daquelas imagens está muitas vezes no som off. Muitas vezes a câmara está parada numa pessoa e toda a vida está no som, e no que vem de fora. Por isso é que eu acho muito perigosa esta ideia de que, de facto, a imagem, o som, é tudo igual, basta ligar a câmara e já está. Sou um bocado antiga, também, e não faço nem câmara nem som (agora tenho que aprender a fazer qualquer coisa...). Mas sinceramente acho que para realizar – desculpem estar a dizer isto – é obrigatório os realizadores terem sempre, sempre auscultadores, para ouvirem sempre o que se está a gravar. Uma câmara nunca estará tão perto e sobretudo nunca estará tão atenta aos silêncios (porque apesar de tudo a vida também se faz de silêncio), como um microfone. E portanto, para quem realiza, eu acho que era importantíssimo estar sempre a ouvir. Mas isto é uma opinião pessoal, não sei se o Joaquim concorda. PUB (INÊS DE MEDEIROS). JOAQUIM PINTO. Concordo perfeitamente. Queria só dizer-vos uma coisa... é que nem tudo está perdido. Neste momento em que praticamente toda a gente caminha mais ou menos encarreirada numa direcção, há pessoas que colocam questões, e que tentam perceber o que é que se pode tirar de bom disto tudo. Há umas três semanas atrás recebi um telefonema de um grupo de pessoas em Paris que fazem algoritmos para transmissão de áudio via internet, que são usados pelas televisões, etc.. Eles são verdadeiros cinéfilos, e têm estado a pensar no problema e entretanto fizeram uma mesa de mistura pequena, muito simples, com pré-amplificadores especialmente preparados para estes micros pré-históricos que já ninguém faz. É de certa forma uma mesa híbrida que permite fazer sair o som com a máxima qualidade digital possível para depois ser gravado por exemplo nas câmaras. No fundo é uma espécie de interface que permite recuperar qualquer coisa que se perdeu... E está a gerar imensa discussão entre as pessoas que fazem som em França (se alguém estiver interessado em ver, eu trouxe-a comigo). É estranho, mas ao fim de muitos anos estes micros soam-me outra vez bem. Pronto, era só isto, só para dizer que ainda há pessoas que tentam fazer alguma coisa... nos últimos três ou quatro anos não tenho feito som directo, porque já não tenho – infelizmente – fôlego para aguentar uma rodagem. Tenho feito pós-produção, e neste momento estou a trabalhar com o Chris Price no desenvolvimento de algumas coisas que podem permitir fazer a ponte entre o passado e o presente. Dêem-nos mais uns meses e se calhar vão ter algumas surpresas. 38 PANORAMA ’08 | som debate MONTAGEM I: a supremacia da narração PROGRAMAÇÃO: Pão Nosso | Camilo Azevedo e Sofia Leite [50’] Logo Existo | Graça Castanheira [63’] Uma Vida Nova | Nuno Pires [24’] Longe de mim | Peter Anton Zoettl [77’] O fole – um objecto do quotidiano rural | Carlos Eduardo Viana [32’] Nubai – O RAP Negro de Lisboa | Otávio Raposo [65’] Auto das Velas | Filipa Serejo [23’] Concierges | Andreia Barbosa [52’] Mulheres Traídas | Miguel Marques [55’] Uma História Fugaz | Miguel Clara Vasconcelos [15’] À Flor da Pele | Catarina Mourão [64’] Mana | Márcia Santos [40’] CONVIDADO: Luis Miguel Oliveira (crítico de cinema do jornal Público e programador na Cinemateca Portuguesa) MODERADO POR: Ana Almeida, Inês Sapeta Dias 17.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | montagem I 39 40 PANORAMA ’08 | montagem I OBSERVAÇÕES SOBRE O PLANO-SEQUÊNCIA (1938) Pier Paolo Pasolini (1967) Observemos o pequeno filme em 16mm que um espectador, por entre a multidão, rodou sobre a morte de Kennedy. Trata-se de um plano-sequência; e é o mais característico plano-sequência possível. O espectador-operador, de facto, não realizou quaisquer escolhas de ângulos visuais: filmou simplesmente do lugar onde se encontrava, focando no plano o que o seu olhar – mais do que a objectiva – via. O plano-sequência típico é, por conseguinte, uma «subjectiva». [ricerca no original, que significa pesquisa, investigação; o tradutor opta por esta expressão para jogar com a palavra “objectiva”] No filme possível sobre a morte a morte de Kennedy faltam todos os outros ângulos visuais: o do próprio Kennedy, o de Jacqueline, o do assassino que disparava, o dos cúmplices, o dos outros presentes melhor colocados, o dos polícias da escolta, etc., etc. Supondo que possuíamos pequenos filmes rodados de todos estes ângulos visuais, de que coisa estaríamos em posse? De uma série de planos-sequência que reproduziriam as coisas e as acções reais do momento em causa, vistas simultaneamente de diversos ângulos visuais: quer dizer, através de uma série de «subjectivas». A subjectiva é, portanto, o limite realista máximo de qualquer técnica audiovisual. Não é concebível «ver e ouvir» a realidade no seu acontecer sucessivo senão de um único ângulo visual de cada vez: e este ângulo visual é sempre o de um sujeito que vê e ouve. Este sujeito é um sujeito de carne e osso, porque ainda que nós, num filme de ficção, escolhamos um ponto de vista ideal, e por isso de certo modo abstracto e não naturalista, mesmo esse ponto de vista se tornará realista e, no limite, naturalista, no instante em que a partir dele colocamos em campo uma câmara e um magnetofone: o resultado será algo de visto e de ouvido por um sujeito em carne e osso (isto é: com olhos e ouvidos). Ora a realidade vista e ouvida no seu acontecer é sempre no tempo presente. O tempo do plano-sequência, entendido como elemento esquemático e primordial do cinema, – ou seja: como um plano subjectivo infinito – é assim o presente. O cinema, por consequência, «reproduz o presente». A filmagem em directo da televisão é uma reprodução paradigmática de alguma coisa que está a acontecer. Suponhamos então que possuímos não só um pequeno filme sobre a morte de Kennedy, mas uma dúzia de filmes análogos, todos eles planos-sequência reproduzindo subjectivamente o presente da morte do presidente. No próprio momento em que nós, que mais não seja por razões puramente de documentação (por exemplo, numa sala de projecção da polícia que avança com as suas investigações) víssemos de seguida todos estes planos-sequência subjectivos, que coisa estaríamos a fazer? Estaríamos a proceder a uma espécie de montagem, embora extremamente elementar. E que obteríamos com essa montagem? Obteríamos uma multiplicação de «presentes», como se uma acção em vez de se desenrolar uma única vez diante dos nossos olhos se desenrolasse várias vezes. Esta multiplicação de «presentes» abole, na realidade, o presente, esvazia-o, postulando cada um dos presentes a relatividade do outro, o seu imprevisto, a sua imprecisão, a sua ambiguidade. Observando em função de uma investigação de polícia – interessada o menos possível por qualquer facto estético, e muito interessada, pelo contrário, pelo valor de documentário dos filmes projectados PANORAMA ’08 | montagem I 41 como testemunhos oculares de um facto real a reconstruir com toda a exactidão – a primeira pergunta que faríamos é a seguinte: qual destes filmes me representa com maior aproximação a realidade real dos factos? Foram tantos os pobres olhos e ouvidos (ou câmaras e magnetofones) perante os quais passou um capítulo irreversível da realidade, que se apresentou a cada conjunto destes orgãos naturais ou destes instrumentos técnicos de um modo diferente (campo, contracampo, plano de conjunto, plano americano, primeiro plano, e todos os outros ângulos possíveis): ora, cada um destes modos pelos quais a realidade se apresentou é extremamente pobre, aleatório, quase digno de dó, quando pensamos que cada um deles é apenas um, enquanto são tantos – sem fim tantos – os demais. A partir de todos estes modos é evidente que a realidade, com todas as suas faces, se expressou: disse alguma coisa a quem estava presente (quem estava presente fazendo parte: PORQUE A REALIDADE NÃO FALA COM OUTRAS COISAS SENÃO CONSIGO PRÓPRIA): disse alguma coisa com a sua linguagem que é a linguagem da acção (integrando as linguagens humanas simbólicas e convencionais): um tiro de espingarda, mais tiros de espingarda, um corpo que se abate, um motor de automóvel que pára, uma mulher que grita aos uivos, muitas pessoas que gritam... Todos estes signos não simbólicos dizem que aconteceu alguma coisa: a morte de um presidente, agora e aqui, no presente. E este presente é, repito-o, o tempo das várias subjectividades enquanto planos-sequência, operados dos vários ângulos visuais onde o destino colocou testemunhas, com os seus orgãos naturais ou os seus instrumentos técnicos incompletos. A linguagem da acção é, portanto, a linguagem dos signos não simbólicos do tempo presente e, no presente, todavia, não há sentido, ou, se o há, é subjectivamente, de um modo por isso incompleto, incerto e misterioso. Kennedy, morrendo, expressou-se através da sua acção extrema: a de se abater e de morrer, no assento de um automóvel presidencial pintado de negro, entre os braços débeis de uma pequeno-burguesa americana. Mas esta extrema linguagem da acção com que Kennedy se expressou perante vários espectadores permanece, no presente – em que é percepcionada pelos sentidos e filmada, o que vem a ser a mesma coisa –, suspensa e irrelativa. Como todo o momento da linguagem da acção, é uma busca. Busca de quê? De uma sistematização relativamente a si própria e ao mundo objectivo e, por conseguinte, uma busca de relação com todas as outras linguagens da acção através de que os outros ao mesmo tempo se expressam. Na circunstância, os últimos sintagmas vivos de Kennedy buscavam uma relação com os sintagmas vivos dos que nesse momento se expressavam, vivendo, à sua volta. Por exemplo, os do seu assassino, ou os dos seus assassinos, que disparava ou disparavam. Enquanto estes sintagmas vivos não forem postos em relação entre eles, tanto a linguagem da última acção de Kennedy como a linguagem da acção dos assassinos, são linguagens truncadas e incompletas, praticamente incompreensíveis. Que deverá então acontecer para que elas se tornem completas e compreensíveis? Que as relações que precisamente procuram, quase tacteando e balbuciando, possam ser enfim estabelecidas. Mas não através de uma simples multiplicação de presentes – como a teríamos se justapuséssemos os diversos planos subjectivos –, pelo contrário: só através da respectiva coordenação de planos. A sua coordenação não se limita efectivamente, ao contrário do que se passa na justaposição, a destruir e a esvaziar o conceito de presente (como na hipotética projecção de vários pequenos filmes, passados uns a seguir aos outros nos gabinetes do FBI), mas a tornar o presente passado. Somente os factos acontecidos e acabados são coordenáveis entre si, e portanto adquirem um sentido (como tentarei mostrar melhor adiante). 42 PANORAMA ’08 | montagem I Agora façamos ainda outra suposição: a de que entre os investigadores que viram os vários, e infelizmente hipotéticos, pequenos filmes, uns a seguir aos outros, se encontre um espírito de análise genial. O seu génio não poderia consistir senão no aspecto da coordenação. Incluindo a verdade – por análise atenta dos vários fragmentos... naturalistas, formados pelos vários pequenos filmes – estaria à altura de a reconstituir, e como? Escolhendo os momentos verdadeiramente significativos dos vários planos-sequência subjectivos, e descobrindo, por isso, a sua ordem de sucessão real. Tratar-se-ia, em palavras pobres, de uma montagem. A seguir a este trabalho de escolha e de coordenação, os vários ângulos visuais dissolver-se-iam, e a subjectividade, existencial, daria lugar à objectividade; já não haveria os pares comoventes de olhos-ouvidos (ou de câmaras-magnetofones) captando e reproduzindo a realidade fugidia e pouco dócil, mas em seu lugar surgiria agora um narrador. Esse narrador transforma o presente em passado. Daqui resulta que: o cinema (ou melhor, a técnica audiovisual) é substancialmente um plano-sequência infinito, como exactamente o é a realidade perante os nossos olhos e ouvidos, durante todo o tempo em que nos encontramos em condições de ver e ouvir (um plano-sequência subjectivo infinito, que acaba com o fim da nossa vida): e este plano-sequência, em seguida, não é mais do que a reprodução (como já repeti várias vezes) da linguagem da realidade: por outras palavras, é a reprodução do presente. Mas a partir do momento em que intervém a montagem, ou seja: quando se passa do cinema ao filme (cinema e filme que são, por conseguinte, duas coisas muito diferentes, como a langue é diferente da parole [língua é diferente da palavra ou da fala ]), sucede que o presente se torna passado (houve, quer dizer, entretanto coordenações entre as várias linguagens vivas): um passado que, por razões imanentes ao meio cinematográfico, e não por escolha estética, tem sempre o modo do presente (e é por isso um presente histórico). Chegado a este ponto tenho que dizer o que penso da morte (e deixo livres os leitores de se interrogarem sobre o que terá isso a ver com o cinema). Tenho dito várias vezes, e todas elas mal, infelizmente, que a realidade tem uma linguagem sua – exactamente: uma linguagem – que, para ser descrita, precisa de uma Semiologia Geral, que por enquanto nos falta, até simplesmente como noção (os semiólogos observam sempre objectos distintos e bem definidos, ou seja: as várias linguagens, sígnicas ou não, existentes; não descobriram ainda que a semiologia é a ciência descritiva da realidade). Esta linguagem – já o disse, e sempre mal, como vimos – coincide no que se refere ao homem com a acção animal. O homem expressa-se aqui sobretudo através da sua acção – a não entender numa acepção meramente pragmática – porque é com ela que modifica a realidade e actua sobre o espírito. Mas esta sua acção tem falta de unidade, quer dizer de sentido, enquanto não se encontra concluída. Enquanto Lenine estava vivo, a linguagem da sua acção era ainda em parte indecifrável, porque permanecia ainda em estado de possibilidade, e era assim modificável por eventuais acções futuras. Em suma, enquanto tem futuro, ou seja uma incógnita, um homem permanece por expressar. Pode acontecer que um homem honesto, com sessenta anos, cometa um crime: esta acção condenável modifica todas as suas acções passadas, e ele mostra-se doravante diferente do que sempre foi. Enquanto eu não morrer, ninguém poderá garantir conhecer-me deveras, ou seja: poder dar um sentido à minha acção, que, por isso mesmo, equanto momento linguístico, permanece mal decifrável. É assim absolutamente necessário morrer, porque enquanto estamos vivos, falta-nos sentido, e a linguagem da nossa vida (com que nos expressamos e a que, por conseguinte, atribuímos a máxima PANORAMA ’08 | montagem I 43 importância) é intraduzível: um caos de possibilidades, uma busca de relações e de significados sem solução de continuidade. A morte realiza uma montagem fulminante da nossa vida: ou seja escolhe os seus momentos verdadeiramente significativos (e doravante já não modificáveis por outros possíveis momentos contrários ou incoerentes, e coloca-os em sucessão, fazendo do nosso presente, infinito, instável e incerto, e por isso não descritível linguisticamente, um passado claro, estável e certo, e por isso bem descritível linguisticamente (no âmbito precisamente de uma Semiologia Geral). Só graças à morte, a nossa vida nos serve para nos expressarmos. A montagem trabalha deste modo sobre os materiais do filme (que é constituído de fragmentos, longuíssimos ou infinitesimais, de um grande número, como vimos, de planos-sequência e de planos subjectivos infinitos) tal como a morte opera sobre a vida. [incluído no livro Estéticas do Cinema, com organização de Eduardo Geada] 44 PANORAMA ’08 | montagem I Este é o primeiro debate dedicado à montagem. E obviamente nenhum destes filmes se esgota neste tema, esta foi apenas uma maneira que nós encontrámos para iniciar uma abordagem e começarmos a pensar sobre eles. Neste caso, os filmes convocam, para nós, uma montagem que pega nos elementos e no material para tentar contar uma história ou várias histórias. Se calhar começo por passar o microfone aos realizadores, perguntando o que é que eles pensam de o filme estar nesta nossa secção, e pedindo que falem um pouco da história da sua realização: que distância existe entre o objecto que se propuseram fazer e o filme que vimos hoje na sala? ANA ALMEIDA . CATARINA MOURÃO [ À FLOR DA PELE ]. Não sei como é com os outros realizadores, mas eu acho que o filme a que uma pessoa se propõe no início raramente é aquele a que se chega no final. É um processo gigante e os filmes dão voltas e às vezes, no fim, chegamos à proposta inicial, mas acho que muitas vezes, ou quase sempre, não. Neste caso o filme nasceu de um desafio do Rivoli e inicialmente seria sobre futebol. Mais concretamente, sobre a forma como um bairro social e um grupo de crianças vive o fenómeno do futebol. E acabei por me desviar completamente disto, intencionalmente a partir de certo momento – foi qualquer coisa que já senti na rodagem, mas que se tornou muito mais clara na montagem. Tive a preocupação de filmar todos os jogos, mas progressivamente a minha atenção começou a prender-se mais com os pequenos detalhes, as pequenas situações que estavam ali, a 1,5cm para lá dos jogos. E na montagem isto tornou-se muito mais claro. É engraçado o filme aparecer neste debate, porque foi montado só por mim. Inicialmente porque o filme não tinha dinheiro, mas depois mesmo por opção: começou a dar-me gozo trabalhá-lo na montagem. E, claro, à medida que as versões se iam modificando, a questão era que peso dar ao futebol, e que peso dar aos miúdos. Houve até uma altura em que achei que ia tirar completamente os jogos, e aquilo podia ser em 2004 ou em 2008, mas depois não, achei que era importante voltar ao futebol. Todas estas questões foram muito ponderadas durante a montagem, que tem esse lado em última análise perigoso de podemos estar eternamente no jogo de fazer e refazer... sobretudo hoje em dia. Não sei se as pessoas têm consciência disso, mas apesar de tudo com o final cut e um computador podemos estar eternamente a trabalhar a montagem. GRAÇA CASTANHEIRA [ LOGO EXISTO]. É a minha vez? Oh, diabo... é que eu confesso que o Logo Existo é um filme de que eu hoje em dia tenho alguma dificuldade em falar. Porque já passou algum tempo, e porque foi um filme para mim muito difícil de fazer e o que eu posso dizer acerca da montagem, ou acerca da distância que há entre o objecto que eu queria fazer e aquele que fiz, é que não há uma distância tão grande quanto isso. A minha intenção era mesmo fazer uma reflexão em torno daquelas questões. Aquilo que para mim foi mais difícil na mesa de montagem foi fazer o que era fundamental que era pôr-me a mim no filme. E isso implicava a gravação da minha própria voz e a sua colocação sobre as imagens, e ver como é que funcionava – isso foi difícil. Em relação à montagem em si acho que o final cut, como a Catarina diz (nós no início estávamos aqui a dizer que um debate sobre a montagem iria forçosa e quase exclusivamente ser um debate sobre o final cut), o facto da montagem se ter tornado tão linear é um facto que apresenta PANORAMA ’08 | montagem I 45 vantagens colossais, se bem que eu tente, por uma questão de disciplina, viver numa lógica não digital. Ou seja, procuro cada vez mais filmar menos, e pensar que o facto de a câmara estar em on significa que eu estou a gastar dinheiro, como se faz em película. E da mesma maneira, na mesa de montagem, procuro ter uma estrutura que me permita depois não andar completamente às aranhas. Sou um bocadinho aristotélica a montar, procuro fazer uma coisa que tenha actos (1º acto, 2º acto, 3º acto...), procuro extrair de cada local onde estive, de cada entrevista, o melhor material possível e coloco-o na timeline de acordo com a lógica inicial que previ. Esta metodologia foi qualquer coisa que encontrei ao fim deste tempo e de alguns documentários, e que faz com que a coisa corra bem e eu não fique perdida. Acho que há sempre um momento em que nos sentimos perdidos, no filme. É inevitável. Perdidos e a achar que aquilo é tudo muito mau. E acho que esta foi a maneira que eu encontrei para me defender dessa fase. É que, se aquilo ao menos tiver uma estrutura, eu sei que não vou tão a baixo com o material. Eu não vou revelar nenhum segredo, como a Graça. Não sei... não me sinto assim tão à vontade com o processo de montagem e acho que a montagem tem muito mais segredo do que as filmagens. MIGUEL CLARA VASCONCELOS [UMA HISTÓRIA FUGAZ]. No documentário eu filmo aquilo que consigo filmar. Às vezes as coisas acontecem e tenho a câmara virada para outro lado, fico chateado; outras vezes tenho a sorte de estar a filmar aquilo que é mais interessante. Mas a montagem, pelo contrário, é de facto um processo pessoal, de reflexão sobre a porcaria toda que filmei, e de procura de uma história. Concordo com a Graça, há um momento em que nos sentimos perdidos. Para mim, esse momento é quando vejo pela primeira vez o material. E depois vai surgindo qualquer coisa, uma espécie de... história secreta das imagens. Ou seja, eu sei que tenho de contar uma história, que é a história visível, mas há outra que é subtil e que é a que me interessa contar, a que me permite criar um fio condutor e que faz com que eu saiba onde começo e onde acabo, isto é, que saiba porque é que escolho as primeiras imagens para o início, e porque é que termino de determinada maneira. E isso nunca revelo. Mas é uma espécie de alma invisível, e que espero sempre que esteja lá. E o final cut é fundamental, claro. O projecto final não é de todo semelhante à minha ideia inicial para o filme, porque a minha ideia inicial era fazer um making of. Só que como a rodagem era só aos fins-de-semana, no resto do tempo ia vendo os filmes da Maria José, e as entrevistas que ela dava na televisão, e isso acabou por me influenciar, e desviar. Mesmo assim cheguei a uma fase da montagem em que tinha o making of (numa fase em que estava a montar sozinho... mas não gosto, se pudesse nunca montava sozinho...). Nessa fase as imagens do making of estavam mais ou menos prontas e tinha bastante pudor em usar imagens dos outros filmes da Maria José. Depois agarrei no tema das mulheres traídas e fiz alinhamentos com todas as referências temáticas, tentando manter o mistério e não revelar em demasia toda a riqueza de todos os filmes da Maria José. MIGUEL MARQUES [ MULHERES TRAÍDAS ]. 46 PANORAMA ’08 | montagem I Neste processo houve dois momentos importantes, finalmente: a tomada de decisão (aí também com a Leonor [Areal]) de incluir material de outros filmes da Maria José que se aproximassem do tema; e descobrir que a montagem tinha acabado, que não se ia trabalhar mais – “está feito e vai ficar assim”. OTÁVIO RAPOSO [ NUBAI ]. Lembro-me que estava com uns amigos, e fomos ver ao Fórum Lisboa o filme do Kiluange Liberdade, O Rap é uma arma, que já era um filme antigo na altura. Estava a fazer uma disciplina de cinema documental (Filme Etnográfico) com a Catarina Alves Costa, e havia essa vontade de fazer um documentário com um grupo de amigos. E quando fomos ver esse filme pensámos que fazia sentido fazer um novo documentário sobre o Rap em Portugal, dado estarmos a viver um novo boom, um outro contexto. Nenhum de nós era especializado ou até grande conhecedor de Rap, ao mesmo tempo que não tínhamos muita experiência em cinema documental (incluindo eu próprio – sou fotógrafo). E então fomos começando a entrar nesse mundo, até com uma ideia um pouco ingénua, de querer filmar pessoal do Porto, Algarve, Lisboa, filmar as pessoas do graffiti, do beat box, quer dizer, abordar as várias vertentes do Rap. E foi no campo, a filmar de uma forma um bocado anárquica (no sentido em que tínhamos um guião muito pouco estruturado), que fomos fechando e percebendo que contar uma história sobre tudo iria acabar numa história sobre nada. Resolvemos então limitar o filme ao Rap feito pelos jovens de origem africana, já que foi essa a população que passámos a conhecer melhor, e com quem até eu, pessoalmente, comecei a identificar-me. E essa foi uma decisão finalizada na montagem: foi aí que fechámos a loja, e que decidimos que o documentário seria mesmo sobre o Rap africano. Apercebemo-nos que as pessoas eram muito diferentes, o seu próprio discurso apontava para sítios muito distintos – há uma grande heterogeneidade no mundo do Rap. Como é que poderíamos juntar tudo? Acabámos (o João Rosas, que montou o filme, e eu) por deixar muitas pessoas de fora, e foi aí, no processo de montagem que se definiu e restringiu o objecto. E no fim foram feitas algumas últimas imagens para compor e dar uma certa narrativa. Foi um documentário que acabou por se fazer, e foi sendo levado no improviso. E num futuro documentário sei que terei de estruturar muito mais o trabalho, até para gastar menos fita, menos tempo, menos dinheiro. Isto é mesmo muito importante, até para que a montagem seja feita de uma forma mais organizada, e não seja tão anarca como foi a do Nubai. O filme pode não transparecer, mas foram gravadas mais de 40 horas, inclusive coisas muito interessantes que depois no processo de montagem percebemos que não valia a pena acrescentar porque não iria fazer sentido. Bom, eu acho que sou a mais novata desta mesa, por isso ainda não tenho muitas considerações a fazer sobre o meu processo de montagem. Mas sei que me dá muito gozo montar, e de facto o final cut é uma ferramenta muito importante. Também sou apologista de ter poucas horas de filmagem e depois ir montando com aquilo que se tem, e ir contanto uma história. E deixando que o ponto de vista vá mudando ao longo do trabalho. Neste caso filmei para aí umas 12 ou 14 horas (não foi muito), e foi tudo filmado com muito pouco dinheiro. É mesmo low, low budget e foi feito com uma maquinazinha da Cannon, daquelas handy cam – por isso é que o filme tem tantos problemas de som e de imagem. MÁRCIA SANTOS [ MANA ]. PANORAMA ’08 | montagem I 47 Há certamente dezenas de maneiras de falar sobre a montagem a propósito do cinema documental. Parece-me que terá algum interesse lembrar que a montagem tradicionalmente, ou pelo menos nalguns momentos particularmente relevantes da História do Cinema – ou da História das ideias, das teorias do Cinema – foi associada a qualquer coisa de indesejável quando está em questão filmar o real, por pôr em causa uma ideia de continuidade. São célebres as teses do Bazin, que, de uma maneira quase prescritiva, excluía a montagem de um processo que se pretendesse rigorosamente verdadeiro. Ou seja, a montagem foi associada a qualquer coisa de intrusivo, uma coisa que trazia interrupção e a possibilidade de mentira no tratamento da realidade (e isto não é qualquer coisa necessariamente aplicada ao cinema documental. Aliás, acho que pouco interessa distinguir as fronteiras entre o documentário e a ficção de uma maneira absolutamente estanque, porque as coisas se prolongam a partir do momento em que se filma qualquer coisa relacionada com o real). Por outro lado, também sabemos que na mesma História das Formas Cinematográficas e das ideias que lhe estão subjacentes, foi através de filmes que num entendimento vasto podemos integrar numa História do Cinema Documental, como o Homem da Câmara de Filmar, ou as sinfonias visuais, as sinfonias de cidades dos anos 20 e 30, que a montagem ganhou um papel preponderante como mecanismo cinematográfico. São filmes muito marcados por uma forte ideia de montagem, e por uma ideia de captação do real mais ou menos processado e trabalhado pelo cinema. Isto leva-nos a duas coisas, e aqui se calhar eu passaria a palavra. Uma tem a ver com a dimensão de verdade contida em cada um dos filmes a que chamamos documentários, e a possibilidade de mentira a eles inerente. A diferença entre documentário e ficção é que raramente se fala em falsa ficção. Ficção é sempre, de certa maneira, inofensiva, e está sempre identificada como ficção. Enquanto o documentário, justamente por essa ligação quase ontológica a um real pré-existente, está muitas vezes vulnerável a um tipo de falsificação. E estava a pensar num exemplo extremo, um filme como o Triunfo da Vontade da Leni Riefenstahl, que é altamente manipulado, que sempre gerou muita discussão, sendo que um argumento fundamental na defesa da realizadora era que o filme não era uma peça de propaganda, mas um documentário. Serve muito bem como exemplo destas questões de falsificação, digamos assim. Falsificação do olhar, falsificação do real que é apresentado porventura com pressupostos contrários, com uma ideia de não-falsificação A outra questão tem a ver com a ideia do documentário como construção formal, e não apenas uma organização feita casuisticamente de um determinado material, daquilo que foi filmado. A ideia da montagem como processo e como princípio enformador… quase como se fosse através desta que o filme poderia existir enquanto objecto formalmente construído e existente. Acho que fui um bocado confuso na exposição, mas julgo que posso passar a palavra a partir daqui, a quem quiser pegar, sobretudo à mesa dos realizadores. Não sei se isto vos oferece alguma ponta por onde pegar em relação ao vosso próprio trabalho, aos vossos próprios filmes. LUÍS MIGUEL OLIVEIRA. Antes do mais, sobre a “falsa ficção”: não é por acaso que os filmes de ficção muitas vezes dizem – e é uma frase célebre – “qualquer semelhança com a realidade MIGUEL CLARA VASCONCELOS. 48 PANORAMA ’08 | montagem I é pura coincidência” – isto é a falsa ficção. Ou seja, a ficção muitas vezes inspira-se em personagens reais, em pessoas reais, em situações que aconteceram, mas depois tem esta tirada final para ninguém processar ninguém. Por outro lado, a chave de Hollywood nos últimos tempos é: “este filme é baseado em casos reais”. Precisamente porque se calhar assim os espectadores acreditam mais no filme, se calhar têm mais vontade de o ver se tiver uma pitadazinha de verdade. Ao contrário de tudo isto, no documentário não é só a câmara que mente no sentido de distorcer a realidade, ou no sentido de recortar a realidade, são também os participantes que fazem muito show-off. De uma maneira mais ou menos consciente constroem também uma imagem de si. E esta questão é filosófica até à náusea porque podemos ficar aqui indefinidamente a falar sobre o que é verdade e o que é mentira, o que é realidade e o que é ficção. Agora, o que é certo, e isto tem a ver com montagem, é que quando se seleccionam excertos daquilo que se filmou está-se a contar uma história. Esta história vem depois. Mesmo que haja uma tentativa de recuperar a história inicial – a primeira ideia – há sempre uma tentativa de contar qualquer coisa. Acho que a melhor maneira de explicar isto é citar a personagem – e chamo “personagem” – do filme da Márcia, quando diz “tu queres provar que eu sou de uma maneira, mas não vais conseguir” (é mais ou menos isto, cito de memória...). Esta frase para mim é genial porque demonstra uma espécie de luta que existe entre o personagem e o realizador. O documentário, sobretudo através da montagem, tem essa construção a posteriori da suposta verdade dos factos, a verdade histórica (no sentido em que fica para a posteridade aquilo que eu vi e filmei). A ficção que no fim se diz ser baseada em factos reais não é necessariamente uma falsa ficção, eu diria que é ficção com caução. É uma ficção com garantia de reconstituição, com garantia de vínculo a qualquer coisa que de facto se terá passado. Não é bem a esse nível que eu digo que, de certa maneira, não existe falsa ficção. Enquanto pode existir qualquer coisa que se apresenta como documentário e não é, raramente aparece alguma coisa que se apresente como ficção e não seja. E o que estou a tentar trazer à reflexão é a ideia da montagem como elemento tradicionalmente visto como manipulador. LUÍS MIGUEL OLIVEIRA . MÁRCIA SANTOS . Ou como criação... Eu estou completamente de acordo com esse lado de ma- nipulação. GRAÇA CASTANHEIRA . Uma intervenção do realizador sobre a matéria. LUÍS MIGUEL OLIVEIRA . Exacto. Bom, eu posso tentar resumir mais ou menos o que é que eu penso sobre isto, embora eu ache que poderia haver um fim-de-semana inteiro só a falar sobre esta questão, e mesmo assim era capaz de não se chegar a conclusões. Portanto, eventualmente vai ser muito superficial o que eu vou dizer. Do meu ponto de vista realidade não existe. E nesse sentido a verdade também não. Nas aulas eu costumo mostrar a minha cadela a sair de casa. Quando ela quer sair dá voltas sobre si própria, GRAÇA CASTANHEIRA . PANORAMA ’08 | montagem I 49 arranha a porta, e se não sabe que está a ser filmada é isso mesmo que faz; quando ela vê a câmara e sabe que a estou a filmar, deixa de rodopiar sobre si própria e fica especada, encostada contra a porta. Há até uma tese de um físico, o Heisenberg, que diz que quando uma molécula está a ser observada, o observador participa do seu comportamento. Portanto, para mim é uma enorme falácia partir do princípio que a realidade é observável e que daí pode derivar algum pressuposto de verdade. No que é que acredito? No ponto de vista do realizador e do autor sobre determinada matéria. E, nesse sentido, contra esta dicotomia entre verdade e mentira eu sugeriria o valor da subjectividade. Ou seja, a partir do século XIX, em que no jornalismo foi instituída a objectividade como valor para se poder informar (o senhor A atacou o senhor B, vamos falar com os dois e depois o espectador tirará as suas conclusões), o documentário permaneceu como um reduto de subjectividade e a verdade que dele decorre é só essa: o ponto de vista. O ponto de vista de quem está a fazer e a construir o filme. E assim, a verdade sobre a irmã da Márcia é o ponto de vista da Márcia sobre a irmã. E a irmã da Márcia em toda a sua verdade nunca será representável. Agora, concretamente em relação à montagem: eu adoro planos sequência em documentário. E acho que há uma diferença entre documentários que têm mais grão, têm mais... não sei sequer como é que eu posso denominar isto, mas há vezes em que sei que estou a presenciar alguma coisa e que sinto que, quando estou a fazer um plano sequência, estou a conseguir captar a alma desse momento. Agora, acho também que posso, como autora, chegar à alma daquele momento – a alma e não a verdade concreta – com a montagem de quatro ou cinco planos. Não sou perita em planos sequência, acho eu, sou melhor a montar, mas gosto muito de documentários de outras pessoas que têm uma abordagem muito mais observacional do que eu, em que há planos sequência. E nesse sentido percebo que algumas pessoas com uma visão mais purista do documentário achem que o plano sequência, e a não decoupage de uma determinada cena, é um valor em termos do cinema documental. MIGUEL MARQUES . No meu caso, sempre tive a ideia de que o filme iria sair dividido em dois. Nunca se consegue dizer tudo, fica sempre muita coisa de fora, mas sabia que ia ter uma primeira parte de exposição e de encontro com as personagens e com a forma como trabalhavam; e haveria uma segunda parte que teria uma maior preocupação em chegar a uma espécie de verdade que, contudo, se manteve oculta, a que eu não consegui aceder com a câmara. A este nível tive a necessidade de usar a montagem para levantar essas questões e para tentar transmitir a quem está a ver que aquilo que está a ser mostrado pode não ser verdadeiro, ou pode haver mais pistas para além do que está a ser visto. Foi nesse sentido que construí a montagem deste trabalho. A questão da Graça para mim é primordial, a questão da subjectividade. A verdade está de facto nessa subjectividade, nesse ponto de vista. O que acho interessante é que a montagem é uma construção, uma manipulação, uma amputação, mas é também, para mim, um mecanismo para ver mais além. Vou agarrar num exemplo do meu filme, que passou hoje: eu tive de filmar aquela cena final, do jogo, sempre do mesmo ponto de vista, porque não havia margem de manobra. E a opção CATARINA MOURÃO. 50 PANORAMA ’08 | montagem I que eu tomei obviamente é altamente manipuladora, com música, com os jump cuts... mas para mim o que era importante nessa cena era captar a verdade – obviamente uma verdade perspectivada por mim – sobre o que era a realidade do rapaz, do Rui. O que é que ele estaria a sentir? Por que processo estava a passar? E nesse sentido, a montagem para mim foi uma forma de ir mais além, para lá daquela cena. Claro que isto é uma construção. Mas é uma construção que para mim é fiel a um sentimento que eu tive ao fazer o filme. Também acho que é tudo muito subjectivo. E principalmente porque peguei numa câmara e filmei eu. Não tinha uma equipa comigo, era só eu que estava a filmar. E quando uma pessoa parte para fazer um documentário já pensa que tem um ponto de vista diferente daquilo que está a ver, acho eu. Depois, do processo de filmar até ao processo de montar, muita coisa vai evoluindo. E mesmo a nossa visão, aquela que estamos a ter agora, deste presente, se vai alterar quando chegarmos a casa e pensarmos nisto. Tal como a Catarina estava a dizer, acho que há sempre uma sensação de estar a ver mais, só que desta vez com uma câmara através da qual podes registar isso que estás a ver mais. E depois podes arrumar: como arrumas um raciocínio, arrumas um filme, através da montagem. E transmites aos outros aquilo que viste. MÁRCIA SANTOS . Bom, acho que já ficou um pouco claro que qualquer documentário é sempre uma parte da realidade, é sempre uma parte da verdade, que, enfim, é manipulada no próprio momento em que o realizador escolhe filmar ‘x’ em vez de filmar ‘y’, e depois durante o próprio processo de montagem. Acho que depois é uma questão de proximidade, tem a ver com o envolvimento que o realizador tem com as pessoas, com a experiência em si, com a verdade, digamos, e é essa proximidade, que vai crescendo, que faz com que a meio do caminho se chegue à conclusão que se vai filmar outra coisa daquela inicialmente pensada. E acho que para haver uma maior proximidade é muito importante haver uma abertura do próprio realizador com o contexto, com a acção, e o objecto que é construído permanentemente na própria realização, durante o envolvimento do realizador com as situações. Esse envolvimento do realizador com as pessoas que estão a ser filmadas, ou o envolvimento com a temática, é algo fundamental. Muito importante. Não só para que as pessoas representem menos, como também para que nós possamos dar algum grau de profundidade, e um lado da verdade que passe despercebida a outras pessoas. Por exemplo, no filme Mana, acho que o facto de ser a realizadora a filmar a sua irmã, o facto de haver todo esse envolvimento, faz com que haja um grau de profundidade que não existiria de outra forma. Mas obviamente que se fosse outra pessoa a filmar poderia pegar noutra perspectiva, porque de facto há sempre uma forte subjectividade. OTÁVIO RAPOSO. MIGUEL MARQUES . A personagem do meu filme usa a ficção para mediar os seus conflitos com o mundo. Ela tem um conflito e ela faz um filme para falar disso, ficciona a coisa (e isto não é oficial, é uma análise que eu faço dos filmes dela; acho que é qualquer coisa que ela esconde de si própria). Na minha montagem, e no meu ponto de vista, tentei dar pistas para que se percebesse como é que ela ia buscar elementos à vida real, e fazia a transposição para o seu filme. PANORAMA ’08 | montagem I 51 E a verdade do filme é diferente da verdade daquilo que filmaste? O filme constrói a sua própria verdade ou tenta reencontrar a verdade que existia, antes de teres filmado? Ou com aquilo que filmaste chegas a outro... LUÍS MIGUEL OLIVEIRA . MIGUEL MARQUES . Eu precisei não só daquilo que filmei, mas também de imagens de arquivo. Em termos de horas de material eu tinha 11 filmes, alguns deles seriam longas-metragens com uma hora, uma hora e meia. Portanto, tive necessidade de ir buscar mais do que a realidade daquele momento para construir a minha história. Senti que precisava de mais elementos para construir esta ideia, da ficção ser muito alimentada pelas relações sociais dela. PUB (LEONOR AREAL). Eu acho que na fase de montagem tudo aquilo em que o filme consiste está em jogo, e portanto tudo pode ser manobrado ou revolvido ou decidido. Mas para não ir muito longe nesta ideia, vou tentar falar só de dois aspectos que me parecem unidades mínimas da montagem. Uma é aquela que tem que ver com o encadeamento (ou dos planos ou das cenas ou das sequências), e portanto com a lógica que se define pela ordem com que as coisas se colocam. E outra tem que ver com o tempo que dura cada imagem ou cada plano, com a definição de tempo. E a manipulação dentro destas unidades pode ser feita em vários graus. Mas quando se chega ao discurso – e muitos documentários, e vários dos filmes que vi hoje, se baseiam no discurso das pessoas, discurso directo para a câmara ou para o lado – os cortes no encadeamento do discurso e no tempo de palavra, são notórios. E hoje vi alguns filmes que usam soluções muito diferentes a este nível. Por exemplo, no filme do Miguel Clara, o discurso daquela rapariga que fala está todo cortado para construir uma narrativa que obviamente é ele que constrói. Aquele discurso é teu, não é o dela (usa as palavras dela...). Ela tem muita autenticidade – ou muita verdade, se quiserem – é muito interessante, mas como espectadora não posso deixar de me perguntar o que estava entre uma fala e outra. O que é que tu tiraste? Eu pessoalmente gostava de aceder a essa verdade da personagem de que tu me privaste. Um outro filme que funciona assim, é o filme do Jorge Silva Melo sobre a Glicínia Quartin. Ela fala muito, é muito interessante, mas ele corta sistematicamente o seu discurso como se estivesse... não sei a fazer o quê, se a condensar informativamente o que ela diz ou qualquer outra coisa. E no teu caso, Miguel, não percebi exactamente porque é que fizeste isso. O resultado funcionou, mas eu fiquei a pensar o que é que lá estava. E agora, para dar o exemplo contrário, vou recorrer ao filme que tenho mais presente que foi aquele em que participei, o do Miguel Marques. A certa altura tínhamos um plano de um sujeito a falar, o marido da mulher traída (o traidor, no fundo, que nos deu muito trabalho a mostrar que era traidor porque ninguém o tinha dito; é aquilo que estavas a dizer, os tais reflexos subentendidos...), em que ele estava a falar dos filmes da mulher e está meio minuto para conseguir encontrar a palavra certa para exprimir qualquer coisa que está a ser nitidamente difícil de verbalizar. E é claro que diante dessa dificuldade o discurso congelado dele se torna muito significativo. Até houve pessoas que se riram porque toda a gente está a perceber o que é que ele quer dizer e não quer dizer, e está ali à procura da palavra mais certa, da paráfrase mais eufemística para dizer o que não queria dizer (e que eu também não vou dizer…). Na montagem, 52 PANORAMA ’08 | montagem I este foi um segmento de discurso que inicialmente não estava assim até que percebemos que tinha de ficar esse minuto de “engasganço” todo, em vez de recorrer àquela solução dos cortes. Devolvo-te então a minha observação com uma sugestão. Aquilo que me interessa nos filmes não tem tanto que ver com a verdade do momento filmado ou da relação entre irmãs ou a proximidade entre pessoas (como foi dito), e também não tem que ver com a verdade da montagem, mas sim com a verdade da minha relação – eu, que estou a fazer o filme – com o espectador; ou a verdade da minha relação de espectador com quem me está a dar o filme. E portanto, quando é demasiado notório que uma cena qualquer está mesmo cortada (e é muito comum hoje ver filmes até com saltos de imagem), eu pergunto-me acerca dessa relação de verdade entre quem faz o filme e o espectador. Em relação ao recortar o discurso da rapariga, da Cátia, isso é uma questão de ritmo cardíaco. E interessou-me trabalhar isso. Eu não estou preocupado se ela é mais autêntica ou menos autêntica por eu aguentar mais a câmara sem cortar. Estou preocupado, sim, em tratar a personagem como me interessa, de facto. Ou seja, dar uma imagem dela que eu sei que ela pode dar, mas que eu tenho de tornar mais visível. E o que me interessou ali foi mesmo o ritmo cardíaco. Tratava-se de uma pessoa muito jovem, e que está nervosa e que pouco a pouco se vai revelando mais, e acalmando-se, e contando coisas mais íntimas. E o ritmo de montagem traduz essa situação, esse sentimento e essa pulsação dessa sequência. Esse foi o objectivo. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . GRAÇA CASTANHEIRA. Acho o que o Miguel disse muito pertinente, acerca de, no final, a verdade daquilo que se filmou se assemelhar à verdade do filme (partindo do princípio e assumindo que há verdade). Eu, pessoalmente, fico mais contente quanto sim, e acho que os filmes de que gosto são aqueles em que sim, em que há uma coerência, e se percebe que aquilo que se esteve a ver está bem tratado pelo autor. Em que há um ponto de vista que não choca com o que se filma, e não há uma manipulação excessiva (como eu acho que existe de forma caricatural nos filmes do Michael Moore). O que eu acho é que às vezes, para se chegar a essa verdade, tem que se omitir e mentir. E isso é que é complexo. E acho que isso remete para uma questão muito importante em documentário (em ficção também, mas no documentário de uma maneira brutal) que é a ética. Uma pergunta para o Miguel Marques, do Mulheres Traídas. O mote do filme é o making of. Mas depois obviamente que não é o making of que eu vou ver. Logo desde início começo a aperceber-me de várias leituras e, da minha óptica, o filme tem uma estrutura notável. A minha pergunta é em relação ao método de trabalho. Tens à partida (ou pelo menos eu identifiquei) três materiais: os filmes da realizadora; o processo de montagem; e os vivos entre intervenientes. O que eu queria saber é se foste vendo o material, e se isso deu novas possibilidades de filmar. E também se tinhas à partida a ideia de fazer um filme sobre os conflitos internos daquela personagem, e até que ponto foste absorvendo novos conflitos que existiam entre outras personagens. PUB ( FERNANDO CARRILHO ). PANORAMA ’08 | montagem I 53 As coisas foram sendo feitas todas ao mesmo tempo. Quando falo de algum pudor em relação a usar os filmes da Maria José, é porque comecei a conseguir agarrar ali referências a quase toda a cinematografia portuguesa desde o Costa do Castelo até agora, ao nível da utilização do espaço, por exemplo. E a Maria José chega aí por algum instinto. Todo esse material é qualquer coisa que eu gostaria de voltar a trabalhar, porque acaba por ser muito interessante. O material foi-me chegando e a decisão de o incluir foi muito próxima do início da montagem. Por outro lado houve a decisão – muito partilhada com a Leonor – de não incluir as imagens televisivas em que ela está em situação de entrevista, porque eram muito ruidosas. Portanto, havia muito material para falar da mesma história. Podia, por exemplo, ter feito um filme mais psicanalítico. Havia ali várias hipóteses de montagem, mas escolhemos uma que deixou se calhar mais campos de leitura em aberto, mais possibilidades. MIGUEL MARQUES. PUB ( FERNANDO CARRILHO ). Mas ao visionares o material decidiste filmar de outra maneira, ou dar mais atenção a certos aspectos? MIGUEL MARQUES . Não, estava lá tudo. Eu filmei pensando sempre que ia fazer um making of e não que ia utilizar o material dela, ou que necessitaria de utilizar outro material para perceber a pertinência daquele tema noutros filmes dela, ou para perceber até, se calhar, a forma como o tema estrutura a sua vida, e a relação dela com o seu cinema. E portanto, quando estava a filmar, não direccionei o meu olhar para o conflito central que eram as mulheres traídas. ANA ALMEIDA . Gostava de lançar uma reflexão final. Tem a ver com uma ideia que eu achava que poderia surgir durante o debate e que acabou por se perder, de alguma maneira. E agora sinto que seria interessante poder falar sobre isso. Parte de um excerto da entrevista que o Luís Miguel Oliveira deu para o nosso catálogo, uma frase em que tenho ficado a cismar e se calhar vou lê-la e depois vou dizer-vos a que é que se calhar eu gostava que vocês respondessem. Ele diz, às tantas, que “o outro é um tema clássico do documentário. E tem muito a ver com a própria génese e história do documentário. A descoberta de outros povos, de outros modos de vida, de outras culturas. E se formos a ver, uma grande maioria do documentário é sempre uma maneira de filmar o outro. E o outro pode ser uma tribo do outro lado do mundo, podem ser os pobres, podem ser os doentes”. E acabamos com vocês os quatro aqui na mesa [os outros intervenientes foram saindo ao longo do debate], e tu filmaste a tua irmã, tu filmaste os jovens artistas, músicos do hip hop nacional, o Miguel [Marques] filmou esta senhora e os actores, e a Graça filmou algumas pessoas relacionadas com o problema do AVC. Vocês partiram para filmar estas coisas, mas depois o retorno disso é uma coisa muito pessoal (já estivemos aqui a falar bastante sobre isso, hoje). A minha ideia – e isto surgiu-me no decorrer do debate, não sei se vocês querem comentar – é que muitas vezes a montagem pode servir para isso: começa-se por filmar o outro e acaba-se, através de uma introdução de uma voz off, através de uma certa organização do discurso, por falar muito de si próprio. Acaba por se falar muito de si próprio, quando se está a falar dos outros. O meu filme ainda por cima é muito pessoal e por isso é óbvio que sim, que acaba por ser um processo sobre mim. Isso deve acontecer em todos os filmes e não só nos MÁRCIA SANTOS . 54 PANORAMA ’08 | montagem I que vimos esta noite. Se calhar até nos que são de ficção. A montagem é também, como a Graça estava a dizer, uma coisa ética. Quer dizer, tu sabes que estás a falar de pessoas, estás a mostrar pessoas, estás a expor, e estás a expor-te a ti muito mais, na minha opinião. E acho que é preciso medir isso tudo. Acho que é um processo muito complexo. E nunca está acabado. MIGUEL MARQUES . Também há a afectividade. Há a afectividade que se cria, e há laços que se criam, também. E tu podes começar com o outro, mas podes ser completamente cativado por ele, e envolves-te, e a partir daí já não há tanto o outro. Eu envolvi-me... A Maria José foi muito cativante na sua necessidade de ter alguém com quem falar, de ter alguém que a ajude, de ter alguém... e eu gostei muito da honestidade com que ela sentia e deixei-a aproximar-se e aproximei-me. E isso também fez um bocadinho o filme. MÁRCIA SANTOS. A Graça é que diz que em cada montagem é preciso ir sempre a um psicólogo. GRAÇA CASTANHEIRA . Eu nunca disse isso. O que eu disse é que achava que era importante os realizadores conhecerem-se. E portanto, fazer terapia podia ajudar. Os outros não existem sem o ‘nós’ e portanto isso reflecte-se no próprio processo de realização, e mesmo de montagem. No meu caso, fui fazer um documentário sobre o Rap, sobre o hip hop em Portugal, e acabei a fazer um documentário sobre jovens de origem africana que cantam Rap – não fazem graffiti, não fazem break dance, ou etc. E obviamente foi toda a minha experiência no decorrer do trabalho, e também as minhas identificações, as minhas representações, que estiveram em causa, ali. Nesse processo, seja qual for o outro, falamos também um pouco de nós. E só para voltar um pouco atrás, para falar sobre essa questão da verdade, há momentos durante a montagem em que fazemos determinados cortes ou prolongamos determinados planos para dar o mais representativo da verdade que estamos a filmar – e daí vem a subjectividade. E aqui entra a relação que temos com as pessoas que são filmadas. Houve uma cena no meu documentário em que um dos personagens estava a falar sobre o problema da polícia, e de como a polícia já tinha morto uma pessoa na Cova da Moura, e que se isso acontecesse novamente ele se ia revoltar, e tudo o mais. E houve um momento em que eu senti que tinha de cortar porque era uma cena muito pesada, que poderia dar problemas. Por um lado poderia trazer problemas a essa pessoa, e nós temos que nos preocupar com isso. Por outro lado, eu achei que havia ali um certo exagero, e então decidi, pelo contrário, prolongar a cena porque no fim ele dizia qualquer coisa como “ah, ninguém quer fazer merda, porque todo o acto tem a sua consequência”. Achei por bem prolongar porque no fim ele acaba por dizer uma coisa mais representativa do que me parece ser o que ele achava. OTÁVIO RAPOSO. GRAÇA CASTANHEIRA . Eu vou ser muito breve. Estou em crer que o documentário é sempre a história de uma relação. E a relação pode ser entre um autor e uma paisagem, pode ser entre um autor e um objecto, ou alguém. E os outros, como conceito, entram nesta generalização. É a história de uma relação. E portanto a história da relação com o outro. PUB ( LEONOR AREAL). E incluirias nessa relação as pessoas para quem fazes o filme? PANORAMA ’08 | montagem I 55 A única altura em que eu penso no público é quando acho que estou a ter a ideia e sinto que é fundamental pensar se poderá interessar a alguém. Depois esqueço-me. E não incluo essas pessoas na relação. Acho que o acto de filmar é muito privado, é muito íntimo, não cabe lá uma sala cheia de gente. GRAÇA CASTANHEIRA. [No texto “Montagem Interdita” André Bazin concentra a sua tese naquilo que considera ser uma lei estética primordial para o cinema: “Quando o essencial de um acontecimento está dependente da presença simultânea de dois ou vários factores da acção, a montagem é interdita”. “Vê-se assim que existem casos em que a montagem, longe de constituir a essência do cinema, é a sua negação. A mesma cena, consoante é tratada pela montagem ou em plano sequência pode ser ou má literatura ou grande cinema”. E serve de ilustração a cena de caça à foca no filme Nanook de Flaherty: “Em contrapartida, seria inconcebível que a famosa cena da caça à foca de Nanook não nos mostrasse, no mesmo plano, o caçador, o buraco e depois a foca. Mas não importa de forma alguma que o resto da sequência seja planificado ao gosto do realizador. É apenas preciso que a unidade espacial do acontecimento seja respeitada no momento em que a sua ruptura transformaria a realidade na sua simples representação imaginária.”] 56 PANORAMA ’08 | montagem I debate MONTAGEM II: estruturação dos fragmentos PROGRAMAÇÃO: Baleia Branca – Uma ideia de Deus | João Botelho [53’] Luzlinar e o Louva-a-Deus | Margarida Gil [27’] Movimentos Perpétuos | Edgar Pêra [70’] Olho da Rua | Regina Guimarães [6’] A Bagagem | Regina Guimarães e Saguenail [87’] Lost in Art (Luís Alves de Matos e João Louro [11’] Blind Runner, an artist under surveillance | Luís Alves de Matos [58’] CONVIDADO: Pedro Marques (montador) MODERADO POR: Fernando Carrilho, Inês Sapeta Dias 18.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | montagem II 57 58 PANORAMA ’08 | abc Juntámos neste bloco filmes onde nos pareceu ser dada uma tónica ao nível da construção de discurso, mais que da construção da narrativa. Vimos nestes filmes uma gestão do fragmento, feita nalguns casos com base numa plasticidade e noutros através de uma preparação em cada plano, em cada som, em cada palavra, da palavra seguinte, do som seguinte e do plano seguinte. São filmes que nos dizem que é da junção de pequenos fragmentos que se constrói uma estrutura. INÊS SAPETA DIAS . Gostava que os realizadores presentes comentassem esta ideia e a sua aplicação ao filme que fizeram, bem como que falassem do processo de trabalho: qual era o filme que tinham na cabeça antes de começar a trabalhar, e que diferenças existem entre esse e o filme que nós pudemos hoje ver? O filme é uma procura. Por isso, antes da rodagem não há nenhuma – mas mesmo nenhuma – ideia do filme. Geralmente explico que para os documentários parto sem nada escrito. As rodagens são sempre muito demoradas, quero trabalhar no tempo, e é aos poucos que, intuitivamente, diria, descubro o que é que estou a filmar. E depois há um momento em que de repente certas coisas se tornam evidentes. SAGUENAIL [A BAGAGEM]. No caso deste filme a ideia de filmar a arquitectura da Faculdade, e filmá-la daquela maneira, só surgiu depois de constatar a importância das persianas, das grades, e outros elementos do género, nos outros locais onde tínhamos filmado. Só tive a ideia de os filmar na Faculdade bastante tarde. Nessa altura, já sabia que iria criar uma sequência de imagens onde depois teria de acrescentar alguma coisa ao nível do som – acabou por ser aquele encavalitar de todas as vozes, vozes-fantasma, de certa forma o filme a falar das suas memórias. Agora, ao nível dessa montagem por fragmentos, como dizes, isso é diferente de filme para filme. Aqui o inquérito era perceber qual a trajectória profissional dos licenciados. Mas isso rapidamente deixou de nos parecer a coisa mais interessante, até porque se poderia obter através de estatísticas que já estavam feitas. Quando primeiro juntámos aqueles ex-estudantes e os entrevistámos, queríamos captar qualquer coisa de outra ordem, uma coisa vivencial, afectiva. E aquilo com que nos deparámos assustou-nos. Eu diria que neste filme toda a montagem é organizada de maneira a perturbar… não tenho lições de moral a dar a ninguém, mas é um filme sobre… vidas cinzentas, vidas falhadas e a aceitação submissa desse falhanço. É sobre braços em baixo e sobre uma terrível miséria, diria (não tanto miséria sócio-financeira, como miséria humana). E toda a montagem passou apenas por apanhar cada interveniente em flagrante contradição, ou organizar essas contradições de um testemunho para outro. Vou dar um exemplo: antes de cada entrevista a cada professor, o filme mostra-os na sua prática. E mostramos como aqueles são professores em início de carreira que, apesar disso, já integraram completamente a ideia de adaptar o seu ensino e o grau de exigência aos seus estudantes. Ou seja, perante alunos de “elite” exige-se mais, perante alunos mais desfavorecidos, exige-se menos. Quer dizer, já se submeteram completamente, nas suas cabeças, a uma ideia de ensino como reprodução social onde não é dada a menor hipótese aos alunos. Isto, para mim, está implícito nesta montagem. Sem o dizer, sem o comentar (não há comentário off), está lá PANORAMA ’08 | montagem II 59 através da montagem. Devo dizer que ao longo da rodagem me fui assustando com aquilo que ouvia e via a cada momento. Foi, em termos de filmagem, das experiências mais terríveis de toda a minha carreira. LUÍS ALVES DE MATOS [LOST IN ART | BLIND RUNNER]. Os dois filmes que passaram aqui corres- pondem a projectos muito diferentes. O Lost in Art corresponde a um desafio que lancei ao João Louro. Estava a fazer o Blind Runner – demorei três anos a fazer o documentário – e tive a ideia de podermos os dois trabalhar (sendo eu mais do cinema, e ele mais das artes plásticas) na criação de um objecto livre. É, nesse sentido, um filme experimental. Para mim era uma oportunidade para sair um pouco das correias com que normalmente se trabalha em cinema: quer seja ficção ou quer seja documentário, tem que se fugir sempre da abstracção. Porque a abstracção é uma espécie de inimigo do cinema… E então, a ideia aqui era criar um objecto que não fosse propriamente vídeo-arte, mas que pudesse ser experimental, onde houvesse a ideia de caos, e de conflito entre palavra e imagem. Acho que é um exercício, como podia ser um esquisso de um desenho, ou qualquer coisa desse género. No caso do Blind Runner, eu tinha o desejo de fazer o filme sobre o próprio João Louro, porque sempre gostei muito do trabalho dele. Depois, as condições de produção foram bastante difíceis, e só praticamente na parte final é que consegui uns financiamentos, mas eu também… normalmente nunca tenho as coisas muito definidas. Gosto de ir filmando, apanhar o espírito das coisas, do lugar, e ao longo do tempo ir percebendo o que estou a filmar. Ali passou por isso, também, por mergulhar no trabalho dele, e tentar criar um universo que tivesse a ver com esse trabalho. Uma espécie de ficção-documental em que ele era a personagem do seu próprio universo. Quase como se ele pudesse ser um personagem fictício, e que o seu trabalho pudesse nunca ter existido (não sei se isso depois se consegue, no final…). Nós somos um bocado escravos de uma inquietação com o mundo. E vai aumentando… parece que estamos a aumentar o volume, quer de imagens, quer de sons, e como ele trabalha muito sobre essas questões, sobre esses excessos, e contra eles, a partir da irrisão da imagem, da depuração, do tentar voltar ao início… deixei-me ir filmando, e tentando apanhar o máximo de coisas que tivessem a ver com o trabalho dele, e depois foi na montagem que dei forma a todas essas ideias que já tinha. E, concretamente, como é que pensaste a questão da ligação? Ligação entre planos ou entre materiais tão diferentes – principalmente no caso do Blind Runner. Porque se no caso da Bagagem parece que seguimos o fluxo daquelas palavras, e de uma palavra saltamos para a outra, e de repente no fim percebemos a ligação entre todas aquelas histórias, qualquer coisa de diferente acontece nos teus filmes. E, portanto, como é que, concretamente, tu pensaste essa ligação? Porque parece muito mais… não sei se posso dizer plástica, mas é uma ligação muito mais física… Como é que, no fundo, construíste a tua montagem a partir de fragmentos tão diversos? INÊS SAPETA DIAS. O trabalho de um artista é sempre qualquer coisa que se vai alterando com o tempo. Passa por várias fases. E no caso do João ele começou na pintura, normal… depois LUÍS ALVES DE MATOS . 60 PANORAMA ’08 | montagem II passou para o vídeo, depois para a escultura, ready-mades. E eu podia fazer um catálogo – que não me interessava – ou podia tentar que essa evolução do trabalho dele pudesse estar no filme, e que o conseguíssemos perceber. Não é possível, em 50 minutos, mostrar o trabalho de ninguém, não é? Parecia-me mais interessante usar o trabalho dele para criar questões, e talvez seja aí que estejam os vários módulos. Existe uma espécie de módulos construídos sobre a ideia de investigação (ideia que, aliás, só nos ocorreu na montagem, ao Hugo [Santiago] e a mim). Decidimos então criar um narrador que fosse invisível, e indiciasse uma espécie de processo (quase kafkiano) de captação e registo do que se passa na vida daquele artista. Tentamos criar um dispositivo (e apenas isso, não nos interessava fazer nada político), o mais neutro possível, como se fosse um filme científico, feito para uma investigação. Portanto, esse também era o jogo: tentar que o autor deste filme fosse quase um big brother, ou torná-lo uma coisa qualquer mais assustadora, e não simplesmente um realizador que está a pensar não sei o quê para o seu filme. Passo agora a palavra ao Pedro. E, embora não estejam cá todos os realizadores, gostava que tivesses um olhar sobre o trabalho apresentado neste bloco. FERNANDO CARRILHO. É sempre muito complicado falar de montagem porque… Bem, quando me pedem para ver e comentar filmes de alguém normalmente são filmes que não estão acabados. E quando estão de facto acabados, é muito ingrato comentá-los. Podemos apenas falar do ponto de vista em que eles estão feitos, no fundo, e de como é que a montagem pode relacionar-se ou não com esse ponto de vista (e a sua escolha de entre uma multiplicidade de outros possíveis) no próprio filme. Obviamente todos os filmes do bloco utilizam isso de formas bastante diferentes. Posso então falar da possibilidade de criação do ponto de vista através da montagem. Quando vou trabalhar num filme, a coisa que mais me preocupa é que esse filme tenha um ponto de vista. No documentário acontece muito ter que o procurar. Por exemplo, o Saguenail diz que quando parte para a montagem não tem nenhuma estrutura ou nenhuma ideia completamente concebida do que é o filme. Ora, o ponto de vista é uma força motora muito forte que, quando não existe, quando não houve essa preocupação, acaba por fazer com que nunca haja um filme. Acabamos por ficar com o projecto de um filme, acho eu. Em relação aos filmes de hoje, parece-me que às vezes a montagem chega lá, outros em que a montagem não demonstra essa preocupação tão forte. Quer dizer, o Saguenail já explicou um pouco qual é esse tratamento, e aliás acho que isso é extremamente difícil de conseguir num filme onde o depoimento, as entrevistas têm um peso tão grande (como é o caso do filme dele). Ao nível de montagem acho que é das coisas mais complicadas de fazer. O filme do Luís (e se não te importares vou só falar do Blind Runner, porque é mais fácil, para mim) acho que inscreve e cria bem um ponto de vista forte. Ou seja, acho que o tal dispositivo que tu apresentas (e que dizes não ser nada mais que um dispositivo), o tal da vigilância, integra e demonstra o porque é que o filme existe, e fortalece o ponto de vista. Eu tento sempre encontrar a pertinência e a coerência dos filmes, e é para isso que a montagem contribui a um nível estrutural. E acho que neste filme isso está bem conseguido. Consigo perceber a relação com o artista, e a forma como ele está perante as coisas que vê, e como ele é de certa forma filho de uma época… PEDRO MARQUES . PANORAMA ’08 | montagem II 61 somos invadidos por imagens, e o filme alimenta-se disso, ao mesmo tempo que esse lado do voyeur acaba por funcionar como ponto de vista do realizador. Este tipo de dispositivos é uma das coisas que pode funcionar numa montagem (e de facto tu disseste que o encontraste na montagem). E o filme do Luís estabelece ainda uma série de relações entre ficção e o documentário, usando a um nível relativamente global o que é a imagética do cinema ficcional, e isso, mais uma vez, contribui para o tal ponto de vista que existe ao longo de todo o filme. FERNANDO CARRILHO. Na procura desse ponto de vista às vezes jogam as tais relações entre materiais (e isto foi uma das coisas que retirei da entrevista que deste para o catálogo). Pergunto se existirão grandes diferenças entre procurar esse ponto de vista na associação de fragmentos mais plásticos, ou num conjunto de entrevistas, onde a palavra tem mais peso. PEDRO MARQUES. Quer dizer, o ponto de vista é sempre a forma como o filme é. Não sei se é uma coisa que possa aparecer somente pelas relações ou pelas justaposições ao nível da montagem. Acho que quando se percebe qual é o ponto de vista essas relações acabam por ser mais fáceis tanto a nível narrativo, ou teórico, ou… como vocês dizem, plástico. Não percebo muito bem o que é essa coisa do plástico, sinceramente. Não sei se vocês podiam explicar melhor o que é que querem dizer com isso... Quando eu falei em plástico referia-me… por exemplo, acho que isso é muito claro no filme do Edgar Pêra, em que ele cruza materiais diversos, e… INÊS SAPETA DIAS. Mas eu acho que no filme do Pêra, podem existir lá muitos materiais, de fontes diferentes, de formatos diferentes, mas eu acho que ele tenta exaustivamente que eles pareçam o mesmo material. PEDRO MARQUES. INÊS SAPETA DIAS. Mas não deixa de ser um tratamento plástico. Sim... é um tratamento plástico que dá apenas uma coerência de imagem ao filme, não me parece que seja utilizado para criar um choque entre os materiais, por exemplo. PEDRO MARQUES. INÊS SAPETA DIAS. Não, mas eu só falei do tratamento plástico, não estava a descrever esse tratamento. Posso dar outro exemplo: também há um tratamento plástico quando entre um plano e outro se trabalha uma continuidade ao nível da cor ou da forma de um objecto. Se calhar a palavra não é a ideal, mas é a isto que me refiro quando falo em plástico. Sim, em justaposições na linha da montagem eisensteiniana, talvez. É muito complicado falar destas coisas porque só ao fim de muito tempo é que se tem isso incutido. Talvez ao início se pense que aquilo era possível para o que ele fazia, mas depois de trabalhar muito tempo percebe-se que de facto é uma teoria muito simplista, está presente em todo o lado, até nas coisas mais usuais. E por isso é que falamos de “montagem de atracções” quando falamos dessas relações e de tudo o que podemos encontrar entre dois planos que os pode aproximar. Muitas vezes os planos são aproximados apenas por uma linha ou uma cor, e pode não funcionar. PEDRO MARQUES. 62 PANORAMA ’08 | montagem II Ou seja, isso pode também não chegar para nada. Há muitas coisas que lutam. A montagem é uma luta, uma frustração constante. SAGUENAIL . Falaste da “montagem de atracções” do Eisenstein. Não olhei com atenção para as traduções em português, mas em França esse assunto deu, já há muitos anos, discussão, e não se pode confundir montagem de atracções com a ideia de associação entre dois planos. Quando o Eisenstein escreve esse artigo – que é um dos primeiros, e que é, de facto, uma versão ainda embrionária e está longe de ser o cerne da sua teoria de montagem – ele explicitamente utiliza uma palavra que se refere às atracções do circo. E o problema que ele coloca é como organizar a montagem de um filme à volta de momentos mais fortes que seriam as tais atracções do circo. Não tem nada a ver com a junção de dois planos. PEDRO MARQUES. Não, não, agora desculpa: mas depois ele diz que encontra as atracções em cada plano, e é através do que está em cada plano, do que atrai em cada plano, que ele encontra o choque. SAGUENAIL . Não... PEDRO MARQUES . Ele joga com o choque das atracções que estão em cada plano. SAGUENAIL . O problema que ele coloca, e que ele colocará cada vez de maneira mais fina à medida que vai desenvolvendo a sua teoria da montagem, é como exactamente organizar as coisas para poder chegar a esse momento da atracção, que é um momento chave, digamos, e que pode não ser um plano, pode ser um conjunto de planos. Ele, a esse nível, foi sempre muito claro. Vou dar exemplos, porque todos nós, que praticamos montagem, tivemos que ver onde caem estas teorias. Mas antes quero só fazer uma correcção: quando vou para a rodagem não tenho a menor ideia pré-concebida; mas quando vou para a montagem sei qual foi o material que filmei. Eu disse mesmo que a dada altura da rodagem começo a saber o que é que estou a filmar, do que é que estou a tratar, o que faz com que, por exemplo, tenha repetido algumas entrevistas para escolher a cor das paredes; e não é por acaso que a câmara se encontra em contra-picado quando vou filmar os professores universitários. O meu problema de montagem vai ser o de organizar, não só uma montagem de discurso, ao nível do som, mas também uma montagem de imagem porque essa mudança de ângulo da câmara não pode ser aleatória, tem de aparecer como ponto conclusivo, em que a palavra dita está também em causa. No início organizo tudo isto esquematicamente, mas depois é ao nível do ritmo, etc., que vou conseguir criar esse momento. Outra ideia é aquela que está na sequência final na faculdade, em que passo para os corredores esse movimento de carrossel, onde o sentido profundo é o de descrição de um naufrágio, não só arquitectónico mas também de projecto, digamos, universitário, de formação de professores. E aí tento criar… não sei se é uma angústia, mas foi nesse sentido que eu pedi para o músico trabalhar. E tudo isso finalmente faz o contraponto com todas as memórias felizes do “foram os melhores anos da minha vida, aqueles que passei na faculdade” que são absolutamente terríveis. Porque é exactamente por a faculdade não lhes dar aquilo que queriam que fica enquanto elemento nostálgico, porque anterior a essa entrada no mundo do trabalho onde deixaram de ter escolha ou liberdade. PANORAMA ’08 | montagem II 63 O que quero dizer com isto é que antes de montar eu sei que vou montar uma sequência para obter tal efeito. E é essa a ideia, penso eu, das atracções: obter o efeito de fascínio, o momento de afecto sobre o espectador. Mas devo dizer que uma das coisas mais difíceis na montagem que organizei é de facto a montagem de discurso. E é difícil a dois níveis. É difícil a um nível ético, porque tem que se cortar mas não se pode perverter os discursos. Quer dizer, seria ilegítimo pegar num fragmento, descontextualizado, e tornar o locutor ridículo ou contraditório quando ele estava a ser claro (o que posso fazer. Como já descrevi, é uma justaposição ou contraponto constante para criar contradição). Ao mesmo tempo, há um problema técnico nesta escolha que eu fiz de tentar ser o mais discreto possível nos cortes. Por exemplo, estou a filmar de frente, não quero fazer um jump cut mas tenho de montar, e quero que o espectador não possa ver a priori o corte, ou que este seja suave e só alguém da profissão possa dar-se conta de que houve um salto. Quero que o espectador sinta uma continuidade em cada discurso. E isto é um problema técnico a partir do momento em que o espectador vai continuar a ouvir a voz como se visse o locutor, apesar de eu ter mudado de plano, ao nível da imagem. Isto é que é um problema muito concreto e não há leis, depende tudo de se conseguir avaliar quando é que o espectador terá tido tempo para entrar no fio de um discurso. Falaste de filmes que não obedeciam a um fio narrativo, e que se estruturavam a partir de fragmentos. Ora, eu organizei o fio narrativo primeiro para colocar os fragmentos em função dele, e essa foi a grande dificuldade, para mim. E foi assim que apareceu aquela passagem nítida dos ex-estudantes de sucesso – os que são formados para ensinar e vão ensinar –, para os que falham. E o filme é organizado como uma espécie de lento deslize que se vai acentuando cada vez mais. E isso é narrativo. LUÍS ALVES MATOS . A minha formação também foi em montagem. Portanto, quando estou a filmar é impossível não pensar na montagem, também. Um bocado como o Saguenail estava a dizer, temos de variar, ou saber em que cena é que aquilo pode ser utilizável. Mas se me perguntam se tenho um esquema na rodagem, isso não tenho. Dentro dos possíveis, tento filmar o mais inocentemente possível. E dentro da possibilidade da inocência porque, nem que seja naquelas brincadeiras do “plano à Ozu”, ou “plano à Dryer”, ou “plano à Ford”, há toda uma gramática da imagem que é terrível. Quando estamos a filmar, temos essa História toda na cabeça, não é? Mas há a liberdade de, apesar de tudo, não nos deixarmos condicionar no acto de filmagem. Por outro lado, vejo cada vez mais a montagem como a música, com andamentos. Claro que os cortes são interessantes, mas o que acho que pode ser ainda mais interessante são os espaços no meio dos cortes. Ou seja, é a ideia de que dois planos podem formar um sentido, mas se calhar também uma ambiguidade, criando, com a sua junção, uma paragem ou um nó. E é por isto que, como o Pedro estava a dizer, a montagem é um sofrimento terrível. O Lost in Art é um exercício, e a ideia era ser rápido, mesmo. As pessoas queixam-se que é rápido, mas a mim interessava-me que houvesse a imagem, e a montagem de imagem, e que ambos fossem rápidos, e isso pudesse criar um problema qualquer de compreensão, mas ao mesmo tempo uma sensação. Mas no caso do Blind Runner houve a ideia de criar andamentos. Quer dizer, partes mais lentas, partes mais curtas e… andámos nove meses de volta daquilo, com essa intenção. 64 PANORAMA ’08 | montagem II Mas enfim, acho que a montagem pode ser vista através desta ideia de andamentos, e não só de cortes e zonas. A ideia de que é como uma partitura musical, que começa devagar, depois pode acelerar. Depois é a especificidade da imagem, e o trabalho do som sobre essa imagem, que poderá criar esses ritmos. PUB (PEDRO GIL). Uma pergunta de escola: qual é a diferença entre montagem em documentário e em ficção? E, sobretudo, como é que pensam a montagem para uma coisa e para a outra? SAGUENAIL . Acho que a esse nível cada um vai ser um caso particular. As minhas ficções já estão escritas, e cada plano tem uma pré-minutagem ao segundo. Claro que há sempre re-arranjos depois na montagem, mas eu diria que a latitude que me reservo deve ser, talvez, inferior a 10%. E quem trabalha comigo até me censura às vezes por estar sempre tudo assim tão milimetricamente planificado, sobretudo porque simultaneamente quero experimentar coisas. Quer dizer, estou a escrever coisas já completamente desenhadas, mas sem saber qual vai ser o efeito obtido, porque tento normalmente (e especialmente ao nível da montagem) coisas que, tanto quanto sei, não foram praticadas, ou pelo menos não foram sistematizadas. No documentário a ideia é completamente diferente. Enquanto na ficção a encenação, e a parte da realização é uma violência, e estou bem no momento de montar, no documentário a alegria está no filmar. No descobrir, filmando. E depois a montagem é um trabalho que, eu diria, mais de construção. E é um trabalho que começa por ser muito intelectual: faço esquemas mesmo antes de ir para a matéria da imagem, que, contudo, conheço bem. Todo o processo de rodagem em documentário, como disse, é geralmente muito longo (houve documentários que demorei três anos a filmar, e não há nenhum que tenha demorado menos de seis meses). O que quer dizer que se torna um trabalho muito obsessivo, onde, ao longo da rodagem, vou revendo o que já está filmado, e tentando sempre entender o que estou a captar, e qual vai ser o cerne. No momento da montagem já o sei (já soube durante a rodagem, a dada altura). E aí começa uma espécie de jogo de construção, e de pensar como fazer passar aquilo que descobri na rodagem, a um espectador. E daí também o facto de eu até hoje sempre ter recusado encomendas que me fixassem uma duração do produto final de antemão – porque eu não sei. O que vou descobrir no documentário é qual vai ser o ritmo e o tempo necessário para transmitir o que descobri na rodagem, ao espectador. No filme de ficção tenho um projecto muito preciso, e depois o espectador acompanha ou não, mas já não estou com essa preocupação. LUÍS ALVES DE MATOS. Eu praticamente só fiz documentário, fiz só duas pequenas curtas de ficção. Mas a prática da montagem, num caso e noutro, é sempre a afirmação de uma ideia. Acho que quando se decide montar tem que se ter um sentido. Na ficção, penso eu pelo pouco que fiz, já há uma escrita, e um argumento, e portanto há uma pré-montagem que de alguma forma é feita durante a rodagem, o que já condiciona o momento da montagem propriamente dita. No caso do documentário muitas vezes acontece-me filmar uma sequência e achar que vai ser fabulosa e chegar à montagem e não valer nada. E noutros momentos, em que a pessoa quase deixou a câmara ligada e se pôs a conversar, aquilo sair com uma força incrível. Há esse mistério. Às vezes o valor das coisas na rodagem não é o mesmo na montagem. PANORAMA ’08 | montagem II 65 Só queria dizer mais uma coisa, talvez mais específica no A Bagagem, mas apesar de tudo uma constante nos outros trabalhos. É que antes da montagem definitiva começo por fazer a montagem de som e a mistura. Só depois de ter a minha banda sonora, que normalmente dá muito mais trabalho e é muito mais complexa do que a montagem de imagem, é que realmente verifico os cortes (mas por acaso foi na ficção que iniciei este método de trabalho). No A Bagagem foi nitidamente este o processo, e penso que até se deve sentir. Quer dizer, o filme funciona pela banda sonora. SAGUENAIL . Eu se calhar posso dar uma resposta um bocadinho mais distante ou menos afectiva, porque trabalho nos filmes dos outros. Acho que a diferença entre montar um documentário ou uma ficção hoje em dia já depende muito de como o filme foi feito. Porque já se fazem ficções segundo os padrões que o senso comum, ou uma certa memória afectiva, relaciona com o que é fazer documentário. Já me aconteceu trabalhar em ficções que não tinham nenhuma escrita prévia, e vice-versa: ter documentários com escritas pré-estabelecidas. Há ficções que simplesmente não funcionam e têm de ser reescritas, tal como nos documentários se procura o filme na mesa de montagem por não terem uma estrutura pré-estabelecida. O que é importante é que na montagem se está sempre a escrever, seja com imagens, seja com sons, ou com as ideias narrativas que se querem fazer passar. E há um momento em que essas coisas se encontram. PEDRO MARQUES . PUB ( JOSÉ MANUEL COSTA). Eu queria dizer três coisas. E as três têm a ver com o Saguenail, por ter sido o dele o filme que consegui ver mais completamente hoje – cheguei mais tarde à sessão da noite. A primeira coisa que quero é sublinhar e agradecer o que o Saguenail disse sobre a questão da montagem das atracções. Este é o terceiro debate que eu vejo aqui, e nos três se levantaram questões relacionadas com a História do Cinema. E eu acho que ficaram muitos equívocos na maneira como elas foram colocadas. Isto levantou-me uma questão mais geral: acho que há um problema na forma como hoje se fala da História do Cinema (e não só da História do Documentário). E voltarei a este tema no debate final, mas não queria deixar de o abordar agora também. Mesmo que possa parecer um preciosismo, acho muito importante fazer este tipo de apontamentos que o Saguenail fez (embora isso não resolva tudo, porque me fica ainda alguma insatisfação em relação a como é que nós hoje tratamos a História do Cinema neste tipo de debates). Sinto uma grande falta de informação e de referências nas conversas, às vezes. E por outro lado sinto que temos de arranjar maneira de, sem sermos esmagados pela História, conseguir, apesar de tudo, falar dela a propósito dos filmes que estão a ser mostrados. Conseguir voltar sempre aí. O segundo ponto é que eu achei o filme do Saguenail um excelente exemplo de uma coisa que para mim é óbvia, mas em relação à qual eu sinto haver ainda muitos equívocos (pelo menos sinto isso nas conversas sobre documentário em Portugal): A Bagagem é um filme onde eu senti que havia um claríssimo ponto de vista, sem que, ao mesmo tempo, este se confundisse com o dizer-me o que eu tenho de pensar sobre aquilo (e muitas vezes há a ideia de que são a mesma 66 PANORAMA ’08 | montagem II coisa). Passa-se exactamente o contrário: ele faz-me pensar sobre aquele tipo de discursos e situações, e, aliás como ele referiu no início, vai-me fazendo acompanhar uma série de posições, estimulando as contradições que vão surgindo entre elas. Dou só um exemplo: achei muito interessante as expressões “trabalho” e “emprego” serem completamente reversíveis consoante a posição da pessoa que as usa. Achei interessantíssimo a maneira como elas se revertem. E isso obviamente não é inocente, e tem a ver com a montagem. O Saguenail, ao fazer suceder posições completamente diferentes em relação a esse uso, ajudou-me e estimulou-me a pensar sobre isso. Portanto, só queria sublinhar este ponto, para mim fundamental: um ponto de vista, sentirmos que um filme tem um ponto de vista que o unifica, não significa que os seus sentidos, ou significados se quiserem (muita gente diz assim, eu acho errado), se reduzam a determinadas ideias simples, ou acabadas, que me permitiriam resumir o que esse ponto de vista é. O ponto de vista não é reduzível a essas ideias, e portanto construir um ponto de vista não é facilitar a vida das pessoas dizendo-lhes o que é que elas devem pensar sobre determinada coisa. Isto remete aliás para uma coisa que foi aqui dita ontem pela Graça (ela não está aqui hoje, e portanto não podemos comentar e discutir isso com ela) sobre a questão da subjectividade e a assunção de um ponto de vista subjectivo. Onde eu acho que a coisa começa a ser interessante, é quando eu sinto a carga de subjectividade do autor, ao mesmo tempo que sinto estar aberto a outras subjectividades. E que o autor não me reduz a visão do mundo a coisas demasiado simples que por natureza não são simples. Acho que a função do cineasta é precisamente, muitas vezes, torná-las mais complexas. O terceiro comentário é uma pergunta. E tem a ver com o que se estava a discutir agora. Não propriamente a questão da montagem do documentário ou da ficção, mas a questão da relação entre a montagem e a rodagem. Disseste uma coisa no início [Saguenail] que a mim me faz confusão, e eu gostava de perceber melhor o que queres dizer. Disseste que partes para uma rodagem sem ideias pré-concebidas. Vais experimentando e as coisas vão-se formando, e que é depois, na montagem, que os sentidos se vão construindo. Bem, primeiro queria explicar o porquê da minha pergunta, e porque é que eu acho isto importante. Eu, pessoalmente, desenvolvi há muitos anos um gosto muito grande pelo documentário na História, isto é, pelas fases do documentário em que este aprendeu e desenvolveu o gosto por se ir fazendo. Percebo perfeitamente que na rodagem se vão descobrindo coisas, que a rodagem seja uma experiência no tempo, e nesse sentido seja um processo aberto. No entanto, sempre achei que só são produtivas as surpresas, as transformações, as descobertas, para os que avançam para aquilo a que eu chamo muitas vezes o corpo a corpo com as coisas, as pessoas ou as situações filmadas, se tiverem partido com algumas ideias fortes. Ou seja, a construção de um olhar não pode partir de um vazio de olhar, mesmo que essa ideia forte à partida se vá unificando e aquilo que se vai filmando esteja aberto a transformações – e o documentário é muito isso, de facto. Mas uma coisa é estar aberto às transformações, e outra coisa é dizer que se parte sem preconceitos, sem ideias pré-concebidas. Em primeiro lugar não acredito que alguém consiga filmar sem ter alguma ideia pré-concebida. Em segundo lugar acho que é necessário ter algumas ideias que unifiquem à partida a maneira PANORAMA ’08 | montagem II 67 de filmar. Por exemplo, no teu filme é muito evidente que quando tu filmas as conversas tens alguns pressupostos básicos sobre a maneira de filmar, mesmo que vá havendo transformações, ou que tu vás descobrindo maneiras de filmar diferentes em relação a alguns grupos. Durante a rodagem tu tens um ponto de partida muito claro sobre como é que filmas as pessoas. As pessoas não são filmadas todas ao deus dará para depois organizar isso na montagem. Se isto é evidente para ti, eu acho, apesar de tudo, importante dizê-lo, porque me parece que hoje um dos maiores perigos que há em se ter acesso a uma tecnologia mais fácil, mais acessível, e na possibilidade de filmar mais, é o equívoco de que se pode produzir coisas interessantes a partir de uma experiência de não-olhar. Não sei se fui claro…? SAGUENAIL . Sim, sim. Eu é que não devo ter sido claro. Porque o que eu disse é que tudo acontece durante a rodagem. Quer dizer que, no princípio da rodagem de facto provavelmente... não será filmar ao deus dará, mas com alguma intuição, experiência. E filmo imenso. A rodagem do A Bagagem demorou praticamente oito meses. Eu diria que durante os dois primeiros meses filmei logo pelo menos uma vez cada personagem no seu trabalho, algumas entrevistas, e várias reuniões que não estão montadas no filme. Se bem me lembro filmámos ao todo 10 horas, e eu diria que desses dois meses na montagem final tenham ficado no máximo dos máximos uns 10 minutos. A partir desses dois meses comecei a entender com o que é que me estava a deparar. E aí a própria filmagem começa a ser muito mais austera. Eu já sei onde vou colocar a câmara dentro de um espaço, já sei o tipo de enquadramento, o tipo de ângulo que vou fazer. Ainda não sei como é que os vou montar, mas já sei como os vou fazer. O que eu estou a dizer é que a ausência de pré-conceitos corresponde à fase de encontro com o objecto. Durou dois meses, neste caso. Seguiram-se seis meses de filmagem, onde filmámos muito menos, e desse material o que ficou de fora foi essencialmente cortado porque as entrevistas eram muito grandes. Mas em termos de planos, dessa fase praticamente todos os planos eram para ser utilizados na montagem. Ainda não sabia exactamente por que ordem, mas já sabia do que é que o filme tratava. Não sei se estou a responder à pergunta, mas acho essencial existirem esses dois primeiros meses. Peço desculpa por ir falar agora de filmes que provavelmente não viram, mas não interessa, servem de exemplo para tentar explicar um processo de trabalho. No meu primeiro documentário, o Fora de Campo, um pequeno documentário sobre a minha rua, eu tinha uma ideia à partida. Não sei porquê, tinha a ideia de que a minha rua constituía um mundo e decidi que ia filmar a génese bíblica, começando com as estrelas, depois as plantas, os animais e os homens. E depois, na montagem, essa ideia estava nos planos, e podia-se ter montado dessa forma, mas dei-me conta que, talvez por motivos circunstanciais, por ser um período de férias, apanhei sobretudo velhotes, e descobri que eles tinham memória de toda a História do séc.XX português. E isso era muitíssimo mais rico do que a ideia um bocado simples e estúpida que eu tinha à partida, e tive de mudar completamente de direcção. O que na altura era um grave problema. Era o meu primeiro filme em vídeo, na altura usava-se U-Matic, ainda não havia montagem virtual, e por isso, ao desfazer a minha montagem, criei drops nas cassetes, tive de desistir de alguns planos que estavam bons à partida porque as cassetes se estragaram – foi um pesadelo. Mas isso serviu-me. 68 PANORAMA ’08 | montagem II E a partir desse filme eu diria que, quase por um princípio ético, desconfio do meu próprio olhar à partida. E posso dar um exemplo: daqui a uns meses poderei mostrar, estou a trabalhar num filme em que a filmagem demorou três anos. Acompanhei uns sociólogos a fazer um inquérito exaustivo numa pequena aldeia. E o meu problema não era a aldeia, era o trabalho dos sociólogos. E só a partir de uma certa altura é que me dei conta de qualquer coisa que estava a surgir. Porque eu estava a filmar gente a entrevistar outra gente, e aos poucos dei-me conta que cada um – tanto os entrevistados, como os entrevistadores – estavam a construir uma imagem da sua própria aldeia. Havia a aldeia dos sociólogos, nascida da acumulação de depoimentos que depois seriam quantificados estatisticamente; e a dos aldeões que, face a um questionário, de repente eram obrigados a verbalizar a imagem que tinham dela. E aqui colocou-se um novo problema: qual era o olhar da câmara? O que é que a câmara estava a construir? E hoje estou a montar um filme dificílimo sobre a construção de três imagens diferentes: uma imagem que cinematograficamente tem pouco interesse – gráficos, etc. –, que é a imagem sociológica; uma imagem verbal, que é o testemunho dos aldeões; e uma imagem icónica que é aquilo que a câmara registou. E tentar fazer com que esta última não esmague as outras, e que surjam as três como modos diferentes de construções de imagens, é um processo complicado. Mas ainda bem que eu não tinha esta ideia à partida, porque é assim que realmente se começa a tocar em coisas fundas. Dar-me conta disso obrigou-me a novas entrevistas, obrigou-me a pedir novos depoimentos aos sociólogos, e obrigou-me a voltar a filmar imagens da aldeia. PUB 3. Nós vivemos numa altura em que o mundo audiovisual está a passar por mudanças fantásticas. O digital está lentamente – ou não tão lentamente… – a apanhar a película (com que tive experiências semi-traumatisantes...). Temos cada vez mais possibilidades ao nível do digital, e é óbvio que se deixam afectar por isso quando estão a filmar, mas gostava de saber como é que vocês abordam isso em termos de montagem. Será que quando uma pessoa está a filmar digitalmente já vai ter em consideração o que é que vai acontecer em termos de montagem? E vai deixar-se afectar em termos de montagem com o que fez digitalmente? PEDRO MARQUES . Estás a perguntar se há pessoas que já sabem que não vale a pena fazer de uma certa forma porque depois se vai fazer digitalmente. É isso? PUB 3. Exactamente. Ou se é by the book, se é exactamente como fariam com película. SAGUENAIL . É também uma questão de formação, sabes. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com película e abandonei voluntariamente a película há mais de dez anos – foi uma escolha política. Acho que só quando comecei a trabalhar no vídeo é que a montagem se tornou possível e interessante. PUB ( MANUEL MOZOS). [reage por discordância] Eu peço desculpa, o tempo em que as duas cassetes tinham que voltar síncronas, e em que não se podia desmanchar uma montagem sem desmanchar tudo, não era montagem. SAGUENAIL . PANORAMA ’08 | montagem II 69 Mas ainda hoje, mesmo assim, como sempre fui montador, tenho saudade do momento em que estava de lápis branco na mão… porque a minha mão estava mais certa do que a minha cabeça. Ora, a montagem digital é só cabeça. Porque mesmo que o rendering seja imediato, não se faz durante o próprio desfile da coisa. Agora, isto é uma coisa histórica. Eu acho que o facto de utilizar a câmara digital como utilizava a câmara com película faz de mim uma espécie de dinossauro (e vê-se pelo tipo de imagens que ainda faço). Quer dizer, eu nunca penso em tratamento digital da imagem. Eu acho que há duas coisas, muito breves, que se podem dizer em relação a isso, ao nível da montagem. Eu comecei por trabalhar com película, e reconheço que o pensamento que está por trás em relação ao material e em relação aos filmes se mantém. Ou seja, eu continuo a montar em película. Continuo a tratar as coisas como se elas estivessem em película, pelo respeito e pensamento que está por detrás dos cortes, e do material, e que está presente quando estamos a mexer no material. E sinto muitas vezes nas pessoas que já só tiveram oportunidade de trabalhar com o digital, que não conseguem estar tão próximas do que é trabalhar com ideias antes de mexer nas coisas. Isto da velocidade com que as coisas acontecem hoje em dia, faz com que haja muitas versões, sem haver ideias por trás. Acho que essa preocupação que tenho em relação às ideias vem de eu ter começado a trabalhar com película. Em relação à tua pergunta: parece-me que é sobre o tratamento digital da imagem, é isso? PEDRO MARQUES . PUB 3. Sim, sim. É uma coisa que existe, há quem a use, há quem a use bastante bem. Se temos a possibilidade de utilizar isso para qualquer coisa que sabemos ser impossível de fazer por determinadas circunstâncias, não vejo que haja algo de errado. Tal como não vejo nada de errado em utilizar esse recurso se se estiver a conceber uma ideia de imagem que só é possível dessa forma. E eu já trabalhei com pessoas que fizeram esse uso ao nível da ideia, em que o realizador de forma inteligente soube adaptar a nova tecnologia, e aproveitar as possibilidades que esta lhe oferecia. Mas se me estás a dizer que deixas ficar problemas técnicos numa imagem, e que depois pões aquilo com outra luz, etc., isso já são coisas mais discutíveis, a nível do trabalho do cineasta que está em causa. Ou seja, eu acho que deve ter-se sempre um cuidado muito forte à partida, e não pensar que tudo se resolve, tal como não se deve pensar que tudo se resolve, em geral, na montagem. PEDRO MARQUES. 70 PANORAMA ’08 | montagem II A RESPEITO DA MONTAGEM: algumas notas retiradas de textos de Sergei Eisenstein MONTAGEM DAS ATRACÇÕES (1923) (Eisenstein escreve este texto durante a preparação de uma peça no Proletkult, instituição em que entrou como cenógrafo e onde encenou algumas peças, depois de estudar com Meyerhold. O Proletkult tinha por objectivo fortalecer a ideologia soviética, defendendo uma arte proletária e atacando, subvertendo, as fundações do teatro clássico. Foi quando começou a encenar peças como O Mexicano ou O Homem do Siso no Proletkult que Eisenstein desenvolveu a sua teoria da montagem das atracções.) I. A Linha Teatral do Proletkult Em duas palavras. O programa teatral do Proletkult não é o de “utilizar valores do passado” nem de “descobrir novas formas de teatro” mas sim a de suprimir a própria instituição do teatro enquanto tal, substituindo-a por uma realização que terá no seu centro o objectivo de elevar a qualificação das massas no desenvolvimento do seu modo de vida. Organizar ateliers e elaborar um sistema científico destinado a elevar esta qualificação, é essa a tarefa imediata para a secção científica do Proletkult ao nível do teatro. O restante será feito sob o signo do “provisório”; para cumprir tarefas acessórias e não essenciais do Proletkult. Este provisório segue duas linhas submetidas ao signo geral do conteúdo revolucionário. 1. Teatro figurativo-narrativo (estático, característico da ala direita, (...) na linha do antigo teatro operário do comité central do Proletkult). 2. Teatro de agitação baseado nas atracções (dinâmico, excêntrico, ala esquerda). Numa linha que preconizei com B. Arvatov como princípio de trabalho para todo o Proletkult. Esta última orientação foi prefigurada, já com alguma precisão, no Mexicano, posto em cena por V.S. Smychliaiev e pelo autor do presente artigo. (...) II. A Montagem das Atracções É utilizada pela primeira vez. Torna-se necessário explicá-la. O espectador é promovido à categoria de material essencial do teatro; o papel de todo o teatro utilitário (agitação, publicidade, propaganda pela higiene e instrução, etc.) é formatar o espectador segundo a tendência (estado de espírito) pretendida. As ferramentas dessa formatação são as várias partes constituintes do aparelho teatral (para o espectador, a “voz de ouro” de Ostoujev [cantor lírico famoso na época em que foi escrito o texto] não vale mais do que a cor do fato da prima donna (...)) trazidas, na sua variedade, para uma só unidade – o que legitima a sua presença – a sua qualidade de atracção. É atracção (do ponto de vista do teatro) todo o momento agressivo, isto é, todo o elemento do teatro que submete o espectador a uma acção sensorial ou psicológica no centro da experiência e calculada matematicamente para produzir no espectador certos choques emocionais que, por sua vez, uma vez reunidos, condicionam a possibilidade de perceber o aspecto ideológico do espectáculo apresentado, a sua conclusão ideológica final (modo de conhecimento – pela actuação viva das paixões – específico do teatro). (...) PANORAMA ’08 | montagem II 71 No plano da forma situo a atracção como elemento autónomo e primeiro na construção do espectáculo, como uma unidade molecular (ou seja, constitutiva) da eficácia do teatro e do teatro em geral. Há, a este nível, uma analogia perfeita com o «potencial figurativo» de Grosz ou os elementos de foto-ilustração de Rodchenko. Constitutivo – da mesma maneira em que é difícil delimitar o alcance do charme exercido pela nobreza do herói (momento psicológico) e onde intervém a sua sedução pessoal (quer dizer, o seu poder erótico); o efeito lírico de uma série de cenas de Chaplin é inseparável do lado de atracção do mecanismo dos seus movimentos; é de facto difícil delimitar o movimento em que o patético religioso dá lugar ao prazer sádico nas cenas de martírio dos mistérios teatrais, etc. A atracção nada tem em comum com o efeito. O efeito, ou mais exactamente o truque (já é tempo de usar este termo no lugar certo já que tem sido mal utilizado demasiadas vezes) é uma performance no domínio de uma arte determinada (sobretudo a acrobacia), não passa de uma forma de atracção apresentada (ou «vendida» como dizem os agentes do circo) de uma maneira adequada; do ponto de vista da terminologia, na medida em que designa qualquer coisa de absoluto e completo em si, é diametralmente oposta à atracção baseada exclusivamente em qualquer coisa de relativo, na reacção do espectador. Esta aproximação ao teatro altera de maneira radical os princípios de construção da “estrutura activa” (o espectáculo na sua totalidade): em vez do “reflexo” estático de um qualquer acontecimento exigido pelo tema e da possibilidade de o resolver unicamente através da montagem de acções ligadas logicamente a esse acontecimento, avançamos com a proposta de um novo procedimento: a montagem livre de acções (de atracções) selecionadas e autónomas (mesmo que estejam fora da composição específica e da cena de exposição do texto representado pelos actores) mas tendo por objectivo preciso um certo efeito temático final: é a montagem das atracções. A maneira de libertar inteiramente o teatro do jugo da “figuratividade baseada na ilusão” e da “representabilidade” – duas coisas até agora decisivas, inevitáveis e únicas possíveis – passa pela montagem de “artifícios reais”, o que autoriza, ao mesmo tempo, a imbricação na montagem de “fragmentos figurativos” inteiros e de uma intriga coerente, não como elementos que se bastam a si próprios e que determinam tudo, mas como uma atracção de forte impacto, conscientemente escolhida por cumprir um objectivo, na medida em que a única base de eficácia do espectáculo não é a “exposição do projecto do dramaturgo”, a “interpretação justa do autor”, o “reflexo fiel da época”, etc... mas apenas as atracções e o sistema que estas formam. (...) O cinema, e sobretudo o music-hall e o circo, são a escola do montador porque, concretamente, fazer um bom espectáculo (do ponto de vista da forma) é construir um programa sólido de music-hall e de circo partindo de situações da peça tida como base. A MONTAGEM DAS ATRACÇÕES NO CINEMA (1924) As reflexões que se seguem não têm por ambição servir de manifesto ou confissão, são apenas uma tentativa de esclarecer brevemente as fundações da nossa difícil ocupação. Se considerarmos o cinema um factor de influência emocional a operar nas massas (e é essa mesma a 72 PANORAMA ’08 | montagem II proposta do “Kinoks” [grupo fundado por Dziga Vertov que atacava o chamado cinema de arte, o cinema como arte de representação] que deseja a todo o custo subtrair o cinema das artes), convém inseri-lo numa continuidade e, na nossa pesquisa em volta das vias da edificação cinematográfica, de utilizar bastante a experiência e as últimas realizações alcançadas por aqueles que se fixam em objectos análogos. Principalmente, entenda-se, sublinharemos a importância do teatro na ligação ao cinema pela comunidade (a semelhança) ao nível do material fundamental: o espectador, e a comunidade de orientação e de objectivo: a formatação do espectador no sentido desejado através de uma série de pressões calculadas operadas no seu psiquismo. Considero supérfluo analisar o sentido desta concepção comum ao cinema e ao teatro (“a agitação”) na medida em que é evidente e já foi argumentado da perspectiva tanto da necessidade social (da luta de classes) como da própria natureza destas artes que, com base nas suas particularidades formais, são concebidas como uma série de golpes operados na consciência e nos sentimentos do espectador. Enfim, apenas aspirações formais deste género podem justificar as investidas que procuram dar ao espectador uma satisfação real (física e moral), como consequência da acção comum fictícia que o espectador opera com aquilo que lhe é mostrado (através da imitação motora da acção desejada e da “emoção psíquica partilhada”). Se este fenómeno, único no seu género para começar e que assegura a força de atracção do teatro, do circo, do cinema, não existisse, o esgotamento total das forças de que o homem seria mais intensivo, e os clubes desportivos teriam um número bem maior de membros que pagariam a sua dívida para com a sua própria natureza física. Assim, tal como o teatro, o cinema não pode ser compreendido se não como “uma das formas de violência”. Se os meios são diferentes, o procedimento principal é comum, é a montagem das atracções sancionada pelas minhas realizações teatrais no Poletkult e que hoje em dia emprego no cinema. É a via que liberta o filme do guião ditado pelo tema e que, pela primeira vez, inscreve sobre o plano temático e formal o material-cinema. E que, para além disso, fornece à crítica o método que permite a especialização objectiva dos teo- ou cine-fenómenos, a qual substitui a exposição impressa das impressões e simpatias pessoais recheadas de citações tiradas do último relatório político popular feito até agora. A atracção (...) tal como a concebemos, é todo o facto mostrado (acção, objecto, fenómeno, combinação, consciência, etc.) conhecido e verificado, concebido como uma pressão que produz um efeito determinado na atenção e emotividade do espectador e que, combinado com outros factos, tem por capacidade condensar a sua emoção numa ou outra direcção conforme os objectivos do espectáculo. Deste ponto de vista, o filme não pode simplesmente contentar-se a apresentar, mostrar os acontecimentos, ele é também uma selecção tendenciosa de acontecimentos, a sua confrontação, veículo das tarefas estrictamente ligadas ao sujeito, realizando, conforme o objectivo ideológico do conjunto, uma formatação adequada do público (o Kinopravda não segue esta via: o cálculo atractivo está ausente das suas construções, ele considera os temas como portadores de carácter atractivo e a montagem de bocados de filmes separados como a sua maestria puramente exterior e formal, dessimulando sob a sua brevidade uma “exposição dos factos” épica, assexuada). A grande utilização de todos estes meios de influência de classe, de classe em virtude da sua concepção formal, enquanto dado do cálculo atractivo, não é concebível se o auditório não for conhecido de antemão, selecionado e homogéneo. O emprego deste método de montagem das atracções (confrontação de factos) é muito mais válida para todo o cinema do que para o teatro, porque a primeira arte que qualifico como “arte das confrontações”, pelo facto de não mostrar factos mas imagens convencionais (fotografias) (em oposição à “acção real” do teatro (...)) PANORAMA ’08 | montagem II 73 para expôr os fenómenos mais elementares precisa apenas que os elementos que o compõem estejam em confronto (ao mostrá-los em sucessão e separadamente). A montagem (na acepção-cinema técnica do termo) – o essencial para o cinema – está profundamente fundada no carácter convencional do cinema e na particularidade correspondente da percepção. Se no teatro a influência é principalmente obtida pela percepção fisiológica de um facto que se desenrola realmente (um crime, por exemplo), no cinema, pelo contrário, ela é obtida pela confrontação e acumulação no psiquismo do espectador de associações obtidas pelo desenho do filme, e provocadas por elementos separados do facto decomposto (praticamente em “fragmentos de montagem”). São associações que no seu conjunto proporcionam, apenas deste modo, indirectamente, o mesmo efeito (e muitas vezes um efeito mais potente). Tomemos como exemplo um mesmo crime: mãos que apertam um pescoço, olhos que se reviram, faca na mão, a vítima fecha os olhos, o sangue esguicha para a parede, a vítima cai no chão, a mão limpa a faca: cada um destes fragmentos visa “provocar” associações. Um processo análogo acontece ao longo da montagem das atracções: de facto, não são os fenómenos que se confrontam, mas sim os encadeamentos de associações, ligadas na mente de um dado espectador a um dado fenómeno (percebemos perfeitamente que a série de associações provocadas no operário ou no velho Segundo Tenente Cossaco ao verem uma manifestação ser dispersada à força e, consequentemente, o efeito emocional criado pelo confronto com o material posto em imagem, será um pouco diferente). (...) Percebe-se claramente assim que o centro de gravidade da acção do cinema, em oposição ao do teatro, não está nas influências directamente fisiológicas, embora uma contaminação puramente física possa ser por vezes obtida (numa perseguição, na montagem de dois fragmentos com dois movimentos opostos numa mesma imagem). O efeito puramente fisiológico por um lado e o ritmo de montagem não foi, parece, estudado ou calculado, e se se o utiliza, é apenas porque se tem em vista uma ilustração narrativa (correspondente ao ritmo da acção da história exposta). Pedimos que não se confunda a montagem das atracções e o seu procedimento de confrontação, com o habitual paralelismo de montagem na exposição da acção – o mesmo princípio narrativo do Kinopravda onde se começa por adivinhar do que se está a tratar antes do envolvimento no tema. (...) A experiência da montagem das atracções é a confrontação das acções tendo como objectivo um efeito temático. (...) Na maioria dos filmes russos, o desastre vem de não sabermos construir conscientemente os esquemas de atracções e de só cairmos em combinações conseguidas às cegas e raramente. Temos documentos inesgotáveis para o estudo destes procedimentos (mas, de facto, apenas no plano puramente formal, e não objectivo) no filme cómico americano (o procedimento no seu aspecto puro). Se pudessemos ver os filmes de Griffith, em vez de os conhecermos apenas por descrições, aprenderíamos bastante ao nível da montagem, mas nesse caso numa orientação social hostil à nossa. Não é, contudo, necessário operar uma “transplantação” da América, embora para começar, em todos os domínios, o estudo dos procedimentos passe pela imitação. É preciso exercer a nossa capacidade de selecionar as atracções por entre os nossos próprios materiais. (...) A respeito da utilidade ou inutilidade do argumento ou da montagem livre de um material filmado arbitrariamente, convém lembrar que o argumento, mesmo que ele contenha ou não o nosso ponto 74 PANORAMA ’08 | montagem II de vista, é (como já disse a propósito do teatro) uma receita ou uma inscrição de fragmentos de montagem e de combinações pelo intermédio das quais o autor se propõe a submeter o espectador a uma série precisa de agitações, produzindo nele um efeito emocional adicional previsto e exercendo a pressão desejada na sua psique. Normalmente, já que os nossos argumentistas são totalmente incapazes de abordar a construção de um argumento, esta tarefa cabe inteiramente ao realizador. Uma transposição do tema num encadeamento de atracções, com um efeito final imposto à partida: é esta a definição que poderiamos dar do trabalho do realizador. A existência ou ausência de argumento escrito não tem de todo uma importância capital; acho que quando se efectua uma operação no espectador através de um material sem acção homogénea, bastará um esquema direccional fundamental para chegar aos resultados desejados e à escolha livre do material de montagem realizado na sua base (ausência deste esquema conduziria não à organização do material mas a um impressionismo sem esperança em volta de uma acção que deixaria de ser atractiva). No caso desta operação se efectuar por intermédio de uma construção com uma acção complexa, um argumento detalhado é manifestamente necessário. (...) Evoquei aqui um outro aspecto do trabalho repeitante à realização. Quando, ao longo do processo de construção, de filmagem e de criação de uma forma, se selecionam elementos de montagem dos fragmentos filmados, não se deve esquecer as particularidades de influência do cinema expostas no início deste artigo, que definiam a concepção da montagem como a língua indispensável, carregada de sentido e única possível, para o cinema, que oferece um perfeito paralelismo com o papel da palavra no material verbal. Na escolha e na apresentação deste material, o argumento decisivo deve ser o carácter directo e a economia das forças dispendidas durante a influência associativa. A primeira indicação prática que advém desta constatação é a escolha do ponto de vista para cada elemento, escolha exclusivamente condicionada pela precisão e força incisiva na apresentação indispensável do elemento em questão. Ao enfileirar sucessivamente os elementos da montagem, conduz-se a uma mudança permamente do ponto de vista pela relação do material mostrado (o que é uma das possibilidades puramente cinematográficas mais apaixonantes). Estritamente falando, o encastrar de um fragmento noutro fragmento através da montagem é inadmissível, cada elemento deve ser apresentado da maneira mais vantajosa possível e de um ponto de vista exclusivo. A parte do facto-cinema que passa depois, por exemplo, de um grande plano intercalado, necessita de um novo ponto de vista, diferenciado daquele do fragmento anterior ao grande plano. Assim, na exposição homogénea de um facto, o trabalho do realizador de cinema, diferente do trabalho do encenador de teatro, exige outra arte para lá daquela do meter em cena [expressão em comum na designação de realizador e encenador, em francês, língua de que se traduziu este texto] (estabelecer os planos e a representação) a ciência dos pontos calculados em função da montagem, em que a câmara “apanha” estes elementos. (...) Ao tratar o problema, que colocamos com intrasigência, do facto de “mostrar a vida quotidiana” enquanto tal, é preciso indicar que este caso particular está coberto pela tese geral da montagem das atracções e que devemos portanto duvidar da afirmação segundo a qual a essência única do cinema é essa de mostrar a vida quotidiana. Acho que a solução consiste em prorrogar as propriedades da “atracção de 1922-1923” (...) a toda a natureza do cinema na sua generalidade. A canonisação deste material, o facto de ser considerado o único aceitável, priva o cinema de flexibilidade em relação às grandes tarefas sociais, e quando o centro de gravidade da atenção dos círculos sociais se vira para outros domínios (...), não resta mais que uma “paixão” de esteta pela “vida quotidiana” (...). Ou então, PANORAMA ’08 | montagem II 75 é preciso operar “uma revolução nos fundamentos do cinema” quando se tratar de uma simples mudança de atracções. Não se trata de arrastar subrepticiamente os elementos inaceitáveis quanto à forma e impróprios ao cinema sob a capa de “planos de agitação”, mesmo que hoje se justifique com a agitação toda a inaudita massa de lixo, de trabalho sujo e falta de princípios que vemos no teatro. Afirmo ter a convicção que o futuro pertence inconstestavelmente ao filme-apresentação sem acção, sem actores, mas este futuro não virá antes de existirem as condições sociais que permitirão obter um desenvolvimento harmonioso e uma eliminação harmoniosa da natureza própria do homem que poderá então aplicar toda a sua energia na acção: a humanidade não precisará mais de encontrar a sua satisfação nos actos energéticos fictícios que lhe serão fornecidos por todo o tipo de espectáculos que se distinguem apenas pela forma como os seus actos são provocados. Esta época está ainda longe e, repito-o, não é possível neglicenciar a imensa eficácia do trabalho do modelo sobre o público. Suponho que esta campanha contra o modelo é condicionada pelo carácter repugnante do efeito que produz devido à falta de sistema e de princípios na organização do seu trabalho. [excertos retirados e traduzidos de Au delà des étoiles, textos de Sergei Eisenstein editados pelos Cahiers du Cinéma em 1974] MÉTODOS DE MONTAGEM (1929) (...) 1. Montagem Métrica O critério fundamental para esta construção é a duração precisa dos fragmentos. Estes juntam-se de acordo com o seu comprimento, no esquema formal correspondente a um compasso de música. A realização consiste na repetição desses compassos. A tensão é obtida através do efeito de aceleração mecânica encurtando os fragmentos mas preservando no entanto as proporções originais da fórmula. (...) Relações simples, que dão uma noção de claridade, são por esta razão necessárias para obter uma eficácia máxima. Por isso são encontradas em clássicos em todos os campos: na arquitectura; na cor de uma pintura; numa composição complexa de Scriabine (sendo sempre límpidas como cristal nas relações entre as partes); encenações geométricas; rigorosos projectos de Estado, etc. Um exemplo semelhante pode ser encontrado no Décimo Primeiro Ano (1928) de Vertov, onde o ritmo métrico é matematicamente tão complexo que somente com “régua” se pode descobrir a lei proporcional que o go-verna. Não é percebido por “impressão” mas por “cadência”. Não tenciono dar a ideia de que o ritmo deve ser reconhecível como parte da impressão perceptível. Pelo contrário. Embora irreconhecível, é no entanto indispensável para a “organização” da impressão sensitiva. A sua clareza permite a adequação entre a “pulsação” do filme e a “pulsação” da audiência. Sem esta adequação (que pode obter-se por muitos meios) não pode haver contacto entre ambos. Demasiada complexidade do ritmo métrico produz o caos nas impressões, em vez de uma distinta tensão emocional. Um terceiro uso da montagem métrica encontra-se entre os seus dois extremos de simplicidade e de complexidade: alternando duas durações diferentes de acordo com dois tipos de conteúdo dos fragmentos. Exemplos: a sequência do “Lezginka” em Outubro (Eisentein, 1927) e a demonstração patriótica em O Fim de São Petersburgo (Pudovskin, 1927). (O último exemplo pode ser considerado igualmente clássico no domínio da pura montagem métrica). 76 PANORAMA ’08 | montagem II Neste tipo de montagem métrica o conteúdo do quadro é subordinado ao comprimento absoluto do fragmento. Consequentemente, só a dominante do conteúdo do fragmento é considerada; estes seriam planos “sinónimos”. 2. Montagem Rítmica Neste caso, determinando o comprimento dos fragmentos, o conteúdo do quadro é um factor que possui direitos de consideração idênticos. A determinação abstracta do comprimento dos fragmentos conduz a uma relação flexível dos comprimentos reais. Neste caso, o comprimento real não coincide com o comprimento matematicamente determinado do fragmento de acordo com uma fórmula métrica. Aqui, o seu comprimento prático provém da especificidade do fragmento, planeado de acordo com a estrutura da sequência. É muito possível encontrar casos de completa identidade métrica dos fragmentos e das suas cadências rítimicas, obtidas através de uma combinação dos fragmentos de acordo com o seu conteúdo. Uma tensão formal por aceleração é neste caso obtida encurtando os fragmentos, não somente em conformidade com o plano fundamental, mas também violando este plano. A violação mais efectiva faz-se através da introdução de um material mais intenso num tempo facilmente distinguível. A sequência das escadarias de Odessa no Couraçado Potemkin (Eisenstein, 1925) é um exemplo claro deste caso. A marcha rítmica dos soldados descendo os degraus viola todas as exigências métricas. O ritmo dos cortes na montagem está dessíncrono em relação ao ritmo da marcha dos soldados e cada plano tem uma solução diferente se considerarmos todos estes aspectos. A tensão final produz-se com a mudança do ritmo dos passos a descer para outro ritmo – um novo tipo de movimento descendente – o próximo nível de intensidade da mesma actividade – o carrinho de bebé a rolar pelos degraus. O carrinho de bebé funciona directamente como um acelerador em direcção aos pés que avançam. Os passos descendentes tornam-se um rolar descendente. Podemos contrastar isto com o exemplo mencionado anteiormente, extraído de O Fim de São Petersburgo (Pudovkin, 1927), onde a intensidade é definida cortanto cada um e todos os fragmentos ao mínimo requerido dentro de uma só medida métrica. Esta montagem métrica é perfeitamente apropriada para semelhantes soluções de tempo de marcha. Contudo é inadequada para necessidades rítmicas mais complexas. Quando aplicada à força, deparamos com uma montagem falhada. Como, por exemplo, a sequência mal sucedida do baile de máscaras religioso em Tempestade sobre a Ásia (Pudovkin, 1925). Executada na base de um complexo compasso métrico, desajustada ao conteúdo específico dos diferentes fragmentos, não reproduz o ritmo da cerimónia original nem consegue organizar um ritmo cinematográfico bem sucedido. Na maior parte dos casos deste género, apenas a perplexidade é suscitada no especialista, enquanto que no espectador produz uma mera impressão confusa. (Embora um suporte artificial de acompanhamento musical possa ser dado a uma sequência tão duvidosa – como no exemplo citado – a fragilidade básica continua presente). 3. Montagem Tonal Este termo é empregue pela primeira vez. Expressa uma fase para além da montagem rítmica. Na montagem rítimica é o movimento dentro do quadro que impele o movimento da montagem de um quadro para outro. Tais movimentos no interior do quadro podem derivar de objectos em movimento ou do olhar do espectador dirigido ao longo das linhas de qualquer objecto móvel. Em montagem tonal, o movimento é entendido num sentido mais lato. O conceito de movimento abrange todos os efeitos PANORAMA ’08 | montagem II 77 dos fragmentos destinados à montagem. Aqui, a montagem é baseada no som emocional do fragmento – na sua dominante. O tom geral do fragmento. Não tenciono dizer que o som emocional do fragmento deverá ser medido “impressionisticamente”. As suas características podem, neste caso, ser medidas com a mesma exactidão como no caso mais elementar de medição “por régua” na montagem métrica. Mas as unidades de medida diferem. E as quantias a medir são diferentes. Por exemplo, o grau de vibração luminosa num fragmento não pode ser avaliado por um fotómetro, embora qualquer graduação desta vibração seja perceptível a olho nu. Se, comparativamente, dermos à designação emocional de “mais melancólico” a um fragmento, podemos, de igual modo, atribuir um coeficiente matemático ao seu grau de iluminação. Este é um caso de “tonalidade luminosa”. Ou, se o fragmento é descrito como possuindo um “som agudo” é possível encontrar por detrás desta descrição, e dentro do ângulo do quadro, muitos elementos comparativos. Este é um caso de “tonalidade gráfica”. (...) Um exemplo: a “sequência da nebelina” em Potemkin (precedendo o velório do corpo de Vakulinchuk). Aqui a montagem foi exclusivamente baseada no “som” emocional dos fragmentos – nas vibrações rítimicas que não afectam alterações de espaço. É interessante verificar, neste exemplo, que, lado a lado com o tom básico dominante, opera também uma secundária e acessória dominante rítmica. Isto encadeia a construção tonal da cena com a tradição da montagem rítmica, cujo ulterior desenvolvimento é a montagem tonal. E, como a montagem rítmica, isto é também uma variação especial da montagem métrica. Esta dominante secundária é expressa em movimentos escassamente perceptíveis: a agitação da água; o leve oscilar dos navios e bóias; a lenta ascensão do vapor, o suave poisar das gaivotas na água. (...) O aumento de tensão neste nível de montagem é também produzido por uma intensificação da mesma dominante “musical”. Um exemplo particularmente claro desta intensificação é fornecido na sequência da colheita retardada em A Linha Geral (Eisenstein, 1929). A construção deste filme como um todo, bem como nesta sequência particular, adere a um processo construtivo básico. Nomeadamente: um conflito entre a história e a sua forma tradicional. São estruturas emotivas aplicadas a um material não-emocional. (...) 4. Montagem Harmónica Na minha opinião, a montagem harmónica (...) é organicamente o desenvolvimento mais elevado na linha de montagem tonal. Como indiquei, distingue-se da montagem tonal pelo cálculo colectivo de todas as capacidades dos fragmentos. Esta característica aumenta a impressão desde um colorido melódico emocional até uma percepção fisiológica. Representa um nível relacionado com níveis anteriores. Estas quatro categorias são métodos de montagem. Tornam-se “construções” de montagens distintas quando entram em relações de conflito entre si – como nos exemplos citados. Dentro do esquema de relações mútuas, ecoando e entrando em conflito umas com as outras, transformam-se num tipo de montagem cada vez mais definido, cada uma distinguindo-se organicamente das outras. Consequentemente, a transição de métricas para ritmos surge no conflito entre o comprimento do plano e o movimento no interior do quadro. A montagem tonal deriva do conflito entre os princípios rítmicos e tonais do fragmento. E finalmente – a montagem harmónica deriva do conflito entre o tom principal do fragmento (sua dominante) e a harmonia. 78 PANORAMA ’08 | montagem II Estas considerações dão-nos, em primeiro lugar, um critério interessante para a apreciação da construção de montagem dum ponto de vista “pictórico”. O picturialismo é aqui contrastado com o “cinematicismo”, isto é, o picturialismo estético com realidade fisiológica. Seria ingénuo argumentar sobre o picturialismo do plano cinematográfico (...). Nenhum principiante de cinema se atreveria a analisar a imagem do filme de um ponto de vista idêntico ao da pintura de uma paisagem. O que se segue pode ser considerado como um critério de “picturialismo” na construção da montagem em sentido geral: o conflito deve ser resolvido dentro de uma ou outra categoria de montagem, sem permitir que se desvie das diferentes categorias de montagem. A verdadeira cinematografia só começa com a colisão das várias modificações cinemáticas de movimento e vibração. Por exemplo, o conflito “pictórico” de figura e horizonte (o facto de ser um conflito estático ou dinâmico não é importante). Ou a alternância de fragmentos diferentemente iluminados, unicamente do ponto de vista de vibrações de luz contrastantes, ou de um conflito entre a forma de um objecto e a sua iluminação, etc. Devemos também definir o que caracteriza o impacto das várias formas de montagem no complexo psíquico-fisiológico da pessoa tendo em conta determinados objectivos. A primeira categoria métrica, é caracterizada por uma rude força motriz. É capaz de impelir o espectador a reproduzir a acção observada do exterior. Por exemplo, a competição da ceifa em A Linha Geral é cortada deste modo. Os diferentes fragmentos são “sinónimos” – contêm um simples movimento de ceifa de um dos lados do plano para o outro; não pude deixar de rir, quando vi os mais impressionáveis membros do público a balançarem-se despercebidamente de um lado para o outro a uma velocidade crescente à medida que os fragmentos de um filme eram acelerados por encurtamento. O efeito era o mesmo que o de uma banda de percursão tocando uma simples marcha. Designei a segunda categoria como rítmica. Pode também ser chamada primitiva-emotiva. Aqui, o movimento é calculado com mais subtileza, pois embora a emoção seja também um dos resultados do movimento, este não é meramente uma mudança externa primária. A terceira categoria – tonal – pode também ser chamada melódico-emotiva. Aqui, o movimento, deixando já de ser uma simples mudança como no segundo caso, transforma-se distintivamente numa vibração emotiva de categoria ainda mais elevada. A quarta categoria – uma corrente fresca de fisiologismo puro – ecoa no mais alto grau de intensidade, em relação à primeira categoria, adquirindo novamente um certo grau de intensificação por meio de uma força motriz directa. Em música isto é explicado pelo facto de que desde o momento em que as harmonias podem ser ouvidas paralelamente ao som básico, podem também ser sentidas vibrações, oscilações que deixam de impressionar como tons, mas antes como puras deslocações físicas de impressão percebida. Isto refere-se particularmente a instrumentos com um timbre fortemente pronunciado e com grande preponderância do princípio harmónico. A sensação de deslocação física é também, algumas vezes, conseguida literalmente: sinos, orgãos, grandes tambores turcos, etc. Em algumas sequências, o filme A Linha geral é bem sucedido na realização da junção de linhas de tom e de harmonia. Por vezes, estas chegam a colidir com as linhas métrica e rítmica. Como nos vários “enredos” da cena da procissão religiosa: os figurantes que caem de joelhos ante os ícones, as velas que se derretem, os suspiros de êxtase, etc. É interessante notar que ao seleccionar os fragmentos para a montagem desta sequência, munimo-nos insconscientemente com a prova de uma igualdade PANORAMA ’08 | montagem II 79 essencial existente entre ritmo e tom, estabelecendo esta unidade gradual de um modo idêntico ao que tínhamos previamente estabelecido entre os conceitos de plano e de montagem. Consequentemente, o tom é um nível de ritmo. (...) 5. Montagem Intelectual A montagem intelectual é uma montagem não de sons harmónicos, geralmente fisiológicos, mas de sons e de harmonias de uma categoria intelectual, como por exemplo: conflito-justaposição tendo como resultado um impacto intelectual. A qualidade gradual é aqui determinada pelo facto de, em princípio, não existir diferença entre o movimento de um homem balançando-se sob a influência da montagem métrica elementar (ver acima) e o processo intelectual que lhe é inerente, porque o processo intelectual é a mesma agitação, mas no domínio dos centros nervosos superiores. (...) Aplicando a experiência do trabalho, ao longo de linhas inferiores para categorias de ordem superior, isto possibilita-nos continuar a análise até ao cerne das coisas e dos fenómenos. Consequentemente, a quinta categoria, constitui a harmonia intelectual. Um exemplo disto pode ser encontrado na sequência dos “deuses” no filme Outubro (Eisenstein, 1927) onde todas as condições para a sua comparação dependem exclusivamente do som intelectual – de classe – de cada fragmento na sua relação com Deus. Digo de classe, pois embora o princípio emocional seja universalmente humano, o princípio intelectual é profundamente influenciado pela classe social. Estes fragmentos foram montados de acordo com uma escala intelectual descendente – reduzindo o conceito de Deus às suas origens, forçando o espectador a aperceber-se desta “progressão” intelectualmente. Mas isto, está claro, não é ainda o cinema intelectual que tenho vindo a anunciar há alguns anos! O cinema intelectual será aquele que resolve o conflito-justaposição das harmonias fisiológicas e intelectuais. Construindo uma forma de cinematografia completamente nova – a compreensão da revolução na história geral da cultura; construindo uma síntese de ciência, arte e militância de classe. Na minha opinião, a questão da harmonia é de amplo significado para o futuro dos nossos filmes. Mais uma razão para estudarmos a sua metodologia e conduzirmos as nossas investigações nesse sentido. [retirado de Estéticas do Cinema com textos selecionado por Eduardo Geada, edição da Dom Quixote] MONTAGEM (1938) Houve uma época no nosso cinema em que se proclamava que a montagem era tudo. Estamos hoje no termo dum período em que a montagem não é nada. Sem admitir que a montagem seja tudo, sem considerar que nada seja, parece-nos necessário lembrar, na hora presente, que a montagem é parte intrínseca da obra cinematográfica, contribuindo para a eficácia desta arte com a mesma relevância de todos os outros elementos. (...) Com efeito, os autores duma série de filmes recentes espezinharam a montagem a ponto de esquecer a sua finalidade essencial e a missão em que se fixa toda a obra de arte – missão inseparável do seu papel de conhecimento – que é a de fornecer uma exposição logicamente coerente do tema, do assunto, da acção, dos comportamentos, do movimento dentro de cada episódio e dentro de todo o drama. Alguns mestres de cinema, por vezes muito eminentes, parecem, em numerosos casos e nos mais diversos géneros 80 PANORAMA ’08 | montagem II cinematográficos, ter perdido o sentido da narração seguida, lógica, às vezes simplesmente coerente (sem falarmos já da narração patética). Este facto obriga, senão a criticar esses mestres, pelo menos a dar-lhes batalha pela tão esquecida arte da montagem. Tanto mais que a missão dos nossos filmes não é só a de contar com lógica e coerência mas com um máximo de capacidade patética de emoção. A montagem é um precioso auxiliar no cumprimento desta missão. ...Por que a praticamos nós? Mesmo os mais irredutíveis adversários da montagem estão de acordo em que tal não se deve apenas ao facto de não dispormos duma película infinita, o que, condenando-nos a dimensões limitadas, nos força, de tempos a tempos, a colar duas pontas de filme. Os «esquerdistas» da montagem caíam no exagero inverso. Fazendo malabarismos com os troços de filme, tinham descoberto uma qualidade que, durante muito tempo os deixou inebriados: dois planos quaisquer, uma vez colados, combinam-se infalivelmente numa nova representação, proveniente desta justaposição como uma qualidade nova. Esta particularidade não pertence em exclusivo ao cinema. Encontra-se, necessariamente, o mesmo fenómeno em todos os casos em que sejam justapostos dois factos, dois processos, dois objectos. O hábito quase nos faz elaborar automaticamente certas generalizações-cliché desde que nos sejam apresentados lado a lado determinados pares de objectos. Consideremos, por exemplo, um túmulo. Se justapusermos a esta imagem uma mulher de luto chorando ao lado, toda a gente concluirá: «a viúva». É desta reacção natural que Ambrose Bierce tira partido numa das suas Fábulas Fantásticas: a Viúva Inconsolável: « Uma mulher, de luto pesado, chora sobre um túmulo. – Consolai-vos, senhora – diz-lhe um desconhecido condoído. – A misericórdia divina é infinita. Há-de existir em qualquer parte um homem, além do seu defunto marido, com quem podeis ainda ser feliz. A mulher desfaz-se em soluços: – Existia – diz – existia. É esta exactamente a sua campa.» Todo o efeito da narrativa provém do facto de um túmulo e uma mulher de luto se combinarem, de acordo com uma imagem estabelecida, para fornecer a representação duma viúva que chora o marido, quando, no caso presente, se deplora a perda dum amante. (...) Nada surpreende que uma certa conclusão se forme no espírito do espectador graças à justaposição de duas pontas de película coladas uma à outra. (...) O que ainda hoje se mantém válido é o facto da justaposição de dois fragmentos de filme se assemelhar mais ao seu produto do que à sua soma. Assemelha-se ao produto e não à soma – na medida em que o resultado da justaposição difere sempre qualitativamente (calculado em expoentes, se assim se preferir) de cada um dos componentes considerados à parte. Para voltarmos ao nosso exemplo, a mulher é um objecto de percepção, o vestido negro que usava é também um objecto de percepção, e uma e outro, objectos concretamente perceptíveis. Mas a «viúva» saída da justaposição destas duas percepções não é concretamente perceptível, é um novo conceito, uma nova representação, uma nova imagem. (...) Era necessário que nos ocupássemo da natureza desse princípio unificador, desse princípio que, para cada obra, gera, na mesma medida, quer o conteúdo da sequência, quer aquele que é revelado pela justaposição das sequências. PANORAMA ’08 | montagem II 81 Mas para isso era preciso, em primeiro lugar, que o interesse do experimentador não incidisse sobre os casos paradoxais em que o todo, o conjunto, o resultado final, longe de terem sido previstos, surgissem contra toda a expectativa. Era também preciso que nos interessássemos pelos casos em que os elementos não eram apenas correlativos mas em que o resultado final, o conjunto, o todo fossem previstos e que, por vezes mesmo, tivessem pré-determinado os elementos e as condições da sua justaposição. São os casos normais, habituais, os mais frequentes. Também aqui o conjunto surgiria como um «terceiro termo». Mas o quadro completo do processo pelo qual se determinam a sequência, a montagem e o conteúdo duma e doutra seria mais demonstrativo e mais evidente. E são estes, justamente, os casos que se revelam típicos para o cinema. Considerada a montagem nesta acepção, tanto as sequências como a sua justaposição se encontram situadas na sua autêntica relação. Mais ainda: a própria natureza da montagem, longe de romper com os princípios do realismo cinematográfico, apresenta-se como um dos processo mais lógicos e mais legítimos para fazer aparecer o realismo do conteúdo. Que é, com efeito, a montagem assim concebida? No caso presente, os elementos já não existem como qualquer coisa de independente, mas como uma representação particular dum único tema de conjunto que a todos igualmente atravessa. A justaposição destes detalhes particulares num certo modo de montagem realça, torna perceptível o conjunto que gerou cada parte, liga-os uns aos outros num todo, naquela imagem sintéctica em que o autor e, depois dele, o espectador, reviverão o tema em questão. Se, nesta altura, considerarmos dois elementos lado a lado, a sua justaposição aparecer-nos-á a uma luz ligeiramente diferente. O elemento A, tirado do tema a desenvolver, e o elemento B, da mesma proveniência originam, quando se justapõem, uma imagem em que o conteúdo do tema se materializa com o máximo esplendor. Traduzida em forma normativa, com maior preocupação de precisão e de eficácia, a proposição pode enunciar-se do seguinte modo: a representação A e a representação B devem ser escolhidas entre todos os detalhes possíveis no interior do tema desenvolvido e de tal maneira rebuscadas que a sua justaposição – a sua e não a dos outros elementos – suscite na sua percepção e na afectividade do espectador a imagem mais completamente exaustiva do próprio tema. Para o nosso raciocínio utilizámos dois termos: «representação» e «imagem». Precisemos a distinção que entre eles se estabelece. Eis um exemplo que a tornará sensível. Supunhamos um círculo branco de diâmetro médio e de superfície lisa, cuja circunferência esteja dividida em sessenta graduações equidistantes. Algarismos de um a doze inclusive, situam-se após cada grupo de cinco graduações. Fixaram-se ao centro duas placas metálicas que giram à roda das respectivas extremidades, sendo a extremidade livre em ponta: uma das placas é de dimensão igual ao raio, a outra um pouco mais curta. Estando a ponta da placa maior pendurada no número doze e vindo a mais pequena deter-se sucessivamente sobre os números um, dois, três, etc., até ao doze inclusive, obteremos uma série de representações geométricas sucessivas, visto que as duas placas metálicas formam sucessivamente uma em relação à outra, ângulos de 30º, 60º, 90º, etc., até 360º inclusive. Mas se o círculo em questão estiver munido de um mecanismo para fazer avançar regularmente as placas metálicas, a figura geométrica que se forma à superfície reveste um sentido particular: já não é somente uma representação; é, agora, uma imagem do tempo. 82 PANORAMA ’08 | montagem II No caso presente, a representação e a imagem por ela suscitada formam a tal ponto bloco na percepção, que se requerem circunstâncias muito particulares para se separar do conceito de tempo a figura geométrica das agulhas. A coisa pode, todavia, acontecer a qualquer pessoa, em circunstâncias excepcionais, é certo. Recordemos Vronski depois de Ana Karenina lhe ter participado que está grávida. No início do capítulo XXIV da segunda parte do romance de Tolstoi, estamos justamente em presença dum caso daquele género: «Na varanda dos Karenine, Vronski olhou o pêndulo; estava de tal modo transtornado e embrenhado nos seus próprios pensamentos que via os ponteiros no mostrador sem poder compreender que horas eram.» A imagem do tempo fornecida pelos ponteiros já não se formava nele. Via apenas a representação geométrica dos ponteiros no mostrador. (...) Semelhante configuração dos ponteiros no mostrador contém uma multidão de conceitos, associados à hora a que corresponde o número indicado. Vamos supor que se trata do número cinco. Neste caso a nossa imaginação é levada a fazer afluir à memória, em resposta a este sinal, o turbilhão dos acontecimentos que se verificam à hora em questão: refeição, fim do dia de trabalho, afluência ao metropolitano, fecho das livrarias, ou até a luz crepuscular tão característica deste momento do dia... Em resumo, toda uma série de quadros (de representações) daquilo que se faz às cinco horas. A totalidade desses quadros constitui a imagem das cinco horas. É o «processus» no seu desenrolar integral, no estádio de assimilação, quando se trata de fazer sair duma representação numerada a imagem das horas do dia e da noite. Actuam em seguida as leis da economia da energia psíquica. Produz-se uma «condensação» no interior do «processus» descrito: a cadeia dos elos intermediários desaparece, elabora-se uma associação imediata, directa, instantânea, entre o número e a percepção da imagem-hora à qual ele corresponde. No exemplo de Vronski, vimos que, sob a influência do choque afectivo, esta associação pode ser perturbada dissociando-se então a representação da imagem. Mas o que nos interessa é o quadro completo da formação da imagem a partir da representação, tal como o esboçámos de início. Interessa-nos esse quadro porque o mecanismo da formação da imagem na vida serve de protótipo àquilo que constitui em arte o método de criação das imagens estéticas. Insistimos também em lembrar que entre a representação da hora no mostrador e a percepção da imagem desse instante do dia, desenvolve-se todo um rosário de representações dos aspectos particulares característicos da hora em questão. O treino psicológico dá como resultado, repetimo-lo, que os elos intermediários sejam reduzidos ao mínimo, aparecendo-nos apenas perceptíveis o começo e o fim do «processus». Mas, desde que nos seja preciso, por qualquer razão, associar certa representação à imagem que ela deve despertar, temos necessariamente de recorrer a este encadeamento de representações intermédias cuja colecção forma uma imagem. Consideremos, para começar, um exemplo tirado da vida quotidiana e próximo daquela que acabamos de analisar. Em Nova Iorque, a maior parte das ruas, não têm nome. Designam-se por números: quinta avenida, rua nº42, etc.. Para os recém-chegados, este processo de designação levanta, nos primeiros tempos, PANORAMA ’08 | montagem II 83 agudos problemas de memória. Estamos habituados a que as ruas tenham nomes, o que facilita a tarefa, dado que um nome evoca imediatamente a imagem, fazendo o seu enunciado afluir, com a imagem, todo um grupo de sensações. Tenho grande dificuldade em lembrar-me da imagem das ruas de Nova Iorque, e, portanto, em conhecê-las. Designadas por números neutros – 42 ou 45 – não me evocam qualquer imagem que concentre a sensação do traçado próprio de tal ou tal artéria. Para chegar a isso, foi-me preciso lembrar um conjunto de índices completos característicos duma e doutra rua, conjunto que se apresentava ao meu espírito em resposta ao sinal «quarenta e dois», suscitando o sinal «quarenta e cinco» uma outra diferente. Para cada rua que queria fixar, coleccionava na minha memória os teatros, os cinemas, as lojas, os prédios característicos, etc. A operação, para os reter na memória fazia-se por etapas. Podem distinguir-se duas. Na primeira a designação verbal «rua quarenta e dois», reagia a memória com grandes dificuldades peneirando toda a série de elementos característicos desta rua; mas não havia a verdadeira sensação dessa rua, pois nesse instante os elementos não se combinavam em imagem. Apenas à segunda etapa se fundiam numa imagem única; ao enunciar-se um número, surgiam como em turbilhão os seus elementos consecutivos, não já como num encadeado mas como um todo único, como a face integral da rua, como a sua imagem integral. Somente a partir desse momento se podia dizer que a rua fora verdadeiramente registada pela memória. A sua imagem começava a surgir, a viver, na consciência e na sensibilidade e exactamente da mesma maneira que, da obra de arte, se desprende pouco a pouco, a partir dos elementos que a formam, uma imagem una e total que não mais se esquece. Em qualquer dos casos, quer se trate do processo de registo pela memória ou da percepção estética, a mesma lei permanece verdadeira: a parte penetra na consciência e na sensibilidade por intermédio do todo e o todo por intermédio da imagem. Esta imagem penetra na consciência e na sensiblidade e por meio da soma cada detalhe é aí conservado nas sensações e na memória sem que se possa separá-lo do todo. Pode tratar-se de uma imagem sonora, de um quadro melódico e rítmico, ou pode tratar-se de uma imagem plástica, em que os elementos da série fixada pela memória se vêm inserir a título de representações. Num e noutro caso, a série de conceitos organiza-se na sua recepção, na consciência, numa imagem total a que se agregam os elementos fragmentários. Já vimos que o registo pela memória comporta duas etapas essenciais: a primeira é a formação da imagem, a segunda o resultado dessa formação, e seu significado para a evocação. Além disso é importante para a memória conceder a menor atenção possível à primeria etapa, chegando rapidamente ao resultado, uma vez ultrapassado o processo de formação. É o que distingue a prática da vida da prática da arte. Porque, se passarmos a este domínio, assistiremos a uma nítida deslocação do acento tónico. A obra de arte procura, bem entendido, atingir o resultado. Mas é sobre o «processus» que ela orienta toda a subtileza dos seus métodos. Encarada no seu dinamismo, a obra de arte é um processo de formação das imagens na sensibilidade e na inteligência do espectador. É nisto que consiste a essência de uma obra de arte autênticamente viva, é isto que a distingue das obras mortas, nas quais se leva ao conhecimento do espectador o resultado representado dum processus de criação que prefez a sua evolução em vez de se arrastar esse espectador na própria evolução do processus. 84 PANORAMA ’08 | montagem II Esta condição confirma-se sempre em qualquer lugar, seja qual for o domínio da arte abordada. É assim que, apara o autor, «interpretar como na vida» consiste menos em representar o resultado copiado dos sentimentos do que em fazer nascer esses sentimentos, em fazer com que se desenvolvam e se transformem, em torná-los vivos perante o espectador. É por isso que a imagem duma cena, dum episódio, duma obra, etc., não existe como um dado pré-fabricado, antes deve desabrochar, expandir-se. É por isso também que uma personagem só dá a impressão de vida quando o seu carácter se forma no decurso da acção, se não for um fantoche mecânico rotulado a priori. No drama, importa particularmente que o curso dos acontecimentos não se limite a formar representações do carácter, mas que constitua, que se transforme em imagem do próprio carácter. Em resumo, o método de criação das imagens na obra de arte deve reproduzir o «processus» pelo qual, na vida, a consciência e sensibilidade se enriquecem com novas imagens. Acabámos de ilustrar o que precede com o exemplo da Rua 42. Somos levados a acreditar que o artista, se pretende exprimir uma certa imagem através da representação dum facto, recorra a um método do género daquele de que nós nos servimos para conhecer Nova Iorque. Também analisámos o exemplo do mostrador que nos revelou o mecanismo pelo qual a imagem do tempo sai desta representação. Para gerar a imagem, a obra de arte deve criar um encadeado de representações por um sistema análogo. Voltemos ao exemplo do relógio. No caso de Vronski, a figura geométrica não evocou a imagem da hora. Mas apresentam-se por vezes alguns casos em que o interesse não é perceber que são astronomicamente zero horas mas, pelo contrário, sentir que é meia-noite no conjunto das associações e dos estados afectivos que o autor é levado a suscitar pelas necessidades do assunto. Pode ser a hora em que esperamos angustiadamente por um encontro à meia-noite, pode ser a hora duma morte à meia-noite, pode ser a fatídica meia-noite duma evasão, em suma, algo mais do que a simples representação da hora zero dos astrónomos. Então, o que deve sair da representação das doze badaladas é a imagem da meia-noite «hora do destino», uma meia-noite plena de sentido especial. Ilustremos o caso com um exemplo. É o Maupassant de Bel Ami que o vai inspirar. O exemplo é interessante porque é sonoro. É ainda mais interessante por se tratar dum modelo de montagem graças à escolha judiciosa do método e pelo facto de ser apresentado no romance como uma simples pintura de costumes. Bel Ami. A cena em que Georges Duroy, que escreve já o seu nome «du Roy», espera, num fiacre, por Susana, que prometeu fugir com ele à meia-noite. A meia-noite, aqui, nada tem a ver com o tempo astronómico. É fundamentalmente a hora em que arriscamos tudo, ou quase. A hora em que o herói tem o direito de pensar: «Acabou-se. Falhou. Ela não virá.». Eis como Maupassant grava no espírito e na sensibilidade do leitor a imagem desta hora, o seu significado, em lugar de se limitar a descrever um momento da noite de que se trata: «... Voltou a sair por volta das onze horas, errou ao acaso durante algum tempo, tomou um fiacre e mandou parar na Praça da Concórdia, ao longo das escadas do Ministério da Marinha. PANORAMA ’08 | montagem II 85 De tempos a tempos acendia um fósforo para ver as horas no seu relógio. Quando viu que se aproximava a meia-noite, a sua impaciência tornou-se febril. Instante a instante deitava a cabeça pela portinhola a observar. Um relógio distante deu as doze badaladas, depois um outro mais próximo, a seguir dois ao mesmo tempo e logo um último muito ao longe. Quando este acabou de soar, pensou: «Acabou-se. Falhou. Ela não virá». Estava, todavia, resolvido a esperar até que fosse dia. Neste casos é preciso ser-se paciente. Ouviu ainda dar o quarto de hora, depois a meia hora, os três quartos de hora; e todos os relógios repetiram uma hora, do mesmo modo que tinham anunciado a meia-noite.» Vê-se que, logo que Maupassant teve necessidade de transmitir a tonalidade afectiva da meia-noite, não se contentou em ter posto um relógio a tocar doze vezes e depois uma. Fez-nos reviver a sensação de meia-noite fazendo ecoar as doze badaladas em diferentes lugares e em distantes diferentes. À medida que se adicionam na nossa consciência, todos estes sons se organizam num sentimento global da meia-noite. As representações isoladas combinam-se numa imagem. E este resultado é obtido pelos mais rigorosos processos de montagem. O exemplo em questão é verdadeiro modelo de montagem requintada em que a sonoridade das doze badaladas vem inscrever-se sobre toda uma série de planos: «um relógio distante», «um outro mais próximo», «um último muito ao longe». Trata-se de badaladas de relógios tomadas a distâncias diversas, como que fotografadas em escalas diferentes e repetidas numa série de três sequências, em plano geral, em plano americano e em panorâmica... Além de que o som dos relógios, ou melhor, a sua dissonância, não é de modo algum escolhida aqui como um detalhe naturalista do Paris nocturno. Por meio dessa dissonância, o que permanece como obsessão é a imagem afectiva «meia-noite, hora do Destino», e não o simples aviso: «zero horas». Se tivesse simplesmente desejado trazer ao nosso conhecimento que era meia-noite, Maupassant não teria seguramente recorrido a este rebuscado processo de escrita. E, paralelamente, sem o processo de montagem que escolheu, nunca teria obtido, com a máxima economia de meios, um efeito de emoção tão intenso. A propósito de horas e de relógios seja-me permitido relatar aqui uma recordação pessoal. No Palácio de Inverno, durante a realização de Outubro (1927), descobrimos um curioso pêndulo antigo cujo quadrante principal era bordado por uma grinalda de pequenos quadrantes cada um deles com nomes de cidades – Paris, Londres, Nova Iorque, etc. – e que indicavam as horas em Moscovo ou em Petersburgo, se bem me lembro. O aspecto deste relógio gravou-se-me na memória. Quando, no filme, precisei de dar relevo ao minuto histórico da vitória dos sovietes, o pêndulo inspirou-me uma montagem original: a hora da queda do governo provisório, indicada primeiramente segundo o meridiano de Petrogrado foi mandada repetir por todo os quadrantes, onde era lida segundo o meridiano de Londres, o de Paris, o de Nova Iorque, etc.. Neste ponto, ouço distintamente uma pergunta dos meus inevitáveis adversários: «e se o nosso problema for uma tomada de vistas de longa duração, onde um actor interpreta sem interrupção, sem cortes de montagem? Deixará a sua presença de causar impressão? Não serão as interpretações dum Tcherkassov, dum Okhlopkov, dum Tchirkov, dum Sverdline que actuam?». Faríamos mal se pensássemos que a pergunta vibra uma machadada fatal na noção de montagem. O princípio da montagem é muito mais vasto. É falso supor-se que um pedaço de filme em que o actor actua sem que o realizador tenha tocado na película, seja uma composição que «escape à montagem». Totalmente falso! 86 PANORAMA ’08 | montagem II Para este caso, basta somente procurar a montagem noutro lado: na própria interpretação. (...) A montagem concorre para o realismo se, uma vez justapostos, os fragmentos que a constituem fornecem um todo, uma síntese do tema, por outras palavras, uma imagem que materialize o tema. Passando desta definição ao processus da criação, verificamos que este se desenrola como a seguir veremos. A intuição interior do autor, a sua sensibilidade, são dominadas por uma imagem que materializa afectivamente o tema. A tarefa que lhe falta realizar é a de transformar esta imagem em duas ou três representações fragmentárias, cuja soma e justaposição vão despertar na inteligência e na afectividade daquele que as recebe uma imagem sintética final, aquela mesmo que dominava o autor. Refiro-me à imagem da obra inteira e também à imagem duma cena isolada. E é absolutamente lícito falar-se, no mesmo sentido, da criação duma imagem pelo actor. O actor tem exactamente a mesma tarefa a realizar: deve traduzir em dois, três ou quatro traços de carácter ou de comportamento os elementos de base que, uma vez justapostos, recriarão a personagem, a imagem total pretendida pelo autor, pelo realizador e pelo próprio artista. Que haverá de notável neste método? Antes de mais, o seu dinamismo, o facto da imagem que se quer obter não ser dada, mas que essa imagem surja, que nasça. A imagem desejada pelo autor, pelo realizador, pelo artista e por eles fixada em elementos representativos descontínuos, deve formar-se de novo e definitivamente na percepção do espectador, aquilo para que se tende todo o seu esforço de artista. Gorki refere-se a isto de maneira particularmente atraente numa carta a Fedine: «Diz-me que o atormenta uma pergunta: «como escrever?». Há vinte e cinco anos que observo a que ponto tal problema preocupa toda a gente... Sim, é uma pergunta muito séria: também me atormentou e atormenta ainda e há-de atormentar até ao fim dos meus dias. Mas, para mim, essa pergunta formula-se do seguinte modo: como escrever para que a personagem, seja qual for, brote das suas páginas da narrativa, com todo o poder de verdade física do seu ser, com a força convincente da realidade semi-imaginária que nela vejo e que nela sinto? Eis para mim o produto da questão, eis onde reside o segredo da coisa...» A montagem permite levar a cabo essa tarefa. A virtude da montagem consiste em que a emotividade e a razão do espectador se inserem no processus da criação. Obriga-se o espectador a seguir a via percorrida pelo autor quando este construía a imagem. O espectador não vê somente os elementos representados; revive o processo dinâmico de aparição e formação da imagem de tal como foram vividos pelo autor. Este é, provavelmente, o mais alto grau possível de aproximação existente para comunicar ao espectador a ideia e o sentimento do autor na sua plenitude, com aquele «poder de verdade física» com o qual se impunham ao artista nos instantes de trabalho criador e da visão criadora. É a altura de lembrar aqui como definia Marx a progressão da verdadeira pesquisa: «O meio faz parte da verdade do mesmo modo que o resultado. É preciso que a pesquisa da verdade seja, em si mesma, verdadeira; pesquisa verdadeira é a verdade desdobrada cujos membros esparsos se reunem no resultado.» (...) Maupassant propõe a cada leitor a mesma montagem do badalar dos relógios. Sabe que tal ordenação suscitará na percepção algo mais do que uma simples informação relativa às horas: o sentimento é o significado da meia-noite. Cada espectador ouve igualmente dar a meia-noite. Mas cada espectador PANORAMA ’08 | montagem II 87 forma a sua própria imagem, a sua própria noção de meia-noite e o seu significado. Todas estas noções representam imagens individuais, diferentes, ainda que tematicamente idênticas. Cada imagem desta meia-noite é para cada leitor-espectador uma imagem de autor; mas ela é também do mesmo modo a sua imagem própria, viva, familiar, «íntima». A imagem inventada pelo autor transforma-se em substância de imagem do espectador... fabricada por mim espectador, em mim nascida, surgida. Não apenas a obra do autor, mas a minha obra de espectador, de espectador que é também um criador. (...) Podemos dizer agora que o princípio da montagem, contrariamente ao da representação, obriga o espectador a criar e que é graças a isto que ele atinge, no espectador, aquela força de emoção criadora interior [Nota do autor: é óbvio que o tema por si só pode emocionar, independentemente da forma pela qual é apresentado. Mas trata-se aqui pela qual a arte permite realizar em si a emoção dum tema ou de um acontecimento até ao grau máximo de acção. Também é perfeitamente evidente que, neste campo, a montagem não constitui um processo que dispense todos os autores, embora se trate de um meio bastante poderoso] que distingue a obra patética do simples enunciado lógico dos acontecimentos. Descobrimos ao mesmo tempo que a montagem cinematográfica é apenas uma aplicação praticada do princípio geral da montagem, princípio que, assim entendido, ultrapassa de longe os limites da simples colagem de fragmentos de película. Semelhantes quadros, tendo sido objecto duma selecção rigorosa, e reduzidos ao laconismo limite de dois ou três pormenores, encontram-se em profusão nos melhores exemplos da literatura. (...) [excertos retirados Reflexões de um Cineasta conjunto de textos de Sergei Eisenstein traduzidos por José Fonseca e Costa e editados em 1972 pela Arcádia] 88 PANORAMA ’08 | montagem II debate MONTAGEM III: colagens (ou do encontro de materiais) PROGRAMAÇÃO: Fernando Lopes Graça | Graça Castanheira [52’] Ricardo Rangel, Ferro em Brasa | Licínio de Azevedo [52’] Filhos do Tédio | Rodrigo Fernandes e Rita Alcaire [48’] Rockumentário | Sandra Castiço [40’] Sobre o Lado Esquerdo | Margarida Gil [50’] A Terra antes do Céu | João Botelho [63’] U Omãi qe dava pulus | João Pinto Nogueira [87’] CONVIDADO: Manuel Mozos MODERADO POR: Ana Almeida, Fernando Carrilho 19.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | montagem III 89 90 PANORAMA ’08 | abc A nossa sugestão é que a reflexão de hoje ande à volta da seguinte ideia: como se processa a construção de um filme a partir de materiais muito heterogéneos? Começo por fazer a pergunta que temos feito no início de todos os debates: que filme pensaram fazer inicialmente e em que medida é que o processo de trabalho, nomeadamente na montagem, alterou o filme que tinham inicialmente pensado? Será que há uma grande distância entre o filme imaginado, o filme pensado, e o filme que vimos hoje aqui na sessão do Panorama? ANA ALMEIDA . O meu filme é tão insólito que é difícil falar dele a partir de um modo de produção mais marcado pela montagem, ou mais marcado pela câmara. Visto que é um filme sobre a obra de um escritor, é marcado pelo texto: há uma vontade de encontrar um equivalente ao universo poético de um escritor, no caso Carlos de Oliveira. É um escritor que eu conheci razoavelmente bem e por quem sempre tive uma enorme admiração, o que pode tolher, pode paralisar: uma admiração por um autor não é a melhor maneira de partir para um filme sobre esse autor. Poderia fazer um documentário biográfico, segundo modelos pré-existentes, mas não era propriamente o que eu queria, até porque me sentia demasiado próxima, pessoalmente. Portanto, a forma que eu encontrei para me defender, foi baralhar completamente as coisas. E então levei os objectos pessoais do Carlos de Oliveira (a Maria Ângela, a viúva do Carlos de Oliveira, cedeu-me tudo) para estúdio, para o artifício. E a sua zona geográfica de origem é Gandara, e eu transportei-a para uma maquete, em que as dunas foram feitas com areia, as árvores foram plantadas enquanto miniaturas. E há actores, como o Luís Miguel Cintra, a Laura Soveral, e outros não actores como o Manuel Gusmão (que aliás fez comigo o guião), o Fernando Lopes, pessoas que têm uma relação, por diversas razões, com a obra de Carlos de Oliveira. E tudo isto, esta ideia de palimpsesto, de caixa chinesa, são formas de eu me afastar do autor. Era a única maneira que eu tinha de fazer um documentário sobre aquele universo, cuja base, cujos pilares principais passam pelo texto. Fazer um documentário sobre uma obra literária tendo o autor lá dentro era o que eu queria fazer. MARGARIDA GIL [ SOBRE O LADO ESQUERDO]. A pergunta é se o filme que eu pensei fazer no início é este: eu acho que é. Agora, se era de outra forma: eu penso que era. Eu levei muito tempo a fazer este filme, demorei vários anos. E começou por nem ser este o filme que eu queria fazer. Comecei por adaptar um conto do Nuno Bragança, O Imitador, que saiu na revista O Tempo e o Modo nos anos 60, para fazer um filme de ficção. Mas nunca consegui que o ICAM ou o IPC ou o ICA me desse subsídio para o fazer. E então houve uma pessoa numa produtora para a qual eu trabalhei, que me disse: “pá, estás sempre a ler o Nuno Bragança. Já leste tudo várias vezes: faz um filme sobre ele. Estuda! Estuda o Nuno Bragança!”. E foi isso que eu fiz. Como vocês sabem… quer dizer, não sei se sabem, mas nós que trabalhamos nisto, quando apresentamos um projecto à produção, aos concursos do ICAM (agora ICA, talvez para o próximo ano IC, talvez no outro I, talvez depois desapareça, não sei…) temos que apresentar um guião. E quando eu fiz a investigação e escrevi o guião com a Rita Palma (com quem já trabalhei várias vezes), escrevemo-lo com um sentido: dar voz ao Nuno Bragança. Ser ele a falar novamente do que sempre falou. JOÃO PINTO NOGUEIRA [ U OMÃI QE DAVA PULUS ]. PANORAMA ’08 | montagem III 91 Lá me deram dinheiro, ao fim de uns anos (acho que foi ao fim de três anos consecutivos a concorrer) e comecei. Comecei por fazer imensas entrevistas, por falar com todas as pessoas que ia sabendo que tinham tido contacto com o Nuno, e fui remexendo nesse guião inicial. Fui arranjando material, vários materiais, da rádio, a família – a que eu estou muito agradecido – cedeu-me algumas imagens em 8mm, fotografias do Gérard Castello Lopes que também foram cedidas, da altura da rodagem do filme Nacionalidade: Português que desapareceu – tal como uns programas de poesia que ele tinha feito com a Madalena Pestana (acho) e que a RTP apagou. Há muito pouca coisa sobre o Nuno. E andei cinco anos atrás deste filme. Depois de recolher todo este material fui para a montagem. Eu não sou montador. Estou aqui num debate de montagem mas eu não sou montador. E não fui eu que montei o filme. Tive uma conversa com o Pedro Marques (que esteve cá ontem) e ele é que foi o montador do filme. Foi uma conversa longuíssima. Vimos o material, ele viu o material todo, algum eu já tinha visto, e falámos sobre isso. Sempre quis fazer um filme em que fosse o Nuno Bragança a dizer aquilo que ele andou sempre a dizer. E foi isto. O meu filme passou à tarde, e é sobre uma banda de Rock. Acho que no meu caso o filme está bem colocado neste debate da montagem. Foi o primeiro e único filme que eu fiz, só tinha o tema, e de facto o filme aconteceu na montagem. E duvidei sempre que tinha filme. Na rodagem eu achava que não tinha, e só tive a certeza que sim quando estava a montar e a criar uma narrativa e a juntar as peças. E em relação às imagens de arquivo: elas só vieram depois. Só pesquisei depois e utilizei-as um bocado para ilustrar aquilo que se ia dizendo no filme. SANDRA CASTIÇO [ROCKUMENTÁRIO]. ANA ALMEIDA. Se calhar antes de passar a palavra ao Fernando, que terá perguntas para o Manuel, pedia para que se devolvesse o microfone à Margarida e ao João, para perceber como é que, para eles, se resolve o querer fazer no problema da montagem. Por exemplo, Margarida, como é que no momento posterior à rodagem se coloca o texto? Porque para nós houve a sensação de que era nesse momento que se conseguia de facto convocar o texto. Quer dizer, era através desses materiais e desse lidar com o material… MARGARIDA GIL. O meu filme foi montado pelo João Nicolau. E é muito importante a pessoa com quem se trabalha. O João Nicolau já tinha montado o meu outro filme, o Adriana, e portanto já tenho com ele uma relação de confiança – que não é propriamente uma relação tranquila. Quer dizer, quando vou para a montagem com o João, ele está completamente livre de qualquer preconceito e de familiaridade especial, é um homem totalmente livre, e quase frio (naquela situação… não quer dizer que ele seja frio…). O que é óptimo para uma pessoa que fica sempre um bocadinho presa e apegada ao texto, a ideias que tem. A montagem é, então, um acto de sucessivas camadas que descamam, que caem. E é uma operação bastante dolorosa, a certa altura. É uma cebola que vai ficando reduzida, vai encolhendo daquilo que é espúrio, que está a mais, ou do material que não cola, não pega, não existe, não passa. E que vai caindo. E eu ali sou um bocadinho a mãe que tenta que o bebé não caia todo, não vá todo com a água do banho. Porque a uma altura há 92 PANORAMA ’08 | montagem III uma vertigem, em que o montador vai decepando, decepando, decepando, e o realizador “ai, ai”, agarra-se à criança para ver se fica um bracito, um narizito, alguma coisa que configure aquilo que pensou. Essa relação com o montador é fundamental. E o que está em causa é devolver. Há aquele recém-nascido cheio de sangue e de porcarias e peles, e o que está em causa é devolver a sua pureza inicial, a nossa primeira ideia que já perdemos entretanto, muitas vezes. É devolver o canto inicial, e reencontrar uma coisa nova. E de facto, finalmente o que acontece na montagem é uma coisa nova. Pode ser melhor ou pode ser pior do que aquilo que se sonhou, mas é novo, é diferente. É o material. Na sua crueza, na sua pobreza ou riqueza, é outra coisa, que fala por si. Ouve-se, canta. E esse encontro pode ser violento, porque às vezes não estamos preparados para ele. Há um momento na montagem em que uma pessoa se perde completamente. E já não sabe o que é que está ali a fazer, o que é que tem, pode ser aquilo, pode ser outra coisa completamente diferente, e esse momento de perdição é terrível (o Manuel Mozos pode explicar isso muito melhor do que eu). É uma sensação de vertigem, em que o lado aleatório é terrivelmente perturbante (o lado aleatório do “porquê isto?”, “porquê um segundo mais, um segundo menos?”) e é preciso encontrar a justeza, que é algo que tem muito a ver com a música. Neste caso, o texto do Carlos de Oliveira é tão perfeito, a meu ver, que com o trabalho do poeta Manuel Gusmão sobre esse texto, já havia uma musiquinha de base. Depois o Luís Miguel [Cintra], e as pessoas que dizem o texto, o tempo do Fernando Lopes na cena... quer dizer, já há tempos particulares, segmentários, que se encaixam e que criam uma espécie de alternância, de música. É preciso uma certa... uma certa coragem, na montagem, para ir atrás disso, e não querer violentar. Ouvir. E por isso é que um montador é tão importante. Eu faço parte do grupo dos cineastas que desconfiam dos montadores. E que acham que eles estão ali para lixar um bocadinho os filmes. No princípio pensamos que somos nós a montagem, e desconfiamos, e depois há um momento terrível em que pensamos: “ele está aqui a lixar o meu filme”. Isso é fatal como o destino. Escusam de vir dizer que não acontece: acontece. E é preciso sobreviver a esse momento. É uma relação, que passa por muitas fases, e felizmente, quando há uma confiança, essencial, orgânica, é bestial. É um momento incrível. Mas é de uma tensão só equivalente à rodagem. Para mim, pelo menos. ANA ALMEIDA. No teu caso, João, a coisa é mais simples. Basta que fales um bocadinho daquelas conversas que tiveste com o Pedro Marques. JOÃO PINTO NOGUEIRA. O que eu posso acrescentar é que depois de... Eu li muito, muito, muito o Nuno Bragança. E sabia os livros, e sabia as páginas, quase. Tinha esquemas das partes que ia achando importantes e que sabia que na montagem iriam ser necessárias para a narração. Para além do material que eu tinha conseguido na RTP e na RDP. Depois, a montagem foi sendo construída baseada nesse guião inicial, sempre com a ideia de ser o Nuno a repetir aquilo que anos e anos repetiu (e algumas pessoas ouviram, outras não, mas enfim…). Fomos buscando bocados dos três livros principais dele – A Noite e o Riso, Directa e o Square Tolstoi, e houve a ideia de dividir o filme em três partes – felizmente não se sente isso – cada parte correspondendo a um destes livros, por esta ordem. Isso tornou-se o fio condutor. PANORAMA ’08 | montagem III 93 Havia ainda um outro elemento. No início pensei que era possível construir literariamente um ponto de vista. E tenho uma hora de material gravado com uma aula extraordinária da Maria Alzira Seixo sobre a literatura do Nuno Bragança, mas da qual só consegui utilizar uns segundos em que ela diz “mãos que agarram”. A construção não deu para incluir essa ideia que no início pensei que poderia acontecer (talvez um dia faça alguma coisa com aquele material). Acho que no processo de montagem, como a Margarida disse, tem que haver uma relação. Ou então é o realizador que monta, o que eu acho que é um mau sistema porque não permite a criação de uma distância em relação ao material. E passam-se horas a pensar se uma dada coisa é importante, se não é. Se houver uma relação boa com o montador, temos ali uma pessoa com uma certa distância, que está a ver o material pela primeira vez e o está a estudar pela primeira vez. E tem a ideia do que é que o realizador quer, e pronto. E assim tem mais facilidade em apresentar diferentes opções. Eu… olha, eu já trabalhei com o Manuel. O Manuel foi o montador da minha primeira curta-metragem. E foi um bocado assim, lembro-me. “Estão aqui os planos”, conversámos, “a ideia é esta”, e tal, e ele fez. Ele montou. Pronto. Eu funciono assim. MARGARIDA GIL . Eu não estou de acordo com isso. Em casa posso brincar com o final cut (como já ouvi pessoas aqui a dizer, que brincavam com o final cut quando estão a montar). Eu não brinco com o final cut nos filmes em que tenho uma certa responsabilidade. Se estou a filmar o meu neto na banheira, a tomar banho, posso montar em casa e brincar no computador. Agora, se estou a fazer um filme sobre o Nuno Bragança e que é de uma certa responsabilidade, tenho que criar as condições que acho mais honestas e mais verdadeiras para fazer o filme. E para mim isso passa por haver uma pessoa com uma certa distância do material para me ajudar a montar. Não estás de acordo… JOÃO PINTO NOGUEIRA. MARGARIDA GIL . Não, não estou. Não estou mesmo nada. Quer dizer, eu há bocado não quis dizer que acho que a montagem não é do realizador. O que não implica que não seja essencial o combate activo, cúmplice com a pessoa que está a fazer a montagem. Para mim essa relação é fundamental, como é fundamental a relação com o director de fotografia. Mas a montagem já está concebida no princípio, quando se filma. Pelo menos para mim: eu não descubro os filmes na montagem. O que não quer dizer que não valorize extremamente esse momento. Na montagem, para mim, há uma reconstituição de qualquer coisa que já está presente no princípio, na concepção, na planificação, no modo de filmar, no tempo, nos movimentos de câmara. A montagem, de certo modo, já está aí. Eu seria incapaz de dar um filme a alguém e dizer “agora tu monta”. É até uma fantasia paradisíaca: depois uma pessoa abre os olhos e tem o filme montado. Eu não acredito nisso. JOÃO PINTO NOGUEIRA. Mas não foi isso que eu disse. Desculpa lá, Margarida, não foi nada disso que eu disse. MARGARIDA GIL . 94 PANORAMA ’08 | Disseste que entregas o... montagem III JOÃO PINTO NOGUEIRA. Não. Eu não disse isso. O que eu disse foi que quando vou para a montagem, e até quando vou filmar, já tenho uma ideia do que é que quero do filme. E o que eu quero do filme inclui fotografia, som e montagem, e música. E depois fabrico o material. Quando vou para a montagem não chego lá e digo “olha, monta” e vou-me embora. Eu não disse isso. MARGARIDA GIL . Disseste. JOÃO PINTO NOGUEIRA. Não. Eu estou lá todos os dias. Estou lá com o montador, trabalho com ele e vou discutindo as hipóteses. Mas é ele que, com uma certa distância desse material, trabalha. Foi isso que eu disse. MARGARIDA GIL. Eu gostava era de saber como é que o Manuel Mozos, na sua dupla qualidade... ANA ALMEIDA . Era isso que eu ia dizer. Se calhar vamos aproveitar para ouvir um montador. Pedia ao Manuel que falasse dos filmes que viu e também sobre estas ideias que já foram lançadas para a mesa esta noite. MANUEL MOZOS . Bom, eu acho que... cada filme é um filme, e os processos da sua feitura são muito variáveis. Muitas vezes até – e aliás nos filmes do bloco de hoje há exemplos disso – os filmes são realizados e montados pela mesma pessoa (o que é bastante habitual em Portugal). No caso do meu trabalho enquanto montador é raro o realizador não acompanhar a montagem. O que por um lado me agrada, porque tenho ali o responsável máximo para me indicar o que pretende com o filme. Eu, enquanto montador, posso sugerir outras hipóteses e mostrar opções que possam existir para o filme, durante o processo. Felizmente nunca me deram um filme para eu montar, e quando acabasse o trabalho iam recolhê-lo. Já tive a sorte, digamos, de trabalhar com realizadores que me deram mais responsabilidades sobre a montagem que outros. O que quer dizer que alguns são mais ciosos do seu material, e têm mais dificuldade em estabelecer o diálogo com o montador. O que não é o caso nem da Margarida, nem do João, com quem tive o prazer de trabalhar. Felizmente os realizadores com quem trabalhei não criaram muitos conflitos, nem foram demasiado ditadores em relação ao filme que queriam. Um dos primeiros filmes em que eu trabalhei – só por uma referência e aliás, ele próprio é homenageado neste PANORAMA – foi um filme do Paulo Rocha. Era o primeiro filme em que eu trabalhava como montador (depois de já ter sido estagiário e assistente de montagem). E nesse filme do Paulo, que é um documentário semi-ficcionado (vai passar no fim desta Mostra), sobre o Amadeo de Sousa-Cardoso, eu cheguei à montagem e o Paulo disse-me: “olhe, você tem aqui o filme, agora monte”. E eu apanhei um susto enorme. O que é que eu ia fazer com o material sem indicações do Paulo? Claro que depois o processo não foi como eu pensava, o Paulo acompanhou a montagem, mas de facto ele próprio não tinha uma ideia muito concreta do filme. Ou seja, tinha pensado e estabelecido o que seria o filme, mas tinha muito material, sobretudo quadros do Amadeo e material fotográfico, e material de arquivo, e não sabia muito bem como o iria utilizar no final. E realmente foi, para mim, uma experiência fantástica porque eu próprio conheci muito melhor a vida e obra do Amadeo, e a relação de trabalho com o Paulo fez com que eu descobrisse uma série de coisas que na montagem se podem tornar mais interessantes para o filme. PANORAMA ’08 | montagem III 95 Antes disso tinha muito a ideia de que os filmes eram feitos na rodagem, e, apesar de trabalhar em montagem, não acreditava (como ainda hoje não acredito) que os filmes se fazem na montagem. Não há milagres. Há o material e é com esse material que se fará o filme. Mas claro que durante o processo de montagem podemos adquirir, através de pesquisas e informação suplementar, material que se pode juntar àquele que previamente estava estipulado. Parece-me que esse foi um pouco o que aconteceu no filme do João e da Sandra, que durante o processo foram descobrindo outras imagens, quer fílmicas, quer fotográficas, quer mesmo testemunhos ou outro tipo de informação, que fizeram com que o filme, durante a montagem, fosse reformulado. Mas eu penso que à partida os filmes, mesmo que possam sofrer desvios, estão normalmente na cabeça dos realizadores antes da montagem. A partir da tua experiência, e dado que neste bloco estão filmes que lidam com fotografias, com os chamados filmes caseiros, quando o realizador vê com muita atenção as imagens de arquivo e depois parte para a filmagem, que influência achas que tem esse processo depois na montagem? FERNANDO CARRILHO. No caso de um filme onde à partida já existe o pressuposto de trabalhar com materiais de arquivo, e se o realizador os conhece e os conhece bem, o trabalho estará mais facilitado. Embora eu julgue que nalguns filmes isso se vai construindo. A este nível se calhar os próprios realizadores dos filmes de hoje poderão dizer quanto é que ao longo do processo do filme terem descoberto outros materiais mudou o próprio filme. MANUEL MOZOS . Para mim pessoalmente, enquanto realizador de documentários em que uso sobretudo materiais de arquivo, ou em filmes onde tenho apenas imagens de arquivo (nem sequer filmo nada), esse uso implica um conhecimento muito aprofundado dos materiais, para se saber exactamente quais se quer utilizar. E isso às vezes é complicado. Porque há um lado eventualmente muito afectivo sobre os materiais, e cortar, e deitar fora… às tantas somos uma espécie de censores do trabalho, nosso ou dos outros... Não sou eu que monto os meus filmes, embora acompanhe a montagem. E, como julgo ser a opinião de todos, é importante termos alguém que nos permita outro ponto de vista ou um distanciamento sobre os materiais. No caso da Sandra sei que foi ela que montou o seu próprio filme, será mais interessante perguntar-lhe, enquanto realizadora, como é que foi esse processo. FERNANDO CARRILHO. Sandra, achas que a estrutura do teu filme seria a mesma se não tivesses as imagens de arquivo? SANDRA CASTIÇO. No meu filme eu acho que as imagens de arquivo... porque há dois filmes mais ou menos sobre a mesma cena rock em Coimbra que é o meu, o Rockumentário, e o da Rita Alcaire [Filhos do Tédio]. E acho que no meu caso as imagens de arquivo só ilustram coisas que se vão dizendo. É um uso mais ilustrativo. Eu não vi as imagens de arquivo antes, só vi depois. Pensei que era interessante encontrar uma imagem sobre um determinado pormenor, e procurei essa imagem, então. As imagens de arquivo acabam por ser mais sobre o passado. Eu fiz um 96 PANORAMA ’08 | montagem III documentário num tempo, num ano, e o filme retrata esse ano. E sempre que eles falavam do passado, eu pintei isso com imagens de arquivo. E portanto se não as tivesse, a estrutura seria a mesma, sim. No caso do filme da Rita, (ela não está cá, não pode falar nisso…) é que eu acho que esse material tem muita importância. Porque é basicamente um filme feito só com imagens de arquivo. Faço a mesma pergunta ao João: o facto de tratares imagens de arquivo influenciou ou não a tua perspectiva sobre o escritor? E estou-me a lembrar sobretudo da força que têm as imagens de 8mm. Ao observar essas imagens tiveste ou não uma outra imagem da pessoa que estavas a tentar expor no écran? FERNANDO CARRILHO. JOÃO PINTO NOGUEIRA. As imagens de 8mm foram uma sorte. E foi uma sorte elas existirem. Apareceram já numa fase final do processo do filme. E acho que ajudaram muito a contar a história ou a falar sobre o Nuno Bragança, do ponto de vista que eu queria tratar. Se eu não tivesse aquelas específicas imagens de arquivo que a família me cedeu, a única imagem que eu teria do Nuno era a da entrevista na RTP, que por seu lado também ajudou (é uma entrevista mais longa do que aquilo, mas acho que aqueles momentos são os que têm mais força, e foram logo escolhidos quando escrevemos o guião). Essas imagens só apareceram quando eu já estava na montagem com o Pedro Marques. E sei que existem mais, mas houve muita dificuldade de organização por parte das pessoas que contactaram com o Nuno e que partilharam a vida dele. A gente conhece-as: o João Bénard, o Alberto Vaz da Silva são pessoas que eu sei que têm coisas, inclusive manuscritos e... eles têm mas não sabem onde é que estão. ANA ALMEIDA. Se calhar está na altura de ouvir as opiniões do público. Alguém tem alguma questão a colocar ao Manuel ou a algum dos realizadores? PUB 1. Só vi o teu filme, João, e gostei imenso. Estava a ouvir-vos falar e a pensar como, independentemente de quando estou a ver um filme estar a ver o que o realizador fez, ou o que o montador fez, muitas vezes aquilo em que me concentro é em tudo o que ficou de fora. Seja no enquadramento, sejam sete ou oito frames que um montador decidiu tirar de um plano, seja um plano inteiro. E a minha questão é: como é que se lida com esse vazio? Com a exclusão? Por exemplo, João, estavas a falar do material todo com que ficaste, e como esperas algum dia ainda fazer alguma coisa com ele. E eu vi a maneira como enquadraste e imaginei tudo aquilo que não incluíste lá. Eu também gostava de ver o material que ficou guardado. Eu atribuí a esse teu comentário um significado de vazio, mas a minha questão é mesmo se de facto fica ou não esse vazio: o que é que fica, quando se tem de excluir tanta coisa, seja no espaço, seja no tempo? JOÃO PINTO NOGUEIRA. Neste documentário (ou neste filme...) tenho à volta de 15 horas de material, e fiquei com uma hora e um quarto. Claro que tenho pena que não haja meios financeiros para trabalharmos todos os fotogramas que filmamos, mas pronto, é o que é possível. Mas não fica vazio. Eu pelo menos não tenho essa sensação, e estou até bastante feliz com o trabalho. PUB ( MADALENA MIRANDA ). Eu gostava de colocar uma questão principalmente à Margarida e ao João (desculpa, Sandra...) que surgiu como hipótese quando fizemos a programação e decidimos criar este bloco com filmes que utilizam materiais de fontes diversas na montagem. PANORAMA ’08 | montagem III 97 Falo da questão de pensar, filmar e fazer um documentário sobre uma coisa que não pode ser filmada agora. E ela aparece tanto no tratamento do universo literário do Carlos de Oliveira, como na impossibilidade de estar com o Nuno Bragança. E aparece na necessidade de ir buscar, recolher, e trazer um universo de fragmentos, de modo a reconstruir ou tornar visível esses mundos que não se podem filmar. É verdade, isto? E é condicionante? Poderia o filme ter sido feito de outra forma? No caso do meu filme isso foi o ponto de partida: filmar uma ausência. Filmar uma ausência a partir de objectos que são do Carlos, que vêm da sua casa, cedidos pela sua viúva. Essa ausência era o corpus que me interessava filmar. E sublimar esse espaço vazio, torná-lo muito artificial, filmá-lo em estúdio, retirar tudo o que há de afecto e de relação pessoal, e entrar na obra pelo lado do texto, pelo lado do som, pelo lado da palavra dita, e as imagens e a lagoa, as imagens da lagoa, as imagens da duna transformada – posta também no estúdio. Imagens que são projectadas e são, de propósito, misturadas para baralhar completamente a pessoa, de modo a que ela não tenha pontos de repère, que não tenha referentes fixos a não ser os do texto. O que é que eu quis? Uma coisa que é à partida muito arriscada: encontrar no cinema o equivalente à linguagem poética. Isto é, o que me interessou foi o cinema. E encontrar, através da linguagem cinematográfica, a mesma intensidade poética e o mesmo rigor do Carlos de Oliveira (rigor que foi sempre a pedra de toque da sua obra). Para ser fiel ao Carlos de Oliveira teria de ser por aí. E foi tanto assim que tudo o que eram fotografias, e materiais desse género que tenho, tudo digitalizado, está montado à parte. Estará num DVD; e de forma tão radical é o uso desse material documental que estará sem qualquer orientação, não haverá nenhuma interpretação, estará ali todo e é imenso, e fica paralelamente a funcionar como um espelho do documentário sobre a obra. MARGARIDA GIL. Eu tive grandes dificuldades em apanhar realmente aquilo que queria apanhar. E o que eu queria apanhar e transmitir era sobretudo o sentimento do Nuno Bragança. Era o lado emocional e o lado sentimental do Nuno. E isso foi muito difícil porque eu não o conheci. Vi-o duas vezes. E então para fazer esse trabalho de busca da personalidade e da parte emocional e sentimental do Nuno, tive que falar com as pessoas que mais perto estiveram dele durante a sua vida. E foi através desse trabalho exaustivo, de conversa com todas aquelas pessoas e muitas outras que não estão no filme, e através da sua obra (A Directa e o Square Tolstoi são dois livros muito auto-biográficos, aliás, como o Pedro Tamen diz no filme) que consegui chegar aí. E as pessoas que partilharam a vida do Nuno têm-me dito que é o Nuno Bragança que está ali realmente... e não sou eu. E é por isso que eu estou muito feliz. JOÃO PINTO NOGUEIRA. FERNANDO CARRILHO. Margarida, em relação ao teu trabalho há também, de certa maneira, um conjunto de diversos materiais: a encenação, as filmagens da paisagem, os travellings pela floresta, a palavra, o som. Eu pergunto se quando, por exemplo, captaste as imagens na natureza, já tinhas associações a algumas partes do texto. Ah, claro. Completamente. O que filmei em exteriores foi no sentido de transfigurar a chamada natureza, tentando filmá-la como o Carlos a pintou, a descreveu. MARGARIDA GIL. 98 PANORAMA ’08 | montagem III Foi o Rui Poças que fez a fotografia, e nós filmámos o mais possível tentando reconstituir um universo através da ficção (e nesse sentido é um documentário muito sui generis), documentando através da ficção imagens evocadas e tratadas literariamente. Donde, a dificuldade. Esse material, por acaso, era bastante bonito, e usámos muito pouco para não trair o filme. E essa foi uma operação um bocado violenta, realmente. Esse tal vazio que fica... Eu lembro-me das imagens todas, tal como as pessoas que ficam sem um braço e se diz que ficam com a memória do braço. Eu sei exactamente o que filmei e o que não está lá, e às vezes, quando penso no filme, penso no princípio, no momento em que o concebi, com imagens que depois não ficaram na montagem. Isso é uma coisa às vezes terrível. Às vezes encontro uma árvore que filmei mas que não está no filme, mas porque eu a filmei, ela, à sua maneira, está no filme. Esses espaços vazios são buracos negros muito importantes para a música do filme. Ficam na nossa cabeça, para todo o sempre. É um fenómeno muito curioso: uma espécie de registo subliminar de uma realidade que é importante para o acto da montagem, mesmo quando não participa dela. Não entendi bem quando disseste que para não trair o filme não pudeste usar mais imagens da natureza. Trair em que sentido? Em que medida é que isso poderia trair? FERNANDO CARRILHO. O que acontece de misterioso na montagem é a descoberta da tal “terrível verdade” do material que como um todo forma uma unidade autónoma, um bicho, um organismo com vida própria. E o que há de sabedoria e de honestidade e de talento no montador e no realizador, quando não há conflito, é escutar esse organismo que vive. E às vezes há planos aos quais nos ligamos por razões várias mas que estão mortos, não vivem, o filme não os absorve. São qualquer coisa que o filme exclui, e que pode ser muito bonito. Esse momento de decepar algo que está a mais... quem é que nos garante que está a mais? É o próprio filme. Esse é o tal momento de verdade para o qual às vezes é preciso um certo tempo. As montagens muito rápidas por vezes não permitem essa avaliação e levam a que se cometam erros. E nós ficamos sempre a pensar no tal plano da árvore, no tal buraco que foi sacrificado, o que pode ser imperdoável. Nós ficamos com essa imagem e essa frustração para todo o sempre. Tal como há coisas que não filmámos e estão na nossa cabeça como se o tivéssemos feito. A montagem é o momento em que se tem aquele material e não se tem outro. É com aquilo que temos de lidar. E isso carrega a sua verdade, e é preciso encará-lo. E às vezes é doloroso. MARGARIDA GIL . JOÃO PINTO NOGUEIRA. Queria dizer mais uma coisa. Quando nós partimos para fazer um documentário, ou um filme sobre alguma coisa, muitas vezes põem-nos a limitação dos tempos televisivos (nem sei bem quais são, mas acho que um é de 25 e o outro 50 minutos). E eu acho que isso à partida é uma limitação. Eu não respeitei, nem nunca respeitarei, esses tempos, porque acho que não se tem de amputar ou limitar o trabalho pelo tempo que uma televisão impõe. A não ser que elas nos paguem para fazer uma nova montagem. Mas para isso era preciso pagarem muito bem. E se calhar não tem preço. Sandra, o outro documentário que aqui passou e que já referiste tem uma estrutura muito semelhante ao teu, é uma passagem sobre a vida dos Tédio Boys. O que eu acho FERNANDO CARRILHO. PANORAMA ’08 | montagem III 99 interessante no teu filme em relação a esse é que pelo menos no teu caso pareceu-me que conseguiste, em certo momento, construir um conflito. E dentro da estrutura dramática achei isso positivo e gostaria de saber como é que tu te apercebeste desse conflito. Foste atrás dele para o captar ou ele nasceu na montagem? Já estavas consciente desse conflito? SANDRA CASTIÇO. Eu acho que a rodagem, para além de ter sido importante para registar e para gravar, foi importante para eu conhecer o grupo. Porque, mesmo que eu já os conhecesse antes, durante a rodagem percebi o que é que seria verdade na montagem. O que eu quero dizer é que quando nós ligamos dois planos, por mais que sejam reais, essa ligação vai dizer qualquer coisa. E isso pode ser verdade ou mentira. E foi na rodagem que eu tive a noção da verdade, do que é que se passava ali. Por isso... Sim, claro, já tinha noção do conflito, e depois na montagem tentei reconstruir e transmitir isso. 100 PANORAMA ’08 | montagem III debate CÂMARA I: câmara que segue PROGRAMAÇÃO: A Casa Don Bosco | Manuel Monteiro Grillo [44’] A Casa | Paulo Cartaxana [51’] Fora da Lei | Leonor Areal [84’] Diferenças | Neni Glock [56’] «Ex» | Miguel Clara Vasconcelos [54’] Assembleia | Leonor Noivo [26’] Lisboa Dentro | Muriel Jacquerod e Eduardo Saraiva Pereira [56’] CONVIDADO: Alberto Seixas Santos MODERADO POR: Fernando Carrilho, Inês Sapeta Dias 20.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | montagem III 101 102 PANORAMA ’08 | montagem III DOGMA 95 ... é um colectivo de realizadores fundado em Copenhaga em 1995. DOGMA 95 tem o objectivo expresso de contrariar “certas tendências” do cinema actual. DOGMA 95 é uma operação de salvamento! Em 1960 atingiu-se o limite. O cinema estava morto e pedia uma ressurreição. A vontade estava certa, mas os meios usados para ela, não! A “new wave” mostrou ser uma onda que se dissolveu na costa, e se transformou em lama. Os slogans de individualismo e liberdade criaram alguns trabalhos, mas nenhuma mudança. A onda estava com vontade de vencer, tal como os próprios realizadores. E a onda acabou por nunca ser tão forte quanto os homens por detrás dela. O cinema anti-burguês tornou-se ele próprio burguês, porque as fundações das suas teorias estavam alicerçadas nas teorias burguesas da arte. O conceito de autor era, de raíz, um romanticismo burguês e portanto... falso! Para o DOGMA 95 o cinema não é individual! Hoje, uma tempestade tecnológica eclode, e o resultado disso será a absoluta democratização do cinema. Pela primeira vez qualquer pessoa pode fazer filmes. Mas quanto mais acessível o medium se torna, mais importante se torna a vanguarda. Não é por acaso que a expressão “vanguarda” tem conotações militares. A resposta é a disciplina... temos de colocar os nossos filmes dentro de uniformes, porque o filme individual entrará em decadência, por definição! DOGMA 95 contraria o filme individual através de um conjunto de regras conhecidas como “voto de castidade”: ‘Prometo seguir as seguintes regras redigidas e confirmadas pelo DOGMA 95: 1. As filmagens devem ser feitas em cenário natural. Cenários e adereços não podem ser trazidos de outro sítio (se é necessário um adereço para a história, deve ser escolhido um local onde esse adereço se possa encontrar). 2. O som não deve nunca ser produzido separado das imagens ou vice-versa (a música não deve ser usada, a não ser que apareça no sítio onde se está a filmar). 3. A câmara deve ser feita à mão. Qualquer movimento ou imobilidade feita à mão é permitida (o filme não deve acontecer onde está a câmara; deve filmar-se onde acontece o filme). 4. O filme deve ser a cores. Qualquer iluminação especial é proibida (se há pouca luz para a exposição a cena deve ser excluída ou pode acoplar-se à câmara uma lâmpada, nada mais). 5. Trabalho óptico ou filtros estão proibidos. 6. O filme não pode conter acção superficial (assassínios, armas, etc, não podem aparecer). 7. Alienação temporal ou geográfica estão proibidas (o que significa que o filme tem lugar “aqui e agora”). 8. Não são aceites filmes de género. 9. O formato do filme deve ser o 35mm da Academia. 10. O realizador não deve aparecer no genérico. PANORAMA ’08 | câmara I 103 Juro ainda que, como realizador, irei refrear o meu gosto pessoal. Já não sou um artista. Evitarei criar uma “obra”, já que considero o instante mais importante que o todo. O objectivo supremo é forçar a verdade a sair das minhas personagens e cenários. Juro fazê-lo com os meios à minha disposição e à custa de qualquer bom gosto ou quaisquer considerações estéticas. Faço assim o meu VOTO DE CASTIDADE’ Copenhaga, Segunda-feira, 13 Março de 1995 Em nome do DOGMA 95 Lars Von Trier Thomas Vinterberg [anexo incluído no livro Purity and Provocation: Dogma 95, colectânea de estudos sobre este movimento editada por Mette Hjort e Scott MacKenzie e publicada pelo British Film Institute] 104 PANORAMA ’08 | câmara I Com este bloco propomos pensar o trabalho da câmara em movimento, sobretudo a câmara à mão. Vou começar por passar a palavra aos realizadores, perguntando como é que pensaram o trabalho de câmara em relação à vossa ideia para o filme: pensaram-no previamente? E até que ponto é que, estando depois no terreno, esse trabalho de câmara coincidiu de facto com o que tinham em mente, ou se foi transformando e sendo modificado durante o processo de filmagem? FERNANDO CARRILHO. Em relação aos filmes que vi (queria ter visto o A Casa, mas não consegui) acho que o meu se desvia um bocadinho da questão que vocês definiram. Porque no meu filme não há muito câmara na mão. Trabalhei muito tempo com câmara, no Brasil, em televisão, e sempre tive o cuidado de usar o tripé. Gosto muito de usar tripé. E por isso mesmo acho que o meu filme sai do conjunto. Os filmes que eu vi são mesmo feitos com câmara na mão e a acompanhar... Mas, falando do processo de trabalho, eu acho que em todos os documentários que faço sigo muito o que vai acontecer na hora. Não faço um guião, e talvez o guião vá mesmo surgindo à medida vou filmando. Demorei dois meses a fazer o Diferenças. Ia muitas vezes àquele local, e à medida que a coisa ia acontecendo eu ia mais ou menos coordenando e tentando construir uma espécie de guião, mas sempre na medida em que as coisas iam acontecendo. NENI GLOCK [ DIFERENÇAS ]. Mas reparei que no teu filme, apesar de dizeres que usas sobretudo tripé, tens momentos muito fortes e longos de câmara à mão. De facto, no teu trabalho há uma espécie de câmara à mão estática, quando estás em cima das pessoas, com a câmara muito próxima. E eu gostava de saber se tu pensaste nessa proximidade da câmara e se essa sua mobilidade seria importante para o teu ponto de vista sobre o espaço e as pessoas que ias filmar. FERNANDO CARRILHO. NENI GLOCK . Sim, agora que falou nisso, lembro-me que, como é um filme com muitas personagens em cadeiras de rodas, acompanhei bastante com a câmara na mão esses movimentos, nomeadamente no jogo de futebol, que está no início. Acho que a câmara à mão se torna mais intimista, há uma maior ligação com o personagem (o tripé às vezes cria uma distância demasiado grande), e nesse sentido é importante, sim, com certeza. EDUARDO SARAIVA [LISBOA DENTRO]. Pela nossa parte, quando pensámos no trabalho de câmara, pensámos em utilizar uma câmara que fosse possível ter ao ombro – acho que é importante dizer – e que tivesse um visor. Isso dá outra estética ao filme. Pessoalmente, não gosto muito das câmara tipo punho porque penso que a câmara ao ombro e com visor permite estar à espera que as coisas aconteçam. O imprevisto faz parte da construção formal, pelo menos do nosso filme. Não vamos muito atrás das coisas, sabemos que elas vão entrar e vão sair. Acho que estas novas câmara pequeninas, digitais, são boas para determinados filmes, para o nosso não eram convenientes. Por isso, acabámos por ter uma câmara um bocadinho mais pesada, maior, e as pessoas que estão a ser filmadas estão bem conscientes disso. Pensámos utilizar uma perche mas acabámos por desistir da ideia, por os espaços serem exíguos. Comprámos um bom micro, metemo-lo em cima da câmara, e portanto o som está um bocado dependente da câmara, também. E quando havia possibilidade, sobretudo nos planos de rua, também utilizámos tripé – penso que isso dá outro mistério às imagens, que a tal câmara à mão não dá. PANORAMA ’08 | câmara I 105 Sem dúvida que no teu trabalho há um certo cuidado do enquadramento. E achei curioso, tu e a Muriel, filmarem num espaço tão exíguo, muito apertado. Nunca tiveste a tendência para colocar uma câmara em tripé nesses espaços e filmar uma conversa em plano fixo dos mediadores com aquelas pessoas? Porque a tua câmara está em movimento, acompanha os espaços, e lembro-me perfeitamente que focas aspectos degradados da casa... e portanto gostava de saber como é que a câmara acompanhou as situações. Há momentos em que estão mais perto das pessoas e quando estas apontam para um certo aspecto degradado da casa, depois vocês cortam e mostram esse aspecto. Como é que foi esse processo? Centraste-te nas personagens? FERNANDO CARRILHO. O que nos interessava era a interacção entre os funcionários da Câmara, da reabilitação urbana, e as próprias pessoas que ali viviam. Partíamos para um espaço que não conhecíamos, as pessoas abriam-nos a porta, e nem sabíamos quem nos ia receber. Houve até casos de pessoas que não quiseram ser filmadas, é normal (não muitas, felizmente). E a pessoa prevê sempre filmar inserts – há coisas importantes que não estão onde as pessoas estão. Por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar daquela senhora que fala da descolonização e que tinha lá umas caravelas e umas cabaças, uns produtos africanos… Normalmente filmamos em plano sequência, mas estamos sempre atentos e preocupados em filmar o máximo de inserts possível, que nos permitam, na montagem, construir o filme. E isto porque temos de cortar – há coisas que necessariamente na montagem vão sair. EDUARDO SARAIVA . [A propósito dos inserts aconselha-se a leitura de “Tudo num filme faz esse filme”, texto construído a partir de uma conversa com Pedro Marques e editado no catálogo do PANORAMA`06] FERNANDO CARRILHO. Falaste em plano-sequência: pensas que era o facto de teres a câmara ao ombro que te possibilitava chegar aí? Ou se tivesses a câmara em tripé, também poderias fazer um plano-sequência, mas em quadro fixo? Qual é que achas que é a diferença que poderia resultar daí? EDUARDO SARAIVA . Bom, nós tínhamos que ser pragmáticos. Quando chegávamos aos locais não tínhamos tempo para montar os tripés e pedir às pessoas para esperarem. Mesmo quando a câmara está o mais fixa possível, ela está ao ombro, por questões logísticas. Éramos duas pessoas, não podíamos ainda estar a trazer o tripé atrás. Tivemos que nos adaptar. E isto sabendo que em documentário só há uma take. Nem se conhece o sítio, e há uma certa intuição que nos faz ficar num sítio e não noutro. LEONOR AREAL [FORA DA LEI]. Eu geralmente preparo-me para filmar. Preparo quase tudo o que posso preparar, para depois ter menos variáveis na altura, e também ter soluções mais consistentes. Se bem que, no fundo, o que gosto especialmente no documentário é do inesperado, e de encontrar soluções quando estou a filmar, pensar muito rápido. Mas para isso preparo-me, dentro do possível. Por exemplo, na cena do meu filme que se passa na conservatória, eu fui lá no dia anterior ver o espaço, perceber quais eram as escadas nas traseiras para chegar antes de todos, e para os ver entrar. Mas em muitas outras situações não tive esse tempo de preparação. E às vezes consegue-se tomar boas decisões em cinco ou dez minutos, o tempo suficiente para perceber como é o espaço e para perceber como é que as pessoas o usam, e onde é que me hei-de pôr. 106 PANORAMA ’08 | câmara I Se bem que eu tenha filmado à mão quase todo este filme, filmei como se tivesse tripé. Ou seja, fiz planos estáveis, preocupei-me sempre com o enquadramento, e, digamos, que o meu improviso funciona como se eu estivesse a ver um filme. É isso que eu gosto no documentário, e é por isso que eu gosto de fazer câmara – já nem podia pô-la na mão de outra pessoa. As coisas estão a acontecer e eu imagino que estou a ver um filme, e tomo dessa forma as decisões que têm que ver com o tempo dos planos, com a mudança dos planos, o que depois me facilita o trabalho na montagem (ou seja, quando estou a filmar, já estou a montar também). Nas circunstâncias em que filmei, como estava na casa das pessoas, não aconteceu como o Eduardo, ter só um take. Tinha sempre vários takes, porque as conversas e as histórias são sempre as mesmas. As pessoas têm tendência a repetir-se, felizmente. E portanto eu podia escolher a melhor. Outra coisa importante é que, como filmei de improviso houve situações em que recebia um telefonema e era ‘agora’ que eu ia filmar; e ao mesmo tempo, como filmei só com dinheiro de bolso, para as cassetes, para a gasolina, mais nada, não podia arranjar alguém que me acompanhasse para fazer o som. E portanto o som estava sempre em cima da câmara, e eu acabo por ficar condicionada, e filmar segundo a captação sonora. Coloco-me a uma distância tal que possa estar a gravar um som, e filmo a imagem que a distância permite. Vou tomando essas decisões a par e passo. FERNANDO CARRILHO. Gostaria de saber se notaste diferenças no teu processo de filmagem quando conhecias o espaço e quando não conhecias. Há sempre diferenças, não é? Só que agora já não me lembro delas, porque é um processo de evolução muito rápida, e no momento. Quando eu estou a filmar penso no filme todo. Penso na montagem mas também penso no argumento. E todas essas decisões que têm que ver com o argumento, com a montagem, com a câmara, com as histórias e com o som, e com os personagens, sofrem muitas modificações e a esta distância já não me lembro delas. LEONOR AREAL. MIGUEL CLARA VASCONCELOS [«EX»]. Em qualquer preparação de um filme, eu começo sempre por ver filmes, e exposições de fotografia. E procuro preparar e modificar a minha sensibilidade projecto a projecto mais do que preparar-me para os locais onde vou filmar. Até porque quando me preparo muito para os locais depois a coisa corre mal. Corre melhor quando eu não estou à espera de para onde é que me levam, e há uma espécie de instinto que me obriga a procurar o enquadramento e sobretudo a procurar a luz – acho que procuro cada vez mais a luz. Depois, a câmara, a preparação para o trabalho de câmara é ter uma cassete virgem e as baterias carregadas. Essa é a preocupação, para que o material esteja disponível para ser útil. E normalmente filmo com uma grande angular. Mesmo que depois faça zoom, uso sempre grande angular. Porque muitas vezes estou em espaços muito fechados e quero ter um pouco mais de abertura. Acho que se calhar esse é o elemento mais importante da minha câmara: trabalhar com grande angular. LEONOR NOIVO [ ASSEMBLEIA ]. Este documentário, Assembleia, foi feito no âmbito dos Ateliers Varan onde à partida o realizador é quem faz a câmara. Neste caso foi isso que aconteceu, a pessoa do som é que ia variando. PANORAMA ’08 | câmara I 107 Até agora (excepto na ficção) tenho sido sempre eu a fazer a câmara, e vejo-a como uma extensão do corpo, da cabeça, do pensamento. Não sei sempre onde é que vou filmar. No caso da Assembleia não sabia, tinha que ir com a corrente, e o próprio espaço e a ideia do filme, levou ao plano-sequência. Estava em movimento. Já tenho feito câmara para outros realizadores e portanto sinto-me à vontade nesse trabalho não sendo eu a realizar. Fiz, por exemplo, o filme do João Dias, o Operações Saal, onde tive uma grande aprendizagem no modo de abordagem às pessoas quando se está a filmar. E até agora sempre me senti bem a fazer câmara enquanto realizo, mas neste momento estou a fazer um documentário em que isso já me está a pôr algumas questões, nomeadamente quando falo com as pessoas e tenho a câmara à frente. E isto é uma coisa física: é complicado para mim estar a falar com as pessoas e desviar a cara para poder falar com elas. Pela primeira vez está a acontecer-me a câmara não ser propriamente a extensão do pensamento. Há qualquer coisa que terá de ser resolvida, e que é uma questão de aprendizagem, também. E isto também dependerá dos filmes: nalguns não precisamos de falar directamente com as pessoas, mas há outros em que sim, e às vezes é complicada esta sintonia. FERNANDO CARRILHO. Quer dizer que nesse trabalho de que falas estás com um operador ao teu lado... Não. Ainda não estou. Comecei a fazer câmara, e agora estão a surgir situações em que isso está a colocar-me este problema. Pela primeira vez estou a querer intervir enquanto estou a filmar, e dialogar, e é aí que está a surgir o conflito. Mas vou resolver. LEONOR NOIVO. FERNANDO CARRILHO. Vamos esperar. Estou curioso. Bem, no caso da Casa em termos de preparação visitei a instituição duas vezes sem câmara. E apercebi-me que era uma realidade muito dinâmica e que portanto teria que optar por usar câmara à mão. Mas esse nunca foi um aspecto formal que eu achasse decisivo. Acho que a alternância entre câmara à mão, e câmara fixa, quando justificada, é o que faz mais sentido. Devo também dizer que não fui eu que fiz a câmara, foi um colega meu, o André Costa. E quando começámos a filmar, no fim do dia, discutíamos o que é que tinha sido feito, víamos o que tínhamos filmado (dentro do possível), e discutíamos as opções de câmara. E houve conflitos que foram sanados. Ao princípio achei que ele estava a fazer uma câmara talvez muito agressiva, talvez muito próxima e queria que ele desse mais espaço às personagens. Mas acho que o que é importante é ter um bom operador de câmara, que tenha essencialmente, além de concentração, um bom instinto. Ninguém faz um documentário exclusivamente com planos fixos. Eventualmente talvez o Errol Morris, mas acho que é muito difícil porque geralmente as realidades que se querem filmar são dinâmicas e é preciso responder rapidamente, e, como eu disse há pouco, o operador tem que ter instinto para saber reagir. Quando a realidade é encenada é fácil reagir, mas quando não é, acho que é difícil. PAULO CARTAXANA [A CASA]. 108 PANORAMA ’08 | câmara I Alberto, gostava agora de o ouvir, de saber que aproximações e que afastamentos viu entre estes filmes, e que perguntas tem para os realizadores. INÊS SAPETA DIAS . Em primeiro lugar, faz-me alguma confusão que A Casa de Don Bosco apareça incluída num conjunto que parte da ideia da câmara em movimento, e da câmara à mão. Porque, eu talvez me engane, mas não há nesse filme um único plano de câmara à mão, e de todos os filmes que vi é aquele em que claramente o enquadramento é mais rigoroso, e em que tudo é talvez mais legível precisamente porque a câmara é rigorosa e o que escolhe e o que deixa ficar em campo é muito preciso. De há muitos anos para cá o documentarismo tem funcionado sempre com a câmara portátil, com um gravador também portátil ligado à câmara através de um sinal de quartzo (para estar síncrono). Esta tecnologia apareceu nos anos 60, não existia antes. E, aliás, é uma coisa que veio fundamentalmente da televisão, dos repórteres de televisão, mais do que dos documentaristas que depois herdam isso e desenvolvem uma técnica muito precisa. Aparece como uma possibilidade de aproximação e contacto com as pessoas, com os locais que interessam filmar, sem aquela horrível maquinaria do cinema que dificulta o trabalho e que altera aliás, na minha opinião, de uma maneira profunda, a relação entre o realizador e a realidade. As pessoas mudam em frente de uma câmara. E acho, por exemplo, que a Leonor fez um psicodrama com aquelas... ALBERTO SEIXAS SANTOS . LEONOR AREAL. São duas boas actrizes, não são? ALBERTO SEIXAS SANTOS . ... duas raparigas que passam de personagens da realidade para uma outra realidade que se torna rapidamente teatral. Acho que metade do filme é teatro. LEONOR AREAL. Eu concordo. É o teatro delas. ALBERTO SEIXAS SANTOS . Pois, claro, evidente. E tu, com a tua câmara, reforças essa dominante de representação delas. LEONOR AREAL. Claro. Mas esse teatro não é diferente do que elas fazem quando não está lá a câmara. Ah, isso acredito. Não estou a pôr isso em questão. Estou a dizer é que necessariamente a presença da câmara fá-las entrar num domínio teatral. Há uma espécie de reforço dos sentimentos perante a câmara: acentuam-se os sentimentos de agressividade ou de ternura porque a câmara está lá, e porque se vai deixar uma imagem da sua vida. E isso é muito interessante, no filme da Leonor [Areal]. Depois, há uma outra coisa que está a acontecer, e que está a atacar a ficção, e que passa também pela câmara. Provavelmente alguns dos presentes têm visto as séries americanas feitas pelos canais de cabo americanos (essas coisas todas que vocês vêem, o S...S... CSI, e o “Hospital de Emergência” [E.R.]...) todas feitas com câmaras à mão. E porquê? Porque os americanos chegaram à conclusão que aquela ligeira instabilidade da câmara à mão traduzia-se num acréscimo de realismo. Ou seja, a sensação de que, apesar daquelas pessoas estarem a interpretar papéis, ALBERTO SEIXAS SANTOS . PANORAMA ’08 | câmara I 109 serem actores, com textos escritos, aquela ligeira instabilidade da câmara de filmar daria a ilusão de que estavam a ser filmados sem terem consciência disso. Há uma espécie de navegar no espaço, qualquer coisa que está, aliás, em todos os filmes contemporâneos americanos. Passou a usar-se um instrumento (que aliás há uns anos ganhou um óscar...), uma coisa a que se chama steady cam. É um instrumento que se coloca num operador especializado e que tem um sistema de balanços que elimina aquela agressividade das flutuações de uma câmara à mão sujeita ao próprio andar do realizador em que a ilusão de continuidade de movimento se perde muito. Essas câmaras, que agora se generalizaram, permitem um lado físico, um contacto muito próximo com a multidão, com os actores, e com os figurantes, que de outra maneira não se conseguia obter. Os americanos usam muito essas técnicas em cenas de acção, e os resultados por vezes são brilhantes. Confesso que não me interessa nada o que eles fazem, mas reconheço que os resultados são muito vistosos e estão a mudar a nossa maneira de ver a realidade. Tal como há uma outra coisa que está a mudar a nossa maneira de ver a realidade: a maioria dos realizadores hoje, na ficção, usa teleobjectivas. O que é uma teleobjectiva? É uma objectiva que filma com uma grande nitidez um objecto próximo, mas que desfoca o que está logo atrás. Isto tem como efeito destruir uma coisa que era essencial no cinema a que eu chamo clássico, que era o espaço. O cinema contemporâneo deixou de ter espaço. No outro dia vi um filme que está em cartaz – e que eu acho muito mau mas que é muito apreciado pela crítica – o Três Tempos do Hou Hsiao-Hsien que é todo feito com teleobjectiva. O que faz com que estejamos, por exemplo, no interior de casa sem haver interior. Quer dizer, há interior porque não há luz do sol, mas tirando isso, não há mais nada. Essas coisas a mim, que sou antigo, como vocês vêem, atrapalham-me muito, e fazem-me uma grande confusão. Porque aquilo que eu aprendi, quando era novo, é que o cinema era uma arte do espaço e uma arte do tempo. E hoje, o cinema moderno, o cinema que se faz, praticamente já não tem espaço. O espaço desapareceu. E isso é mau, na minha opinião. Mas, só para acabar, vou passar brevemente em revista os filmes que vi. Daquele senhor, Neni, meu colega cineasta, achei que era corajosa a abordagem bastante próxima de corpos e de rostos com sérias deficiências. É que se não se tem cuidado, aquilo pode sair uma parada de monstros. E o que ele consegue bastante bem é criar e exprimir a relação entre os doentes e as pessoas que os tratam, criando assim um mundo humano à beira do inumano. E isso é bastante bonito, na minha opinião. Aqui com o filme do meu ex-aluno Eduardo, acho que foi a primeira vez que vi interiores tão pequenos (quase que para a equipa entrar têm de sair os habitantes). Gostei bastante de sentir essa presença, desse mundo muito minúsculo, todo podre, tudo a cair. Mas que ao mesmo tempo é o que resta àquelas pobres pessoas. Achei o filme dos OVNI’s muito divertido. Eu não vi o filme em projecção, mandaram-me as cassetes e eu papei aquilo tudo lá em casa. E no início comecei a pensar que aquilo era um filme de ficção. Que eram tudo actores que contavam aventuras com OVNI’s, que era tudo invenção, tudo estava escrito previamente. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . 110 PANORAMA ’08 | câmara I Mas não é. Eu sei. Eu vi que não era. Mas a verdade é que acreditei durante um tempo que era tudo uma gigantesca encenação, e estava entusiasmadíssimo. “Aqui está um realizador que vem do documentário, que finge que faz um documentário, mas está a fazer um filme de ficção”. Achei que era uma óptima ideia. ALBERTO SEIXAS SANTOS . MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Durante as filmagens nunca consegui ver um OVNI. E gostaria. Mas não foi meu intuito trabalhar sobre a fantasia. Foi mais sobre a cosmogonia. Ou seja, uma concepção do universo onde há outros seres, com ferramentas e equipamento tecnológico mais sofisticado que o nosso, e onde há pessoas que convivem com esses seres, com essas entidades biológicas – extraterrestres, como lhes chamam. E achei que isso teria que alterar a nossa concepção da vida, obrigatoriamente. Foi disso que fui à procura, e não tanto dessa fantasia, ou psicose, eventualmente. ALBERTO SEIXAS SANTOS. A minha curiosidade é muito limitada a esse nível. Já me chega o mundo aqui em baixo, já me dá tanto trabalho percebê-lo, que ainda perceber outros mundos... já não tenho cabeça, nem idade para isso. De qualquer forma achava uma ideia muito bonita, um realizador que faz um primeiro filme de ficção, utilizando todos os processos de um filme documental. De início pensei que era isso, depois percebi que não. Mas estava-me a dar prazer essa ideia. Em relação ao filme da minha amiga Leonor tive pena, quando acabou, porque achei que podias ter feito um filme muito interessante sobre o mundo das traseiras – como o Renoir fazia –, paralelo ao mundo oficial. Ou seja, terias o Presidente da Assembleia da República, e aqueles ministros todos, e os deputados; e em paralelo as hierarquias na retaguarda, na cozinha (“não, o senhor não pode partir os ovos; é aquele senhor”...). Pensei que ias ter uma espécie de segunda instituição, paralela à instituição Assembleia da República, mas nas traseiras. E depois tu acabaste o raio do filme e não me deste isso, e eu fiquei muito zangado. INÊS SAPETA DIAS . O público já tem perguntas ou opiniões a dar? MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Eu queria dizer uma coisa, muito rapidamente. É que em relação à câmara à mão, nem acho que tenham sido os americanos os grandes utilizadores. De resto acho – e posso estar a dizer um disparate – que é o movimento do Dogma, de 1995, que teoriza sobre a câmara à mão e precisamente vai buscar, digamos, o efeito de realismo ao documentário, trazendo-o para o cinema, mas de forma consciente. Depois foi imitadíssimo, inclusive por séries de melhor ou pior qualidade que passam nas televisões internacionais e muitas delas americanas, mas não só. Acho que a câmara à mão não é uma coisa gratuita e até tem toda uma teoria por trás da sua utilização e da agilidade que lhe está inerente. Porque a câmara à mão é muito mais ágil do que uma câmara em tripé em que tem de ser tudo estudado, e em que antes que se ponha a câmara, já tudo passou. A câmara à mão é veloz, chega às coisas. Bem ou mal, chega lá. E é isso que, pelo menos a mim, me interessa muito. Em ’61, no Brasil, o Glauber disse: “vamos fazer filmes: câmara na mão, pé no chão”. É uma coisa que tem um passado. Não te podes agarrar só ao grupo do Dogma. ALBERTO SEIXAS SANTOS. PANORAMA ’08 | câmara I 111 Posso só acrescentar uma coisa àquilo que disse? Eu gostei muito de ouvir o Alberto, e partilhamos já uma longa vida, e até fizemos um documentário juntos em 1960 e não sei quantos, a Arte e o Ofício, em tripé e com zoom. PUB (ANTÓNIO ESCUDEIRO). Eu também faço câmara, também faço documentários, tenho feito alguns. Mas em relação ao Dogma, ele só é possível com o aparecimento das novas câmaras digitais. De outra maneira nunca teria sido possível. Tanto que o Dogma acabou por morrer, acabou por definhar. Em relação àquilo que o Alberto disse, e em relação à história que ele contou, e bem – como só ele ou poucos sabem contar – acerca do documentarismo a partir dos anos ’60, eu acho que quando aparecem realmente essas câmaras pequenas, as Sony’s digitais, tornou-se mais fácil a não utilização de operadores. Porque se tornou tudo mais barato, e as primeiras câmaras digitais que apareceram eram autênticos electrodomésticos (não me levem a mal dizer isto), tinham um on e um off, e pouco mais. E, portanto, não houve uma aprendizagem muito correcta do uso da câmara, e sobretudo da câmara digital, que tem imensas armadilhas. Quanto mais sofisticadas elas são, mais armadilhas têm. E, portanto, ao contrário do que é a tendência actual, das pessoas filmarem os seus próprios documentários, e até as suas próprias ficções, acho que, ou se especializam completamente no uso da câmara digital e aprendem a conhecer todas as suas armadilhas (em relação à luz, à profundidade de campo, todas estas coisas que foram aqui abordadas), ou devem ter um operador. O Alberto falava no espaço e no tempo, e eu lembrei-me de quando o Orson Welles fez o Citizen Kane com o Gregg Toland, e a sua grande preocupação foi sobretudo a profundidade de campo. E eu gosto de o ouvir, a si [Miguel Clara Vasconcelos], dizer que gosta de filmar com a 28mm, porque essa lente dá-lhe realmente o espaço. Já o Eduardo também só consegue filmar com a 28mm porque de outra forma começa a ter grandes problemas de foco (com a 50mm, ou a 75mm, o foco vai à vida) – tem que ser mesmo com uma grande angular, filmar aquele espaço genial em que ele se mexe. Esse espaço foi muito bem resolvido por si [Eduardo], e sobretudo, também, porque a luz era boa. Ao passo que a luz no filme da Leonor [Noivo] é má. Há grandes problemas de mudança de luz, de definição. Quando ela passa para o exterior, no plano, por exemplo, daquele soldado que vem, essa imagem é altamente chocante em relação a todos os outros planos anteriores. Há várias cambiantes de luz que eu não gosto nesse filme. Depois também não gosto do final, e não percebi bem como é que você termina o filme ali. Mas isso é capaz de ser daquelas coisas dos Ateliers Varan... (agora estou a fazer críticas, não as levem a mal). E, já agora, gostava de lhe fazer uma pergunta, em relação à dificuldade que está a sentir neste momento. Não explicou bem isso. E espero que me explique porque eu a seguir tenho uma resposta para si. Disse que está a sentir dificuldade em filmar, e que se calhar precisa de um operador... Você fez um movimento de desviar a cabeça da câmara. É isso? Tem medo de ser você a fazer as perguntas? Tem medo que as pessoas respondam directamente para a câmara? LEONOR NOIVO. No caso da câmara à mão tenho que me desviar da câmara para poder falar com a pessoa. 112 PANORAMA ’08 | câmara I Mas porquê?! Isso faz-me muita impressão. Desculpe, eu já falei com dezenas de pessoas e as pessoas falaram para mim, para a câmara. Eu sou o realizador ou sou o operador, e as pessoas falam para mim. Isso de olhar para a câmara, ou fazer com que as pessoas olhem para a esquerda ou para a direita, é uma coisa de televisão. É o jornalista que está a perguntar, com o operador ao lado, ao senhor primeiro-ministro se ele está contente ou não com a política económica do país. Portanto, acho que não há qualquer problema em estar a fazer câmara e pôr o seu interlocutor a olhar para si e para o espectador. Isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia, ou foi sempre… PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Sim, eu se calhar é que ainda não aprendi a fazer isso. É uma questão de olhar. De olhos. É a questão de eu olhar para a pessoa e a pessoa olhar para mim. Estou ainda nesse impasse, de perceber como resolver esse problema de poder olhar para a pessoa com quem estou a falar, através do visor da câmara. LEONOR NOIVO. PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO ). Então resolva-o. E vai ver que no próximo filme que fizer, vai resolver muito melhor a questão, inclusive do próprio enquadramento. Acho que muitas vezes no seu filme aquilo está mal enquadrado. Por exemplo, aquele senhor que você acompanha, regra geral está quase fora de campo. Você nunca assumiu que ele era realmente e totalmente o condutor do filme. Muitas vezes uma pessoa está a fazer câmara e está a interagir com as pessoas e são duas actividades que se dificultam uma à outra porque é preciso estar concentrado em duas coisas ao mesmo tempo. Eu compreendo a dificuldade da Leonor. E não é só uma questão de olhar para dentro ou para fora. Trata-se de conseguir gerir uma quantidade enorme de coisas que está a acontecer. LEONOR AREAL. Eu também consigo perceber o que a Leonor disse. Imagino que estejas a falar de quando estás a fazer entrevistas. Também já estive em situações de fazer entrevistas, e percebo essa dificuldade, porque a pessoa que está a falar precisa de ter uma referência, se não... EDUARDO SARAIVA PEREIRA . PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Tem a referência da câmara, pá! Basta a câmara. EDUARDO SARAIVA PEREIRA. Sim, mas é uma máquina, a câmara. INÊS SAPETA DIAS. Isto está-me a fazer lembrar uma pergunta que gostava de fazer. Nós agrupámos aqui estes filmes porque considerámos que neles o trabalho de câmara implicava o realizador o que fazia com que este tivesse uma relação muito especial, muito directa, com o espaço que o rodeava. E nalguns filmes – por exemplo no teu, Paulo [A Casa] – há a utilização do zoom. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre essa utilização e de que forma é que, ao fazerem zoom, essa relação directa que vocês têm com o espaço se altera, ou não. No teu filme, Paulo, isso apareceu, por exemplo, naquele plano, logo no início, em que há uma pessoa que está no tear e que me pareceu que não queria ser filmada, e aí foi feito um zoom PANORAMA ’08 | câmara I 113 na sua direcção, e senti isso de uma forma um bocado violenta. Não sei se depois isso foi uma das coisas que tu disseste ao teu operador de câmara para deixar de fazer, ou não..?. De que forma é que tu pensas o zoom? PAULO CARTAXANA. Não, acho que o zoom foi usado ao longo de todo o filme, não foi só no início. E... e não me parece que seja uma forma de... não percebi a tua questão... Se achas que o uso do zoom altera a tua relação enquanto câmara com o espaço que te rodeia. Se achas que o teu lugar nesse espaço é posto em causa ao utilizares esse zoom, ou não. INÊS SAPETA DIAS. PAULO CARTAXANA. Sim, eu acho que altera completamente a visão do espaço. E faz um enfoque quase exclusivo na personagem, e na reacção da personagem a uma determinada situação. E é um recurso de que eu gosto bastante, o zoom. Sobre as entrevistas: eu acho impossível fazer uma entrevista directamente para a câmara. PUB 2. Não sei se uma câmara à mão é uma prótese ou não do operador. Porque se é uma prótese então a gente fala para a câmara como fala para os óculos de alguém, quando queremos olhar alguém que tem óculos, nos olhos. Eu também julgo que ainda não é uma prótese. A maior parte das pessoas não consegue falar para uma máquina tendo presente que está lá atrás um ser humano que a está a observar, e que mais tarde estará o público a vê-la. Há muita gente que precisa de olhar para as pessoas sem adereços. Já agora aproveito para dizer outra coisa: é que se falou muito dos americanos, do uso da câmara à mão, e eu lembro-me de uma cena (que foi talvez uma das cenas que mais me impressionou), no Paixão segundo São Mateus do Pasolini. Ele filma a via sacra toda com a câmara a mexer com o próprio movimento da rua, e a intrometer-se no meio de um círculo de actores... e isso é, de quando, 1950? MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Sim, podíamos fazer uma história da câmara à mão, e se calhar até era interessante, é um bom tema para uma historiografia. Sobre o zoom... Eu uso muitas vezes o zoom, e ele aparece depois na montagem porque estou a passar de um plano geral para um plano mais fechado, ou de um rosto ou para um pormenor, e acontece qualquer coisa que me interessa que fique, uma coisa que está a ser dita, por exemplo. Aí o zoom fica na montagem final, e isso não me chateia nada. Estava a rever agora este filme, o «Ex», em que eu não filmei quase nada (ao contrário de outros filmes) e tem zooms ins e zooms outs no mesmo plano sequência porque não o pude evitar. Porque há qualquer coisa que acontece que obriga a recuar na intenção do plano que se estava a fazer, e eu prefiro beneficiar a história, digamos assim, em prejuízo do bom enquadramento. INÊS SAPETA DIAS . Aí não és tu que estás no sítio certo, é a câmara que de repente passa a estar no sítio certo. Eu procuro que a câmara seja intuitiva – ou instintiva, como acho que alguém disse –, que se vire para o que é importante. Só que às vezes no tempo de viragem, MIGUEL CLARA VASCONCELOS . 114 PANORAMA ’08 | câmara I digamos assim, já está a acontecer qualquer coisa, e é mais interessante ter isso, do que estar a fazer trucagens com inserts ou com outro tipo de sobreposições. No teu filme, sobretudo quando há os périplos por aqueles espaços naturais à procura dos OVNI’s, a câmara move-se pelo espaço e participa nessa aventura. Mas tu tens também algumas entrevistas, que estão confinadas a um espaço fixo, em que as pessoas não se movem, e, corrige-me se estiver errado, há pontos em que tens a câmara no tripé, e há pontos em que tens câmara à mão, e essa câmara à mão está na mesma fixa. Pensaste nisso, ou era preciso filmar... FERNANDO CARRILHO. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . É tudo feito com câmara à mão, excepto os planos dos céus. O que acontece é que às vezes se consegue mais estabilidade, mas a opção foi fazer tudo com câmara à mão, não para ter um plano instável, mas para ter uma certa coerência, e alguma subjectividade. O filme começa comigo a inscrever-me num site de ovnilogia, como participante. Dou o meu nome, inscrevo-me, e é assim que acedo aos grupos de debate. E a ideia é durante aquele tempo eu estar implicado com aquelas pessoas. Estou ali, estou a ouvi-las. E acho que a câmara à mão dá, de alguma forma, essa presença. Mais facilmente lembramo-nos da câmara quando ela mexe. Afirma-se, nesse sentido. Quero acrescentar, em resposta ao Alberto, que A Casa de Don Bosco é filmado com câmara à mão, também. É uma câmara rigorosa, trabalha o plano fixo, mas em grande parte todo o filme é feito com câmara à mão. E por vezes há sensação de que alguns planos são feitos em tripé – como me aconteceu em relação ao «Ex» – e depois não são. Mais perguntas? Inês, tens mais questões? Não sei se, deste lado, os realizadores viram os filmes uns dos outros, se tiverem questões, era interessante também... FERNANDO CARRILHO. Eu tinha uma pergunta mas já foi mais ou menos respondida. No filme do Neni Glock há planos muito baixos, quando segues a bola do jogo de futebol, e já explicaste que é feito com câmara à mão. Mas é uma câmara relativamente pesada, certo? Porque aquilo é muito estável, é muito bonito. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . É uma câmara grande, é, uma Sony SW570. E de facto disse no início que não tinha usado muito câmara na mão, mas depois estive a pensar e acho que usei bastante, sim. Em relação à aproximação, também: fiz sozinho som, imagem, tudo, e uma das coisas a que isso obriga é a chegar muito perto do personagem. Eu sou fotógrafo e uso muito grande angular, mas nos documentários gosto também de fazer planos mais fechados. Por causa do som tinha de estar perto das pessoas, mas é também uma questão de intimidade, gosto dessa proximidade. E não sinto dificuldade em fazer perguntas às pessoas mesmo estando com uma câmara à frente. O que eu faço é abrir este olho, só para a pessoa sentir que eu estou a olhar para ela, mas não tiro a cara, e não sinto essa dificuldade. Quanto ao zoom, eu tento não usar muito, apesar de ser útil, como se disse. Quando está a acontecer qualquer coisa e estou num plano aberto, fecho rapidamente e depois corto. Às vezes tem de ser, mas fotograficamente chateia-me um bocado. NENI GLOCK . PANORAMA ’08 | câmara I 115 PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Isso é por causa do foque. NENI GLOCK . Por causa do foque, também. Eu procuro sempre ter os foques todos pré-estabelecidos. E portanto, penso na hipótese de ter que fechar o plano, ponho logo o foque e quando fecho vou directo a esse ponto, e por isso quase não perco o foco, é difícil. Mas acho que um plano fechado também é bonito fotograficamente, apesar de roubar espaço – e para dar esse espaço uso muito o plano aberto, também. LEONOR AREAL. Estava a achar curioso e interessante o facto da generalidade destes realizadores fazer câmara e som. O realizador é a pessoa dos três instrumentos, ou quatro, ou cinco, ou seis ou sete porque depois ainda tem que interagir, tem que ver o foco, a angular, os zooms, tem que mudar, tem que seguir, tem que fazer tudo. Embora não saiba agora fazer uma leitura disso, é uma constante entre as pessoas que estão aqui, tirando o Paulo, e o Miguel também não fez... MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Neste filme não, no outro que está aí, fiz tudo. LEONOR AREAL. Exacto, tu costumas fazer câmara. De qualquer maneira é uma característica da era digital, e que se calhar não tem assim tanto passado: nos anos ’80, ’70, ’60 usava-se pelo menos dois operadores. No fundo somos uma espécie de realizadores SOS: “É agora, é agora! Vamos!”. E depois as coisas se calhar não ficam tão bem. Ou pelo menos ficam diferentes do que ficavam antigamente. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Eu acho que o digital provoca a sua revolução da mesma forma que o 16mm provocou uma revolução – o cinéma vérite é consequência do 16mm. Ou seja, os equipamentos alteram a forma de filmar e portanto os conteúdos, também. Essa relação é intrínseca e ainda bem que acontece porque significa que novas gerações tiram proveito das técnicas e das tecnologias que surgem no seu tempo. PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Oh, Miguel, não me leves a mal, e está aqui o Alberto se eu não disser a verdade – porque eu não sou professor, sou apenas um homem que filmou em 35mm e também em 16mm – e a única coisa que eu senti em relação à mudança do formato de 35mm para 16mm foi o formato, mais nada. Porque a técnica de filmar, e o suporte era a película, e a película exigia o diafragma que tinha de ser estabelecido em função da luz. No digital isso não acontece. MIGUEL CLARA VASCONCELOS . Não, mas o peso da câmara, o custo da câmara, muda. Como o Alberto estava a dizer, era muito difícil fazer planos à mão com câmaras de 35mm porque a câmara chegava a pesar 17 e 20 kg. Mas perguntem ao Cassavetes, que fez ‘n’ filmes quase todos eles com câmara à mão, ou quem filmou com ele, como era. Mesmo as câmaras 16mm pesavam à volta de 16kg. Agora compara uma câmara dessas, um operador com mínima consciência do que está a fazer, e a estabilidade os planos que saem daí, com os planos feitos por um realizador com uma câmara que pesa 1,5kg ou 2kg. PUB (ANTÓNIO ESCUDEIRO). MIGUEL CLARA VASCONCELOS . 116 PANORAMA ’08 | câmara I Sim, há diferenças, é isso mesmo. Mas, quer dizer, a diferença é só essa. Hoje recuso-me terminantemente a fazer câmara, porque me recuso a compreender a complexidade de uma câmara de Alta Definição. Sou do tempo do Alberto, sou do tempo do tripé, em que quem fazia o enquadramento era o realizador, e em que isso tinha de ser respeitado. Eu era completamente incapaz de filmar – como você há bocadinho disse – com um operador que decidisse fazer uma zoom. No momento em que ele começasse a fazer uma zoom eu mandava-lhe cortar o plano. Porque só eu é que posso dizer ao operador para o fazer. Se não, corto. Porque a zoom é uma coisa de tal maneira perturbante e de tal maneira fácil de utilizar que muitas vezes as pessoas usam porque está ali, e se pode. Eu posso, por exemplo, fazer uma zoom no tripé, mas depois de certeza absoluta que a corto na montagem. Passo do plano geral para o plano aproximado como se tivesse avançado com a câmara. E agora faço uma pergunta a que eu tecnicamente não sou capaz de responder: porque é que se inventou a zoom? Alberto, apareceu em que anos, mais ou menos? PUB 1 (ANTÓNIO LEONOR AREAL. ESCUDEIRO). Princípio dos anos 60, não? ALBERTO SEIXAS SANTOS . Antes disso. Anos ’50. PUB (ANTÓNIO ESCUDEIRO). Anos ’50, por aí, exactamente. Mas eu tenho a impressão que a zoom começa a ser utilizada até em ficções nos anos ’70, em substituição de uma coisa que era chamada o travelling à frente ou o travelling atrás. ALBERTO SEIXAS SANTOS . Claro. PUB 1 ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Há até aquela expressão do Rosselini que dizia que queria fazer travellings ópticos, com a zoom. Há um filme do Visconti que nós gostamos todos muito, o Morte em Veneza, e eu acho que o filme não tem um único plano que não tenha zoom. E eu tenho um grande problema em relação a esse filme do Visconti, de que gosto muito... ALBERTO SEIXAS SANTOS . Eu acho que o problema central que o zoom impõe à minha geração é que, enquanto no travelling uma câmara vai ao objecto, o zoom traz o objecto à câmara. Isto passou a ser muito usado na televisão, nos debates. Porque, há a ideia (já antiga...) de que um debate é uma coisa muito aborrecida, e é preciso dar-lhe algum dinamismo. E então os operadores de televisão começaram a arriscar fazer um zoom à frente, para dar a sensação ao espectador de que se ia dizer qualquer coisa importante. E o que acontecia é que quem estava a falar não sabia que a câmara estava a aproximar-se, e portanto não podia jogar com isso, e normalmente as câmaras chegavam e só se diziam banalidades. E portanto, aos poucos, essa ideia do zoom nos debates, que durante anos se tornou constante – e insuportável, diga-se de passagem – desapareceu. Desapareceu porque se deram conta de que não servia para nada. FERNANDO CARRILHO. Temos uma última inscrição do público, e é mesmo a última. E espero que a resposta seja tanto quanto possível objectiva, já passámos da hora. Pronto, a minha questão é – e vou tentar ser simples e breve – tirando as questões técnicas à parte, e de quem filma e de quem não filma, eu acho que é uma PUB ( MADALENA MIRANDA ). PANORAMA ’08 | câmara I 117 escolha fazer câmara à mão. E pegando naquilo que a Leonor estava a dizer, da câmara servir enquanto extensão do pensamento, eu acho que é visível nos filmes, essa fisicalidade. E no documentário isso traz qualquer coisa, essa fisicalidade da câmara, essa presença, que é uma presença de um corpo, que é uma presença do olhar. Acho isso notório nos vossos filmes. Não sei se tiveram consciência dessa escolha, a mim parece-me que sim. De que forma é que essa presença existe enquanto dispositivo cinematográfico? Estava a pensar no Salesman por causa do filme do Eduardo: no fundo, a câmara à mão permite um dispositivo de entrada num sítio. E isso é uma escolha que se faz de partida e não perante as situações que se nos deparam. Vocês escolheram essa fisicalidade da câmara? INÊS SAPETA DIAS . Quem quer responder? A mim causa-me confusão eu ser o realizador e dar a câmara a outro. Por várias razões (não vou gostar se ele fizer um zoom na hora errada, por exemplo). Há ‘n’ maneiras de se fazer documentário, mas acho que neste tipo que nós fazemos é fundamental o realizador fazer a câmara. Ele é que sabe o que quer, e exactamente onde e o que quer sentir. Eu já fiz câmara para uma realizadora e foi um desastre. Um desastre. Eu achava que tinha de fazer uma determinada coisa e estava sempre a ser mandado para outro lugar. Nunca mais vou fazer câmara para ninguém. Só para mim. Eu acho que a câmara é mesmo uma extensão do realizador, do pensamento. NENI GLOCK . PAULO CARTAXANA . Eu não concordo. Acho que é uma questão de diálogo e de intimidade com a pessoa que faz a câmara. E o facto de não fazer câmara permite tantas outras coisas que eu prefiro abdicar da câmara para fazer essas outras coisas. Nomeadamente ao nível da entrevista, que é muitas vezes uma questão central no documentário. Eu não consigo fazer câmara, e fazer entrevistas. E há outro tipo de disponibilidade que o realizador tem quando não faz câmara. E ainda bem que há esta diversidade. Eu de facto acho que a câmara é uma extensão de nós, como eu disse há pouco. A única coisa que eu disse é que estou a ter uma dificuldade. Não estou a dizer que é impossível, ou que tenho problemas que a pessoa olhe para a câmara. LEONOR NOIVO. 118 PANORAMA ’08 | câmara I debate CÂMARA II: aquela que às vezes segue, e outras se sustém PROGRAMAÇÃO: Excursão | Leonor Noivo [24’] O Sonho de Dom Arménio | Rosa Branca Almeida [26’] Quinta da Curraleira | Tiago Hespanha [19’] Encontros | Pierre-Marie Goulet [105’] Praia de Monte Gordo | Sofia Trincão e Óscar Clemente [30’] Onde estão os touros | João Manso [22’] Se esta Praça fosse uma Pessoa | Manuela Sans e Diogo Andrade [22’] Beiras | Verónica Castro [52’] O que eles chamam paraíso | Filipa Bravo, Cristina Nunes, Marco Cordeiro, Rita Cabral [33’] Quem é que nós somos | Adriana Bolito [13’] De Lábios Pintados | Nuno Alberto [26’] Terceiro Bê | Maria Remédio [28’] & Etc | Cláudia Clemente [23’] No fundo da gaveta | Joana Pinho Neves [20’] MODERADO POR: Ana Almeida, Madalena Miranda 21.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | câmara II 119 120 PANORAMA ’08 | abc Vou começar por citar o nosso convidado – já que ele não vem, aproveitamo-lo na mesma. O Rui Poças fala, no texto do catálogo, sobre a “criação de imagens”, e de como, na construção cinematográfica, essas imagens são criadas. Da problemática que envolve o colocar uma câmara no espaço, de enquadrar, de, através do movimento e do tempo, estar dentro de uma linguagem. Eu gostava de passar o microfone e que vocês todos pudessem falar um bocadinho de como é que foi essa construção da imagem, e no caso do filme De Lábios Pintados – já que aqui só está o guionista do filme – também a construção da estrutura. Como é que, no vosso filme, resolveram esse momento de colocar a câmara? Onde é que as escolhas foram feitas? MADALENA MIRANDA . O meu filme resulta de um curso de documentário da Fundação Gulbenkian com os Ateliers Varan, em que me propus fazer um filme sobre violência doméstica. Quando fui seleccionada não tinha nenhuma experiência ou noção profissional (e pesada) do que é uma câmara, e desde logo foi difícil para mim sentir esse objecto – que é a câmara – perante outra pessoa – que é a Margarida. Depois, sabia que queria fazer um filme sobre violência doméstica, e sabia o que é que não queria: sabia que não queria apontar o dedo a ninguém; sabia que queria questionar, fazer perguntas mais do que obter respostas. E sabia que queria um filme que dignificasse a pessoa, e que não houvessem culpados nem vítimas. Com estas ideias fui estabelecendo uma narrativa paralela à que ela faz com muita palavra, muita descrição de actos e pensamentos: uma narrativa simbólica que é a do seu trabalho, arrumar aqueles objectos – havia uma exposição e ela ia arrumar os objectos naturais. E foi assim que foram surgindo todas as imagens de agressão, que eram o que me interessava. No início não se falava de relação, falava-se só do que é que ela pensava, uma coisa muito cerebral, muito arquitectada, com muito reboliço, com a cabeça muito cheia de espirais. E era por isso que ela tinha de arranjar uma espécie de outra narrativa, de imagens, que conseguissem demonstrar o que é que poderia ser uma situação deste género, em termos muito básicos. E é disso exemplo, então, o corte da tesoura, o ela estar sempre a arrumar com luvas, essa ideia do camuflado, de uns objectos serem muito bonitos e outros muito estranhos e escuros. Foi um processo de conhecimento, para mim também. Do que é fazer cinema, de descoberta da pessoa, do levantar questões… “o que é que é isto de um relacionamento que às vezes pode ser agressivo e feio?”. Uma partilha muito grande e uma conversa entre mim – uma mulher mais jovem – e uma outra mulher – mais experiente. São, então, estas as duas imagens narrativas que eu fui sempre escolhendo e doseando. JOANA PINHO NEVES [NO FUNDO DA GAVETA]. No meu filme Excursão a minha posição era a de uma pessoa que observa um grupo de pessoas. E acho que isso é o que tenho feito noutros documentários. Tem a ver com, se calhar, um olhar um pouco distante e frio, que não é muito consciente, e que talvez esteja relacionado com os temas que estão a ser retratados. No caso do Excursão esse olhar de observadora colocou-me na posição de uma pessoa que também está no conjunto, mas com uma certa distância. Ao contrário da Joana, não tentei fazer metáforas directas, estão ali as situações tratadas de modo cru. Tento mostrar o que está lá. Claro que encontramos metáforas em tudo, mas o esforço é o contrário a esse de criar metáforas. LEONOR NOIVO [ EXCURSÃO ]. PANORAMA ’08 | câmara II 121 Não sei muito bem o que é que hei-de dizer em relação a este assunto. Posso dizer o que é que eu quis fazer, ao nível de imagem. O que senti é que aquele espaço era extremamente bonito, em termos fotográficos. Inclusive a luz variava ao longo do dia, e era sempre possível conseguir imagens bonitas. E uma das nossas preocupações foi passar essa imagem bonita. Depois, quisemos que fossem as pessoas a criar e não nós a induzir, daí fazermos aquela pergunta “se esta praça fosse uma pessoa, como é que seria?”. E assim, o filme acabou quase por ser um estudo. Foi feito em três dias, num fim-de-semana, começámos numa sexta, terminámos num domingo, vêem-se as variações de tempo e foram mesmo essas que aconteceram. A partir daí, criámos a história que passava por conseguir retratar a personalidade daquela praça através das pessoas – notámos que as pessoas, ao descrever a praça, descreviam-se a si próprias. Creio que um espaço é criado por gente, e essa fusão de gente cria a personalidade que existe naquela praça. E depois foi retratar aquilo em termos de imagens, fazer com que não houvesse grandes saltos no tempo, e, atendendo às condições que tivemos, fiquei contente com o trabalho. DIOGO ANDRADE [SE ESTA PRAÇA FOSSE UMA PESSOA]. JOÃO MIRANDA [DE LÁBIOS PINTADOS]. Relativamente ao documentário De lábios pintados ele surgiu por acaso quando há três anos um travesti que tem um espectáculo e sabia que eu era guionista e me pediu um texto. Eu estava disposto a aceder, mas desconhecia completamente todo o meio travesti, o mundo gay. E então disse-lhe que sim, que fazia o texto, mas que ele teria de me mostrar alguma coisa. Fui ver alguns espectáculos, vi como é que as pessoas se preparavam, e como era a vida deles. Recordo-me nomeadamente de uma pessoa que era professor numa escola em Chelas, e à noite fazia espectáculo de transformismo, o que era totalmente incompatível. Ninguém na escola, nem na família, sabia que à noite ele fazia aquela transformação completa. E surpreendeu-me. O tipo de espectáculo, o tipo de transformação… surpreendeu-me. Então falei com o Nuno Alberto, o realizador, que é estudante na Universidade Lusófona, e decidimos avançar com o documentário. O que nós pretendemos foi fazer um documentário com uma visão suficientemente distanciada, tentando mostrar aquilo que nós vimos, aquilo que nos surpreendeu, sem tomarmos partido, sem pensar “coitadinhos, têm uma vida dupla”, ou “são ostracizados pela sociedade”. Tentámos fazer um documentário sem nenhum tipo de preconceito, tentando mostrar o trabalho deles como um trabalho digno, diferente do que estamos habituados a ver. Pensámos que se nós desconhecíamos aquilo, muita gente provavelmente desconheceria também. E, apesar de termos uma relação próxima, de termos ido aos camarins, assistir ao processo todo de transformação, quisemos ter uma visão distanciada. E penso que conseguimos. Mesmo nos planos dos espectáculos via-se o empregado a passar, nós estávamos ali como se não estivéssemos. Mas ao mesmo tempo tivemos que estar perto, porque aquelas são pessoas muito desconfiadas em relação a tudo o que vem de fora, por estarem habituados a ser ridicularizados. Não quisemos tratar mais do que o espectáculo e a transformação. Todos os outros problemas, todas as interpretações ficarão para quem quiser pensar um pouco mais nisso. O filme Quinta da Curraleira, foi feito no mesmo curso de que a Joana falou. E esse curso tinha um método que passava por uma série de exercícios TIAGO HESPANHA [QUINTA DA CURRALEIRA]. 122 PANORAMA ’08 | câmara II prévios à decisão do tema propriamente dito do filme. Este filme acaba por nascer num desses exercícios. E é interessante – para responder à pergunta que fizeste – que a decisão de filmar ali, e depois de transformar esse exercício num filme, partiu do fascínio pela descoberta de uma imagem, que é um dos planos iniciais do filme, em que eu estou dentro do cemitério, em que se vê as campas e depois se vê todo aquele vale, e a construção ao fundo, e aquele aterro enorme para construir aquela avenida. Lembro-me que nessa altura, no dia em que vi essa imagem pela primeira vez, fiquei ‘n’ tempo ali, a ver aquilo. Era uma coisa muito enigmática, constituída por uma série de elementos que eu achava estranhos e que achava incrível terem-se concentrado ali. E o filme partiu daí. Partiu de uma coisa um bocadinho inexplicável, de sentir que havia ali matéria para fazer alguma coisa que eu não sabia bem o que era, mas que partia daquela imagem, e que seria mais especificamente sobre aquele espaço (depois percebi isso). A minha preocupação inicial tinha muito a ver com a construção da imagem. “Como é que eu filmo isto? Como é que eu consigo passar para planos esta sensação que tenho aqui? E como é que eu filmo estes elementos? Como é que eu começo a cortar e a dividir estas coisas?”. Lembro-me que no início estava sempre com estas perguntas na cabeça. E entretanto conheci a pessoa que acaba por ser a personagem – para além do espaço que, para mim, é a personagem principal do filme. E que acaba por ser a pessoa com quem eu trabalho, e com quem passo não sei quantos dias… Houve uma enorme preparação antes de decidir começar a filmar, antes de ir para lá com a câmara, em que fui fotografando. Depois percebi que todo esse trabalho era um bocado... vazio. Porque comecei a tentar reproduzir fotografias com a câmara, imagens que tinha construído antes, e que enquanto fotografias funcionavam muito bem, mas onde depois faltava vida. Faltava transformar aquilo em cinema. E aí começou outro processo. O processo de me desfazer dessas imagens, e de, sem saber muito bem como – porque isto tudo foi um processo muito rápido – começar a estabelecer outras relações: de mim com a câmara; da câmara com o espaço; e da câmara com aquela pessoa. Durante a preparação ia para lá sem câmara, só com um caderno, a tomar notas, a tirar fotografias, e comecei a perceber uma certa ansiedade “então, mas este quer fazer um filme e não filma?”. “Diz que vai fazer um filme e aparece aqui com um caderno?!”. E a decisão do momento em que ia começar a filmar foi para mim um dilema, um drama, quase. Estava cheio de medo. Mas para as pessoas percebi que foi um alívio. Pronto… e depois aí começa uma linguagem que passa pelo não dito, e de pouco a pouco as pessoas perceberem quando é que eu filmo, quando é que eu ligo a câmara, quando é que deixo de estar na posição de observar e conversar, e passo a filmar. E a partir daí começa uma relação que não é de todo clara, mas é franca, o que tem a ver com a atitude. ADRIANA BOLITO [ QUEM É QUE NÓS SOMOS]. Vou repetir o que eles disseram: este filme foi feito no curso dos Ateliers Varan. Nunca tinha filmado, nem realizado, é a minha primeira experiência. E a minha ideia inicial era – como tu disseste há bocado – “estou aqui e faz de conta PANORAMA ’08 | câmara II 123 que eu não estou”, mas estava. E era impossível fazer de conta que não estava. E de repente percebi que isso era impossível, que isso não existe. E acho que o filme que eu construí, as imagens que eu tentei fazer, foi baseado numa relação que eu estabeleci com aquele grupo de adolescentes. MARIA REMÉDIO [TERCEIRO BÊ]. O 3ºB é uma turma de uma escola primária, eu ia filmar crianças. E portanto, a primeira decisão que eu tomei foi que ia estar à altura delas, ia estar ao pé delas, e a filmar à sua altura (porque eu sou mais alta...). A primeira decisão foi então filmar tudo sentada, no meio das crianças, e como havia muitas cadeiras livres eu ia saltando de cadeira em cadeira, e virava-me para o lado como se me estivesse a virar para o colega, ou virava-me para a frente, ou para o quadro. Houve algumas imagens que eu fiz de frente, no lugar da professora, mas só numa fase muito avançada – filmei durante seis meses, só no quarto mês é que fui para a frente deles. Durante quase todo o processo foi como se fosse do 3ºB, era mais uma colega deles. Nas entrevistas é que eu considero as imagens também um pouco diferentes. RITA C ABRAL [ O QUE ELES CHAMAM PARAÍSO]. Eu acho que é importante dizer que o filme que realizei foi co-realizado, ou seja, eu estou aqui a falar em nome de várias pessoas. No nosso caso, nós tinhamos uma ideia muito definida do que queríamos fazer. Fizemos o filme no âmbito de um trabalho para uma cadeira da Universidade, e estava tudo muito definido e planeado. Também tínhamos chegado à conclusão de que precisávamos de uma visão muito afastada, e observadora em relação ao objecto filmado que eram vários núcleos que vivem à volta de um convento numa aldeia no Norte de Portugal. Mas chegámos à conclusão de que isso é mesmo – foi-o pelo menos para nós – impossível, porque criámos uma relação humana muito profunda com todas aquelas pessoas, e acho que isso se reflecte na maneira de filmar, e no facto de, até depois, na montagem, termos tido algumas dificuldades, porque falta coerência, tanto temos planos muito afastados e fixos, em tripé, como depois temos planos muito próximos e tremidos, e em que até nós estamos presentes, a falar. Se calhar a coisa mais interessante que posso dizer é que fomos descobrindo a melhor maneira de chegar ao que nós queriamos dizer durante as filmagens. E que, afinal, não conseguimos planear tanto quanto pretendíamos Tentando resumir o filme que eu fiz, ele foi um trabalho de escola, com todas as condicionantes que um trabalho de escola tem. Foi um filme feito quase em tempo reccord: filmei em dois fins-de-semana, à volta de três horas, o que para fazer um filme de 20 ou 25 minutos, é muito pouco. Filmei com uma Z1 da Sony, nunca antes tinha mexido na câmara e a minha relação com ela foi pôr tudo no automático: o diafragma, o zoom (e isso nota-se, de vez em quando o diafragma altera-se). Fiz o filme sozinho, e como não tinha ninguém que fizesse som tive que convencer um amigo meu, que não tem nada a ver com cinema, a fazer perche. Expliquei-lhe mais ou menos o que é que ele tinha de fazer, e ele lá se tentou desenrascar, e de vez em quando a perche lá aparece no enquadramento. Se eu fizesse o filme agora fazia-o de uma maneira completamente diferente. Basicamente eu fiz o filme... para já porque nasci naquele sítio e sempre tive alguma curiosidade em perceber o que se passava dentro de uma praça de touros – sempre achei aquilo um bocado esquisito. JOÃO MANSO [ONDE ESTÃO OS TOUROS?]. 124 PANORAMA ’08 | câmara II Pensava que na minha terra havia alguma tradição nessa área, mas apercebi-me que isso não passa de uma invenção, que ainda existe na cabeça de algumas pessoas, porque a cidade não vive aquilo. A praça é uma cidade dentro de outra cidade, e o que me fascinou foi captar essa realidade. Boa noite. Eu apresentei o filme chamado Beiras e... vou falar em inglês. Há problema com isso? Só para manter uma continuidade na conversa, e porque se não teriam que tolerar o meu português muito mau [Nota de edição: A partir daqui esta interveniente VERÓNICA CASTRO [ BEIRAS ]. falou sempre em inglês. As suas intervenções foram traduzidas para português]. Então, o meu filme chama-se Beiras e foi filmado nas Beiras. Para aqueles que não o viram, é um filme sobre migração. Sobre a experiência de pessoas que mudam de local de habitação. Para responder à questão sobre a câmara. Aqueles que de vocês que estão familiarizados com aquela região, devem saber que o movimento é bastante importante para as pessoas que lá vivem, e para aqueles que chegam como imigrantes. E portanto, como devem imaginar, se temos de centrar a câmara no movimento, temos um problema, porque existem ali imensas montanhas. Assim, de alguma maneira, a câmara, e as escolhas que foram feitas ao nível da colocação da câmara, estiveram dependentes das circunstâncias e das condições do filme. A esse nível: o que se vê é o que se tem, e quando se tem convém ser rápido, e não ser demasiado picuinhas. Ao nível do processo, o processo de captar as entrevistas e as perspectivas sobre a migração, e sobre a experiência do movimento na região, tratou-se mesmo de… temos de nos apropriar das pessoas. E se as pessoas estão ali, tens que ir, e tens que as filmar, e tens que aceitar aquilo que está a ser oferecido, e que estava disponível para ti naquele momento. Não sei formular isto de uma forma sistemática, nem sei como é que isto funciona no enquadramento do documentarismo, mas em muitos sentidos esta obra, Beiras, foi um documento sobre os vários tipos de experiência que estão a acontecer na região, e reflecte muito o sítio. MADALENA MIRANDA . Bom, eu gostava de ser um bocadinho mais específica, e de entrar em questões mais concretas. Parece-me que em todos os filmes há uma concentração da acção. Não necessariamente num espaço, mas há um recorte que vocês decidem filmar. E na câmara há momentos em que essa escolha está muito presente, outros não. Portanto, eu gostava de saber se houve coisas pensadas na economia dos filmes a partir da câmara, ou se a câmara era a resposta através da qual vocês solucionavam a vossa relação com as coisas. Por exemplo, no filme do João, sobre onde é que está a praça e os touros: como é que resolveste, ao longo do teu trabalho, o filmar essa ausência? No caso da Leonor: como é que se faz o caminho da excursão, quando é que decides estar próxima, quando é que decides que deve haver distância? No filme do Tiago: onde é que estão esses tais planos… porque esses planos fotográficos nota-se que estão lá, percebe-se que é a partir daquilo que estás a trabalhar. No caso do De lábios pintados há uma oposição entre a cena tratada de uma forma completamente teatral, e os camarins onde se trabalha a dimensão de descoberta: como é que a câmara resolveu essa oposição? A Maria está na sala com os miúdos, e acho que isso também se percebe completamente, que fazes parte daquela turma, quando eles estão bem comportados, e quando eles estão mal comportados. PANORAMA ’08 | câmara II 125 Eu gostava, se possível, que vocês fossem mais específicos sobre estes momentos, que falassem sobre o que escolheram à partida, e que distância existe entre aquilo que fizeram e aquilo que imaginaram. Eu não imaginava que o filme fosse nada. Eu não sabia o que é que o filme era. Nem o que é que poderia ser. Posso dizer que o meu processo foi muito intuitivo. Fui descobrindo e fazendo exercícios com a própria Margarida. Por exemplo, a primeira cena do filme em que se vê um papel, foi feita nos últimos dias de rodagem. Pedi-lhe para escrever uma lista de palavras que tivessem a ver com violência ou com essa sua experiência, e ela fez uma lista em espiral, o que já por si, em termos simbólicos e narrativos, inclui muito. Também lhe pedi para ler aquele excerto de uma exposição da Louise Bourgeois para ver o que é que daí surgia. São tudo situações que foram aparecendo para tentar resolver o filme, para tentar descobrir o que é que o filme seria, e para a tentar descobrir, porque eu não a conhecia de todo. Entretanto nós tínhamos um tempo de repérage que eu esgotei por completo, e quando comecei a filmar tinha mesmo que filmar. Portanto, isso de saber o que é o que o filme ia ser, ter um guião, fazer uma coisa pragmática e objectiva, cumprir processos: não experienciei nada disso. JOANA PINHO NEVES. No meu filme o que existe é uma viagem e portanto à partida eu sabia que era isso que ia acontecer. E a ideia surgiu quando... todos vocês já devem ter tido essa experiência, às vezes recebemos em casa uns panfletos com umas imagens de umas situações, e nos propõem fazer umas viagens (de um ou dois dias), e ficamos curiosos. E então decidi fazer essas viagens (no filme parece só uma, mas são mais). E foi esse lado fugaz de uma coisa quase descartável que eu sempre tentei transmitir não só através do enquadramento, mas da posição da câmara dentro do espaço. LEONOR NOIVO. DIOGO ANDRADE . Eu acho que respondi um bocadinho a essa pergunta, antes. Posso complementar dizendo que tentámos ter a perspectiva de quem está dentro da praça, e também a de quem vê de fora – quando saíamos e filmávamos de cima ou de longe. Mas quando estávamos dentro era quase como se fossemos mais uma pessoa que está ali, e está a conhecer outra, e a conversar. Tentámos conseguir o à vontade das personagens, e eu creio que, em pelo menos dois ou três casos, as pessoas revelaram-se bastante à vontade. Aproximávamo-nos com uma conversa informal, ligávamos a câmara, e esses eram os momentos em que estávamos dentro. De fora era mais fácil porque podíamos sempre recorrer ao zoom, podíamos sempre aproximarmo-nos sem que as pessoas soubessem que estavam a ser filmadas. Nalgumas situações houve gente que nos veio pedir satisfações, nomeadamente quando estávamos a filmar umas crianças – e de facto não se podem filmar crianças sem a autorização dos pais. Mas atendendo aos meios para onde aquele filme apontava não ia ser vendido, não ia chegar às salas de cinema não nos preocupámos muito (mas claro, retirámos a senhora que reclamou). Depois, tentámos também ter muita atenção e jogar com a estética – com a cor, com o movimento e com o som (porque é um espaço também muito rico em som) – e foi quase como cozinhar. Foi juntar os elementos e ver o que é que resultava bem. Não houve um guião. Houve mais uma ideia, ter pontos de partida e deixar o resto revelar-se. 126 PANORAMA ’08 | câmara II Relativamente ao De lábios pintados acho que o resultado está muito próximo daquilo que imaginávamos, porque aquilo é o que nós vimos antes de fazer o documentário. Ou seja, está lá a surpresa que tivemos ao ver o espectáculo, a surpresa que tivemos ao ver a transformação física dentro dos camarins, e também, de certa forma, a supresa por perceber todas as dificuldades inerentes àquele tipo de trabalho (por ser um segredo, muitas vezes para as próprias famílias). Ao longo do processo de conhecimento que encetei, para conseguir escrever o texto que me tinham pedido, apercebi-me basicamente destas três componentes: o espectáculo em si, os camarins e as dificuldades inerentes àquele tipo de trabalho. E penso que foi isso que tentámos captar. Nos camarins houve, obviamente, uma proximidade muito grande, e tentámos não ter imagens que chocassem por alguma razão, até pela própria linguagem. Aproveitámos, nos dias em que lá fomos, não só para perceber o processo que estávamos a ver, o processo de transformação física, mas também a relação que eles têm com o seu trabalho, por exemplo, os vários nomes que eles dão aos vários tipos de travesti. Assim matávamos dois coelhos com um tiro: ver o processo em si e apercebermo-nos das questões de que eles falam e que os preocupam. Depois, no espectáculo, está lá o tal distanciamento: estamos a ver o espectáculo como ele acontece. É aí que vemos o resultado da transformação anterior. E acho que o vemos com outros olhos: é diferente ver o espectáculo depois de ver o que se passa no camarim. JOÃO MIRANDA . TIAGO HESPANHA. Tu dizias que, quando se pensa... falaste das coisas que acontecem na câmara? A certa altura parece que disseste... MADALENA MIRANDA. Perguntei se havia coisas que tinham sido pensadas, nas quais tinhas resolvido o trabalho de câmara. RITA CABRAL . Se tinhas um guião, era isso? Não, não era um guião. A pergunta era se tinhas pensado como é que ias filmar aquilo que filmaste. Como é que encontraste respostas através da câmara? No caso do filme De lábios pintados, por exemplo, porque é eles filmam o espectáculo do ponto de vista de um espectador, e porque é fazem aquele enquadramento tão geral e tão teatral? Isto é encontrar uma resposta através da câmara para uma questão da construção do filme. MADALENA MIRANDA . TIAGO HESPANHA . No meu caso, acho que senti que o filme só acontecia, só resultava através da câmara. Ou seja, quando não era através da câmara, havia ideias mas elas estavam divorciadas do que estava filmado. E não dava para aproveitar isso. Eu acho que o filme só poderia acontecer quando as duas coisas se juntavam. E havia momentos, que são aqueles que acabam por estar no filme, em que percebia que quando estava a filmar estava a pensar com aquele… nem é com aquele objecto, porque deixa de ser um objecto. Havia momentos em que estava a pensar com aquilo que estava a fazer. Momentos esses em que aquilo deixa de ser uma câmara que se aponta mais para aqui ou mais para ali, que se abre ou fecha mais, e passa a ser quase um instinto ou um olhar que se está a tentar trabalhar. De outro modo, o que há além disto, é o problema PANORAMA ’08 | câmara II 127 que tive inicialmente e de que falei há pouco, em que tinha imagens fotográficas, e tinha o meu pensamento sobre essas imagens, mas eram duas coisas. Tinha uma fotografia e uma ideia, e aquilo só resulta quando as duas coisas se juntam. Quando deixa de ser uma fotografia, e passa a ser um pensamento. ADRIANA BOLITO. Bem, o ponto de partida do filme, do Quem é que nós somos?, foi querer filmar o primeiro bairro social construído em Lisboa, nos Sapadores. Achei aquele sítio – que é perto de minha casa – fantástico. Quer dizer... estranho. E queria filmar o dia-a-dia dos adolescentes. A minha ideia era completamente diferente do que se vê ali, porque não filmei o dia-a-dia, filmei um clube. E apesar desse clube pertencer ao bairro onde queria filmar inicialmente, acabei por não filmar o bairro. O filme não tem nada a ver com a ideia inicial. Depois foi a minha experiência, como já disse, de realizadora, a filmar e a pegar numa câmara. Acho que nas primeiras vezes nem pensei muito, foi tudo muito intuitivo. Mas pensava que a câmara seria um olhar. Queria filmar como se estivesse a olhar. MADALENA MIRANDA . Desculpa interromper, Adriana. Mas há nesse filmar um ponto de vista: quando filmas o jogo, decides filmar naquele sítio específico? E quando escolher estar com o treinador, porque é que… ADRIANA BOLITO. No início as minhas personagens principais eram os adolescentes. E entretanto, como o filme foi feito no âmbito dos Ateliers Varan, os professores aconselharam-me a não usar essas personagens como principais, mas sim o treinador e o presidente, porque eram eles que estavam a ajudar aqueles adolescentes a ter um caminho na vida. E foi por isso que eu acabei por estar mais perto do treinador, e do presidente do clube, do que dos adolescentes. Mas no fundo era tudo muito intuitivo. Estive a filmar um mês, e na primeira semana o que me preocupava era “onde é que é o REC?” Era quase isto. Só no final é que comecei a relaxar e a deixar de pensar nas questões técnicas. Eu gostei muito da ideia que utilizaste, de recorte no interior de um lugar, porque no meu caso o filme passa-se todo num recreio ou dentro de uma sala de aula. E portanto eu de facto tive que decidir – apesar de ter sido uma escolha muito natural – colocar-me nesses dois sítios de onde filmei. Concentrar tudo nesses dois sítios. E, como disse há pouco, a minha opção foi colocar-me no ponto de vista deles, durante a maior parte do filme. Talvez nalguns momentos esteja mais como observadora, por exemplo nos planos do recreio em que eles estão na vida deles, mas a minha opção era de facto estar no meio daquelas crianças. Queria dizer mais qualquer coisa mas agora esqueci-me... talvez me lembre depois. MARIA REMÉDIO. MADALENA MIRANDA . Foi interessante quando explicaste a maneira como te posicionaste, porque há um lado performático que eu acho que tem a ver com também teres feito o filme no âmbito do curso em Belas Artes, ligado a esse lado quase de perspectiva, “agora vou me pôr ao nível deles”. E isso passa-se mesmo a nível de alturas, não é? Sim, sim. E já me lembro do que é que ia dizer. Ia falar do facto de quase não aparecerem adultos. Só aparece a professora. No caso da aula de música, por exemplo, MARIA REMÉDIO. 128 PANORAMA ’08 | câmara II o professor estava de pé, e não aparece nunca. Foi uma opção, de facto não o filmei, mas nesse caso, como eu estava à altura deles, teria de o ver como eles o vêem, ou seja, ia ter que filmá-lo assim, de baixo. Em todos os planos em que a professora aparece, ela está sentada. O filme é só com o 3ºB, sem os outros. RITA CABRAL . Eu acho que no nosso caso houve basicamente duas fases. A fase em que nós não tinhamos uma ideia muito definida em relação a como íamos filmar, e como íamos contar o que queriamos contar. Nós fomos para um lugar onde não conheciamos as pessoas. Fomos atraídos pelo lugar em si, geográfico. E portanto, numa primeira fase estivemos a conhecer as personagens do nosso documentário, através da câmara. A câmara foi literalmente o nosso olho. E foi – como muitos deles também disseram – um trabalho muito intuitivo. Na segunda fase, as decisões passaram por perceber qual era a maneira mais clara de transmitir as nossas ideias. Ou seja, afastarmo-nos emocionalmente da coisa e tentar ser mais objectivos, e não estarmos a utilizar a câmara de uma maneira tão intuitiva, mas se calhar um bocadinho mais premeditada. JOÃO MANSO. O meu ponto de partida para este documentário foi, antes de mais, saber o que é que se passava ali, naquela praça de touros. Fui para lá, tentar descobrir o que é que lá acontecia. E o que acontece, basicamente, é que não acontece nada. Há várias pessoas que estão sempre por lá, todos os dias. Dentro da praça de touros há uma espécie há várias adegas, umas vendem fruta, outras vendem álcool. E nessas onde se vende álcool, há uma série de pessoas, a maior parte delas mais idosas, que vão para lá, conversam, jogam às cartas, bebem um copo, comem pão com chouriço. E a verdade é que ninguém quer saber de touradas para nada. Eu tentava puxar esse assunto e eles falavam-me de coisas que não tinham nada a ver. Sei lá, para aí 80% do que filmei não tem nada a ver com tourada. E o que eu acabei por tentar filmar foi precisamente a ausência. Filmar aquela realidade que estava a acabar ou que já não existia, ou que só existia na cabeça de algumas pessoas, e tentar mostrar isso do meu ponto de vista. Também tinha mais coisas para dizer e entretanto esqueci-me. VERONICA CASTRO. Só para permitir uma compreensão da origem do Beiras: eu sou investigadora, essencialmente em Antropologia, e como tal tinha algumas perguntas de partida. E as minhas questões iniciais passavam por captar a experiência de migração, como disse há pouco. Queria falar com pessoas que me pudessem dizer porque tinham partido, o que estavam ali a fazer, queria mergulhar mesmo na experiência. Descobrir se haveria traumas causados por essa deslocação, e se esta tinha sido motivada por uma vontade própria, ou se havia razões externas. A minha questão de partida era perceber a experiência da mudança de país. Depois, o que surgiu – e era também o que eu queria – foi a compreenão da percepção que as pessoas tinham acerca daquilo que sentiam estarem a fazer naquele sítio. Como se sentiam em relação a si próprios, e o que os outros sentiam em relação a eles estarem ali onde estavam. Esses eram os meus objectivos. Em relação ao processo – digo outra vez, não para ser repetitiva, mas para sublinhar a importância do local – já há cinco anos que eu andava a visitar a região. E portanto estava familiarizada com algumas das pessoas de lá. Claro que ao longo desses cinco anos a região foi mudando, PANORAMA ’08 | câmara II 129 e pensei como isso era interessante, alguma coisa se estava ali a passar. Comecei a reflectir sobre porque é que as pessoas iriam para ali, e não para o Algarve, como todas as outras. Porquê ir para as Beiras? Porquê viver nas montanhas? Porquê andar horas e horas para ir buscar água? Porquê lavar as suas roupas, e da sua família, à mão, em vez de arranjar uma máquina de lavar, ou ter alguém para o fazer? Isto era o que eu queria perceber. Queria perceber porque é que as pessoas estavam a fazer aquelas escolhas, para viver ali, na região das Beiras. Essa era a minha intenção. ANA ALMEIDA. PUB Se calhar é a altura para ouvir o público. Alguém tem questões que queira colocar? 1. Bom, eu tenho uma pergunta em relação ao filme De Lábios Pintados. Tu falavas há pouco de que querias criar e mostrar uma distância. Não terá sido demasiado marcada, essa distância? Porque o que eu senti ao ver o filme foi que nós não passámos da superfície daquela realidade. Eu não vi a pessoa. Eu vi simplesmente o performer em cima do palco. E toda a gente sabe que aquele performer existe assim. Já houve mostras de documentário, reportagens, que mostram o performer, e que falaram de como ele é banido da sociedade, é ostracizado, está à parte, sente-se de tal maneira, tem vários nomes para definir o seu trabalho. Mas eu queria saber é quem era a pessoa por trás disso: quem é ele, quem é ela? Ele acha que é ele, acha que é ela? Gostaria de sentir que entrava na realidade. Mesmo nos bastidores há uma proximidade mas é apenas física, e é óbvia, porque estamos dentro de um espaço pequeno, onde estão quatro ou cinco homens a transformar-se. Ou seja, essa realidade que tu dizias ser íntima, eu não senti como tal. Senti-me um intruso. E senti que não estava a observar aquilo que estava à espera. E portanto a minha questão é: vocês queriam mesmo ser o intruso no espaço, ou queriam entrar mais, queriam mergulhar na realidade? Porque eu não entendi esse mergulho, ou não cheguei lá. JOÃO MIRANDA . Se calhar tu tinhas essa expectativa, se calhar outras pessoas tinham muitas outras. Tu viste esses documentários nessas mostras, se calhar muita gente nunca tinha visto. Eu acho que esta aproximação foi a aproximação possível para um primeiro documentário (foi o nosso primeiro documentário, meu e do realizador). Como disse, houve aquela situação daquele professor em Chelas que tinha um espectáculo à noite, e era impossível ele dar a cara, porque se estivesse aqui alguém do Ministério da Educação ele perdia o emprego amanhã. E portanto, eu penso que essa ideia de que falaste, dessa expectativa de ir mais longe ou chegar mais à intimidade das pessoas, se calhar é óptima porque nos dá ideia para um próximo documentário. Não foi nada que não nos tivesse passado pela cabeça, mas íamos deparar-nos com a dificuldade de poder não encontrar ninguém que se quisesse expor dessa forma. Em relação à dúvida que levantaste, em relação a serem ‘eles’ ou ‘elas’: no último depoimento o Fernando, que aquela pessoa mais de idade, diz “bem, no fim destas transformações todas, permanece a nossa identidade, homem ou sei lá, aquilo que vocês quiserem chamar”. Portanto, eu acho que essa dúvida também existe dentro deles, e isso ficou um bocadinho patente nesse depoimento. Ou antes, quando eles dizem “não sabes se é ele, se é ela... é uma alforreca”. E acho que quanto mais entrarmos vamos perceber que essa dúvida, a dúvida de identidade, é grande. 130 PANORAMA ’08 | câmara II Mas acho que numa primeira abordagem isto já foi suficientemente elucidativo das dúvidas e das implicações que a transformação tem. E agradeço a ideia, para o próximo documentário. PUB 2. Eu tive uma sensação completamente diferente (não sei se percebi exactamente o que foi dito, e peço desculpa desde já pelo meu português...). Não tive a sensação de intrusão. Foi, pelo contrário, para mim, uma sensação muito natural ver o documentário e gostei muito. Era só isso. A sensação é diferente para cada pessoa... JOÃO MIRANDA. Exacto, é o que eu digo. As expectativas de quem vai ver são diferentes de pessoa para pessoa e isso é que é fascinante. Alguém tem uma pergunta, aí no público? Então eu tenho. É a minha vez. Eu vou ser sincera. Não há nada que eu queira ouvir e que ainda não tenha ouvido. Mas se calhar vou partilhar convosco um problema que eu tive, para saber o que têm a dizer sobre ele. Eu nunca fiz um filme, fiz uma vez um exercício numa aula. E quando tive que o fazer arranjei um tema, arranjei umas pessoas que faziam umas coisas, numa casa, viam uns filmes, e decidi fazer um filme sobre isso. E quando lá cheguei, com uma câmara e um tripé, encontrei um problema: quando eu montava a câmara e carregava no REC era como se estivesse a disparar uma arma. E isso fez-me imensa impressão. Bem sei que são pruridos, inseguranças que vão desaparecendo à medida que se vai evoluindo no trabalho. Mas, agora, a minha pergunta era: como é que vocês trabalham? Quando chegam a um sítio, como é que fazem? Onde é que põem a câmara, quando é que decidem carregar no botão? É uma pergunta mesmo muito simples. Mas isso para mim, na altura, foi um problema. Quando tive de o fazer, apareceu um problema muito concreto. Isso, para vocês, foi um problema? E como é que o resolvem, o que é que decidem que fica, que vai, quando é que se começa, quando é que se pára...? Se calhar gostava que falassem um bocadinho destas coisas concretas. Eu sei que é uma pergunta difícil, e sei porque tive esse problema. Mas, como é que vocês o resolveram? Essa é a minha pergunta. ANA ALMEIDA . TIAGO HESPANHA. Há bocado a Madalena disse uma coisa que eu achei engraçada, acerca do lado performativo. E de facto é um acto performativo. Porque a pessoa chega com uma câmara, com uma perche que ainda é um objecto mais estranho, e isso tem um impacto que não é normal. Eu acho que aí há um choque, e há uma alteração desde logo. E depois acho que há que conseguir transformar esse acto performativo na performance, em qualquer coisa criativa, numa coisa que permita criar a partir daí. Mas de facto há esse impacto inicial. E eu acho que essa coisa de chegar a um sítio com um tripé, pôr uma câmara, ter um microfone, precisa de um tempo de habituação de parte a parte: de quem está num sítio e de repente é invadido por aquela coisa um bocado esquisita; e também de quem entra. Porque não se entra da mesma maneira com aquele aparato todo e com… um caderno. Acho que é preciso tempo. Acho que o tempo faz com que se quebre essa barreira da câmara. Eu senti isso. ADRIANA BOLITO. PANORAMA ’08 | câmara II 131 Eu vou ser mais precisa. Estou a pensar, por exemplo, na Joana. Há bocado quando disseste que passaste muito tempo com a Margarida, e esgotaste todo o teu tempo de repérage. A partir daí... ANA ALMEIDA . JOANA PINHO NEVES. Não, eu não disse isso. Nós tínhamos um tempo de repérage que eu esgotei mas não com ela, foi com outras coisas. Foi à procura de uma personagem... ANA ALMEIDA . Ok. Mas a partir do momento em que tu chegas ao pé daquela personagem, começaste imediatamente a filmar, ou...? JOANA PINHO NEVES . Quase, sim. O que eles disseram é extremamente importante, e é assim que as coisas funcionam. Uma coisa para mim também importante, foi existir um pacto de confiança entre mim, a câmara – que a partir de certo momento já é uma espécie de extensão de ti, um outro olho, um outro braço, um outro membro – e a outra pessoa, que acredita em ti. Eu senti que acreditava na Margarida e que ela acreditava em mim, quase à segunda ou terceira conversa. Eu não a conhecia, da primeira vez que nos encontrámos obviamente ela não estava receptiva em fazer um filme sobre uma coisa tão privada, mas eu senti que era ela a pessoa com quem eu queria trabalhar. Nem consigo racionalizar isso, foi um feeling. E depois, a partir da terceira conversa, falámos sobre o que é que o filme poderia ser, porque a ideia que eu tinha era muito abstracta. Assim, em relação ao que estás a dizer, a única coisa que posso acrescentar é que, para sentires mais confiança com a câmara, e com as personagens, é preciso estabelecer este pacto de verdade (seja com um espaço físico, seja com uma pessoa). É preciso que sintas que não estás a ofender ninguém. E quando a oura pessoa confia em ti, o trabalho torna-se muito mais tranquilo, e flui muito mais. Esta pelo menos é a minha experiência, mas eu sou… quase uma amadora. Isto foi como eu acho que funcionou para mim. E esse lado intuitivo também vem com o tempo. É óbvio que as primeiras coisas que eu filmei eram uma porcaria. Os professores diziam que eu estava a filmar com o pé, ou com o antebraço. E depois, com o tempo… quer dizer, habituas-te ao espaço, ganhas mais confiança. Da minha experiência é isto que eu posso dizer agora. Mas, Joana, quando, por exemplo, tu estás a filmar o exercício com a Margarida, por causa da escala que tu assumes, eu sinto que estás a fazer esse exercício de confiança através da câmara. MADALENA MIRANDA. JOANA PINHO NEVES . Exacto. E depois, isto é uma banalidade mas: é nessa relação directa que o filmar acontece. E a minha pergunta é se essa escala de confiança existe no enquadramento. Porque, por exemplo, tu não fizeste um grande plano, não filmaste do fundo da sala. Há uma distância quase de conversa… MADALENA MIRANDA. JOANA PINHO NEVES . Mas, lá está, eu... É óbvio que tal como não queria a voz disfarçada, e voz off e não sei quê – isso já existe na televisão e coisas do género – eu também não queria expô-la demasiado – tipo grande plano e os olhos, e “ai, está ali uma lágrima a cair” – nem 132 PANORAMA ’08 | câmara II impedir o reconhecimento, filmando de tão longe que muito “ai, não consigo ver bem como é que ela é”. Eu filmo como se estivesse a conversar com ela, como estou aqui contigo. MADALENA MIRANDA . Exactamente. JOANA PINHO NEVES . Agora não temos aqui uma câmara, porque se tivéssemos não estaria tão próxima, se calhar. Mas... É tipo uma conversa. Esse distanciamento é o distanciamento de duas pessoas que estão a conversar. ANA ALMEIDA . Verónica, queres responder à pergunta, não é? Sim, posso oferecer um pouco das minhas experiências. O meu documentário baseou-se maioritariamente em entrevistas, onde se mostravam os argumentos a favor e contra aquele tipo de migração. Mas eu pratiquei uma abordagem não intervencionista. O que quer dizer que esteve centrada no humano. Não que os outros filmes não estejam centrados no humano, mas no meu caso, eu permiti que a câmara fosse dirigida e colocada por aqueles com quem eu estava a comunicar. Eu, intencionalmente, não queria construir um ambiente para eles, e o que realmente foi interessante foi o resultado desta opção. Por exemplo, visitámos duas alemãs que não sabiam que íamos aparecer, encontrámo-las e elas disseram que podíamos entrar e conversar, sem parar de trabalhar, e assim foi. Noutros casos acontecia estarmos duas horas às procura não sei de quem, encontrávamos sem que a pessoa nos esperasse, entrávamos e a pessoa oferecia-nos um chá, e conversávamos. Portanto, a câmara era colocada onde fosse confortável para a pessoa que estávamos a entrevistar. E eu gostei que assim fosse, porque dessa forma é acrescentada a narrativa própria dessa pessoa. VERÓNICA CASTRO. O que eu tenho a dizer é que no nosso caso específico, a decisão sobre onde colocar a câmara passou muito por perceber onde é que a coisa ia convergir (e isto é visível principalmente nas zonas dos timelaps). Onde é que um certo movimento ia nascer, e colocar a câmara de modo a que isso se construa, e tudo se mantenha alinhado. Houve essa preocupação. A proximidade ia sendo maior porque as coisas também se iam tornando mais próximas. Por exemplo, no caso do Félix, que é o anfitrião, aquele que pintou no chão “feliz ano novo”, eu quis aproximar-me aos poucos. Fui colocando a câmara cada vez mais perto, tipo de cinco em cinco metros. E depois acabei por não utilizar essas imagens porque ele se dirigiu para a câmara. Simplesmente ele levantou-se e fez aquilo que viram. Eu ainda lhe pedi que ele repetisse, e da segunda vez já não saiu tão bem e tive de cortar. E tive de cortar também porque passa um carro por trás dele e quis tirá-lo. A outra personagem que está com ele no fim acho que acabou por se sentir à vontade pela atitude do amigo, e acabou por servir para haver uma despedida com a mesma proximidade. Tentámos simplesmente abrir e fechar com eles os dois. Pronto, foram basicamente esses cuidados que tivemos. DIOGO ANDRADE. MARIA REMÉDIO. Eu percebo a tua questão, Ana, quando tu dizes que pôr a câmara parece que é apontar uma arma, porque eu acho que sinto a mesma coisa. Mas eu queria filmar, portanto isso tinha que passar. Agora, o que eu ainda não consegui foi filmar com uma câmara grande: PANORAMA ’08 | câmara II 133 todos os trabalhos que eu fiz até agora foram feitos com uma mini dv, pequenina, normal, daquelas que toda a gente usa ou sabe usar. E isso dá-me um certo conforto. Também não usei perche, não queria ir filmar para aquele espaço com esse aparato todo. Havia meios para isso mas eu preferia filmar com uma câmara pequenina, também pequenina como eles, e pronto. E eu acho que eles foram comunicando sempre muito comigo a partir da câmara. Eu representava a câmara também, para eles. Eu era aquela pessoa que ia lá, e mesmo que pudesse disfarçar, eles sabiam que isso representava eles estarem a ser filmados. E aconteceu que, apesar de serem crianças, curiosas, nunca vieram tentar ver, espreitar pelo écran e não sei quê. Só no último dia de aulas, no último dia em que eu os filmei, é que... não sei se foi alguma coisa que eu fiz, ou se sentiram mais à vontade, só sei que de repente tinha todos à minha volta a filmarem-se uns aos outros, e eu deixei a câmara ir embora. No último dia de aulas, no dia em que acabaram as filmagens, a câmara foi com eles, e eles brincaram imenso com ela, e filmaram-me a mim, e fizeram trinta por uma linha. Portanto, durante todo o tempo de rodagem eles sabiam que eu estava ali a trabalhar e que estava a filmar e aprenderam a falar comigo através da câmara. Mesmo nas entrevistas, quando eu filmei a Xi, a chinesa, já não me lembro qual era o problema, mas andava à procura de qualquer coisa na câmara e ela (não sei se tem câmaras em casa ou não) estava toda interessada a tentar ajudar-me também. Mas aqui estamos a falar de realizadores que fazem câmara. E se não nos sentimos à vontade podemos ter uma pessoa que faça a câmara por nós. Claro que é um treino, é preciso um tempo, mas também não nos temos de obrigar a fazer. Apesar de gostar de fazer câmara também já senti isso, e se calhar às vezes prefiro não fazer câmara, para estar com outra disponibilidade. Acho que isso tem a ver com os filmes, e é conforme o tema. E não temos sempre de a sentir como uma extensão. Não é obrigatório. E é diferente usar tripé, ter a câmara à mão. Enfim, há uma série de variantes. LEONOR NOIVO. ANA ALMEIDA. Sim, eu percebo. Parecia que eu estava a pedir que me ajudassem a resolver um problema. Mas basicamente o que eu estava a perguntar é (e se calhar esta é mesmo a minha última pergunta): será que algum de vocês sentiu este mesmo problema que é o de fazer uma tentativa, nem que teórica, de encontrar uma distância que esteja certa? Já ouvi muito aqui esta ideia, que aliás é uma ideia muito difundida, de que um plano que está perto é um plano íntimo, e um mais largo é um plano frio, mais de observação. E eu não sei até que ponto estou de acordo com isto. E quando temos que filmar qualquer coisa que está à nossa frente, temos que resolver estes problemas de uma forma muito prática, temos de decidir o que fica e a que distância é que nos colocamos. Basicamente estou a repetir a pergunta, se calhar eu sei o que quero ouvir, mas gostava que alguém me respondesse uma coisa diferente do que aquilo que eu acho que sei. Vou lançar este desafio mais uma vez. Como é que se pensa a distância em relação aos objectos que se filmam? 134 PANORAMA ’08 | câmara II debate CÂMARA III: câmara que espera [nota: surgiu a dúvida se deveria colocar ou não este debate na sua versão integral, concretamente se deveria retirar as intervenções em volta do conteúdo do próprio debate. Decidi deixar toda essa discussão por achar que ilumina muito bem a reflexão inicial em volta da fuga da discussão para os temas iniciada no primeiro volume desta edição. Fica então aqui o debate na sua versão integral.] PROGRAMAÇÃO: Pausa para Café | Cláudia Rita Oliveira [14’] Gestos em Cadeia | Carla Mota [8’] Pátria Incerta | Inês Gonçalves e Vasco Pimentel [52’] Jardim | João Vladimiro [80’] Rememorações | José Coimbra e Tiago Guimarães [51’] Elogio ao 1/2 | Pedro Sena Nunes [70’] Piccolo Lavoro | António Nuno Júnior [18’] Grandes Esperanças | Miguel Marques [74’] Villa Meean | Ricardo Ferreira [38’] Cantai Cantigas | Cláudia Tomaz [50’] Pintura Habitada | Joana Ascensão [60’] 8 Mulheres sobre Comer, Cheirar, Agricultura | Pedro Gil [10’] Ballad of Technological Dependency | Cláudia Tomaz [33’] Alda | Miguel Coelho [21’] Estados da Matéria | Susana Nobre [14’] Pé na Terra | João Vladimiro [20’] A Casa do Barqueiro | Jorge Murteira [61’] CONVIDADO: João Mário Grilo MODERADO POR: Fernando Carrilho, Inês Sapeta Dias 23.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | câmara III 135 136 PANORAMA ’08 | abc Este bloco junta filmes de onde transparece, para nós, a ideia de uma câmara que espera, quando colocada perante uma determinada realidade. Obviamente este é só um ponto de partida, mas que, contudo, gostaríamos de aprofundar no debate. Vou começar por passar a palavra aos realizadores, pedindo que falem sobre como é que pensaram o trabalho de câmara. Como é que o idealizaram, e como é que essa ideia se modificou, se transformou, ou em que medida o trabalho correspondeu à vossa perspectiva inicial. FERNANDO CARRILHO. Posso descrever o processo de trabalho, e assim talvez consiga falar um pouco da câmara, são coisas bastante ligadas. O filme foi feito no âmbito dos Ateliers Varan. Estávamos à procura do que iríamos filmar, e eu tinha uma ideia um bocado louca de fazer um documentário com uma estrela. Podia ser de cinema, de música, qualquer coisa. E andava à procura quando encontrei a agência de sósias, primeiro. Falei com a dona da agência que acabou por me dizer que a sua melhor sósia era a Tina Turner. Deu-me o número de telefone, e eu lá contactei a Tina Turner, a Alda, como depois vim a saber. Ao longo do curso dos Ateliers Varan fui sentindo que me estava a deparar com a dificuldade do ‘outro’, de levar a que alguém aceitasse fazer um documentário, e entrasse no processo de trabalho que isso exige. Acho que cabe muito à pessoa que está a fazer o filme convidar esse outro a entrar no trabalho. E senti que a Alda era alguém que queria fazer este trabalho tanto quanto eu, e isso foi um ponto importante. Sou um bocadinho tímido e quando cheguei a casa dela estava pouco à vontade. Mas ela não é nada tímida (como se vê no filme), e logo me disse para ficar à vontade e foi arranjar-se, pôr laca no cabelo, e tal. Percebi então que estava face a uma verdadeira estrela. E enquanto esperava na sala, vi alguns quadros na parede e interessei-me. Achei que era uma boa maneira de meter conversa, e tentar estar um pouco mais à vontade, e disse-lhe “olhe, gosto imenso deste quadro” – e é verdade – “quem é que fez, o que é?”. E logo nesse momento me deparei com essa outra história [o quadro tinha sido pintado pela filha que entretanto morrera]. Esse encontro fez-me reflectir: estava a partir de uma ideia cliché (e eu acho óptimo, toda a gente pode partir das ideias feitas que quiser), e de repente tinha encontrado uma história muito mais interessante. E interessante também porque ela era sósia. Ou seja, senti nesse momento que o documentário ia ter que mudar; a minha ideia inicial ia ter que mudar, e que tinha ficado ali definido um processo de trabalho, ou um caminho (processo de trabalho é um bocado frio), um caminho que se ia percorrer... É óbvio que aquela era uma matéria sensível, reflecti um pouco sobre isso, mas cheguei à conclusão que se eu não tinha tido preconceitos em relação à estrela, também não os ia ter ao falar de uma história mais íntima. Mesmo assim deparei-me com o meu próprio preconceito: será que eu vou mostrar qualquer coisa deste género? Como é que se mostra isto, que é um drama familiar íntimo, muito doloroso? E então, todo o processo, todo o filme, foi como chegar de um ponto ao outro, como chegar de um sentimento (mais superficial, de festa) ao outro. Há uma altura em que ela lava a peruca da Tina Turner, e digamos que esse é o arrumar do primeiro assunto. Ficamos depois disponíveis para falar, e para fazer um filme à volta do outro drama MIGUEL COELHO [ ALDA ]. PANORAMA ’08 | câmara III 137 e da maneira como ela o encarou, e o viveu. E portanto a câmara tinha de ser cúmplice – e foi sempre cúmplice com a Alda – se bem que baseada num não-dito. É óbvio que ela também quis mostrar logo aquele aspecto da vida dela, se não não teria falado, e estava implícito entre nós que para ela também seria importante contar este outro lado da história. E portanto acho que houve um trabalho cúmplice de voltarmos a chegar àquele momento, que afinal foi dado numa fase tão prematura (nem sequer estava com a câmara). E acho que quisemos ir brincando, os dois, fazendo o que tinhamos ali a fazer. E acho que depois a câmara foi esperando, de facto, e portanto, nesse sentido, vai de encontro ao que vocês estavam a dizer. Mas acho que passou também pelo prazer de estarmos juntos, e de descobrir uma pessoa que é um pouco excepcional. A minha relação com a câmara é sempre um bocado instintiva. É de certa forma um palavrão, mas é uma relação performática. Porque o estar a filmar é também eu estar lá, e isso de alguma maneira reflecte as minhas hesitações e os meus sentimentos em relação àquela história. Penso que depois, na construção do filme, tentei que esse processo ficasse lá, exposto. JORGE MURTEIRA [ A CASA DO BARQUEIRO ]. Em relação à câmara eu destacava duas coisas. A primeira tem a ver com a relação com o personagem, com o Paulino, que foi sendo construída. A relação que eu tive com a câmara não era possível se fosse só com a câmara. Muitas vezes estávamos quer no sítio onde ele era filmado, como noutros, sem câmara; muitas vezes eu descia o rio e passávamos dias a conversar, e a câmara não estava lá. Havia portanto uma relação, e é evidente que para mim havia a motivação do filme, mas essa relação fazia com que a câmara não fosse ostensiva, acho que isso ajudou. Não sei se foi estratégico ou frio da minha parte, mas resultou bastante bem. Para ele às vezes a câmara não estava lá. Não quero estar aqui a fazer uma caricatura, porque aliás tive bastante cuidado com isso no filme, mas houve alturas em que ele me chegou a perguntar, já com os copos e tal, se aquilo era filme ou fotografia (e tenho isso gravado, reparei quando estava a fazer a edição). Mas, tirando esses momentos, normalmente ele tinha bastante consciência de que estava a ser filmado e a câmara não importunava absolutamente nada. De qualquer forma houve, principalmente no “pós-filme”, uma enorme discussão em torno das questões levantadas pelo filme. E antes de avançar para a edição final houve inclusive coisas dicutidas com ele. Eu sei que este é o procedimento normal, mas naquele caso existiam questões que me pareciam complicadas de incluir sem o conhecimento e consentimento dele. Enfim, é isso. De alguma maneira o nosso relacionamento foi sendo construído, e a câmara facilitou esse processo. Lembro-me que havia dias em que ele não estava minimamente a fim que eu ali estivesse, a chateá-lo com a câmara, e me dizia – isto também está gravado – “vá, filme o comboio, não me chateie!”. Como havia dias em que a câmara, para ele, era motivo de brincadeira e de alegria. E ainda outros momentos em que ela passava mais despercebida. O segundo ponto é a questão técnica, e aqui tenho qualquer coisa a confessar-vos. Todo este filme foi, para mim, um enorme processo de aprendizagem. Eu já tinha trabalhado, em encomendas institucionais, sozinho, mas nunca o tinha feito num projecto com esta dimensão. E, sobretudo, o que mais me condicionou foi o som – e houve opções que fiz, deliberadas e pensadas, relacionadas com o som. Porque eu não tinha coisas que tenho hoje e que me permitiriam ter 138 PANORAMA ’08 | câmara III o microfone acoplado na câmara sem grandes problemas. Tinha um tripé com um enorme cabo, e previa onde é que o Paulino estaria para o colocar. Sabia minimamente que com o microfone em linha poderia estar aproximadamente num determinado sítio, e ter a câmara em determinadas circunstâncias. Isto depois foi sendo melhorado, especialmente com a ajuda – isto não abona muito a meu favor, mas... – de um ferreiro da Amieria do Tejo, que me fez um adaptador para o microfone. E com isso foi possível esquecer a história dos dois tripés e começar a andar mais com ele, sobretudo quando o personagem tem maior mobilidade, durante a Primavera. É evidente que há aqui depois outra questão que tem a ver com o que nós pensamos fazer com a câmara. E dentro dessa questão da espera, o que mais me preocupava, de facto, era perceber o que estava a acontecer e marcar uma... não sei se trespassa ou não a ideia de neutralidade, mas o que é certo é que em muitos casos optei por ter o tripé montado e deixar a cassete correr, tendo depois outras preocupações a nível de edição. Penso que a questão foi bem formulada em relação à câmara que espera. No meu caso, acho que essa é uma situação que se tem vindo a repetir nos vários filmes que tenho feito, em que não há propriamente uma precipitação no sentido de ir à procura do acontecimento, mas há, sim, um conhecimento prévio da realidade que quero filmar. Conhecimento prévio no sentido em que há uma limitação a um espaço, e há algum conhecimento dos gestos, das acções que habitam esse espaço. Isto, relativamente ao espaço de uma casa, neste filme, e ao espaço de uma instituição no caso do meu filme anterior. E o filmar passa pelo conhecimento dos possíveis momentos privilegiados. Basicamente é isto. Não sei se querem limitar a conversa só à questão da câmara...? SUSANA NOBRE [ ESTADOS DA MATÉRIA ]. FERNANDO CARRILHO. É um ponto de partida. Mas se achares que há outras questões relacionadas... SUSANA NOBRE . Bom, depois passa, obviamente, por uma repetição. Repetir, voltar a filmar. As cenas do Estados da Matéria foram filmadas várias vezes. Eram situações que se passavam todos os dias da mesma forma, praticamente. O facto de teres a câmara fixa e extremamente enquadrada, é resultado desse domínio do espaço e das situações se repetirem, é isso? FERNANDO CARRILHO. SUSANA NOBRE . Sim. JOANA ASCENÇÃO [PINTURA HABITADA]. Relativamente ao meu filme, ele tem uma característica particular: é um filme sobre o trabalho de uma artista plástica. E, no fundo, o meu trabalho de câmara também se relaciona com um todo, e tem de alguma forma a ver, eu acho, com o trabalho da própria artista plástica, Helena Almeida. Posso dizer que havia uma ideia base que à medida que fui realizando o filme não se concretizou exactamente na sua íntegra. Queria filmá-a em sequências inteiras de trabalho, e essa ideia pedia planos fixos que eu na realidade acabei por adoptar. Portanto, acabei por não cumprir essa ideia inicial, embora ela esteja no filme indirectamente. Há coisas desse princípio que passam para o filme. PANORAMA ’08 | câmara III 139 Vou partir do princípio que muitos não viram o filme... Ele começa com várias imagens do atelier da Helena Almeida, e para mim – fui eu que fiz a câmara – só era concebível fazê-lo em plano fixo. Por outro lado, tal como a Susana, tive o privilégio de poder repetir os planos muitas vezes, pude experimentar e explorar o espaço, e nessa situação essa opção era completamente apropriada. Mas filmei um travelling, porque a dada altura achei que só podia filmar uma certa coisa com um travelling. Nessa situação rompi completamente com a restante linha do filme. No fundo o que eu acho é que o trabalho de câmara faz parte de um todo, não o consigo conceber separadamente. Foi qualquer coisa que se foi desenvolvendo ao longo do filme, embora haja coisas que tenham surgido bastante intuitivamente – como era eu que estava a fazer câmara, e tendo estudado fotografia, tenho tendência para fazer um determinado tipo de coisas. E, enfim, tenho alguma preferência pela câmara fixa, gosto muito de trabalhar dentro dos enquadramentos, embora isso tenha colocado algumas complicações, porque deslocar um tripé em determinadas circunstâncias é complicado. FERNANDO CARRILHO. Mas quando partiste para o filme a ideia da câmara fixa estava já pré- -concebida? JOANA ASCENÇÃO. Não. No fundo as coisas também vão surgindo, de momento em momento. Por exemplo, houve uma situação em que criei um dispositivo e em que filmava os trabalhos dela de cima. Isso não estava no projecto do meu filme, mas a certa altura percebi que era a única forma de a filmar a mostrar o trabalho (que era uma coisa que me interessava). Ou seja, nada estava definido à partida. As coisas também se definem em confronto com as ideias que temos e com a realidade que encontramos. Foi um trabalho que fui fazendo. E pensas que o trabalho da artista, de certa maneira, incutiu essa câmara fixa, esse enquadramento um pouco mais fotográfico? O próprio trabalho da artista se mesclou com a tua ideia para o filme? Sobretudo as performances e a maneira de filmar as fotografias... FERNANDO CARRILHO. JOANA ASCENÇÃO. O filme integra, por exemplo, muito material de arquivo, e material inclusive filmado por ela, e logo aí aparece uma forma muito própria de filmar, em que a câmara fixa é uma opção. Obviamente eu não teria de seguir essa opção, as coisas não funcionam assim. Mas no fundo acho que mais do que isso, o trabalho dela implicou para mim uma certa simplicidade, um certo minimalismo. Ela trabalha com meios muito económicos, concentra muito as coisas, há todo um exercício de olhar que eu acho que no fundo o trabalho dela exigia. É mais por aí, e não tanto... eu também utilizei câmara à mão em certas situações que por acaso não estão no filme. Bem, o meu caso é um pouco constrangedor porque praticamente não tive opções. Filmei numa sala de montagem, praticamente só havia um sítio para pôr a câmara. Enfim, um sítio decente (havia vários mas não eram muito interessantes). Havia um sítio para pôr a câmara e foi o sítio onde a câmara ficou. Aliás, havia dois, porque depois havia o diametralmente oposto, o contra-campo, digamos assim. Portanto, não foi propriamente uma escolha, foi uma necessidade, ditada pelas condições específicas onde eu estava a operar. E... voilá. Em relação ao trabalho de câmara é isto. ANTÓNIO JUNIOR [PICCOLO LAVORO]. 140 PANORAMA ’08 | câmara III Tu tens basicamente ali dois pontos de vista. Há um primeiro, planos gerais, em que depois concentras a atenção em grandes planos da mesma perspectiva. Mas há um momento em que mudas de ponto de vista... FERNANDO CARRILHO. ANTÓNIO JUNIOR. Em que passo para trás. FERNANDO CARRILHO. O que é que isso representou para o teu filme? Isso é um problema de montagem, de estrutura, mais do que propriamente um problema de câmara. Achei que teríamos que, de alguma forma, ver o que é que eles estavam a fazer. Já que o filme é tão opaco, já que a matéria é tão desinteressante – a matéria factual também não me interessava propriamente, não é a matéria factual que faz o filme, no meu caso – achei que a variação... enfim, a variação faz parte da estrutura que eu defini. E como não podia variar muito, passei para o outro lado. Pensei, quando comecei a fazer a montagem, em fazer uma simetria rigorosa entre as duas metades, as duas partes do filme. Porque depois há outras dicotomias. Há uma zona do filme que é filmada durante o dia e tem um certo tipo de luz, um certo tipo de balanço de cor; e depois há outra parte que é filmada durante a noite, e tem outro balanço de cor que eu decidi não corrigir porque era o que estava lá e resulta bem – as caras deles azuis, parecem-me... enfim, é uma opção estética um pouco arbitrária. Portanto, há várias separações dicotómicas naquela coisa, e essa foi uma delas: como havia duas posições de câmara, há uma onde não se vê o que eles estavam a fazer, e outra onde se vê o que eles estavam a fazer. ANTÓNIO JUNIOR. No meu filme a câmara praticamente não existe, o que existe é um enquadramento. Portanto, é uma câmara num tripé, fixa, e existe um enquadramento. Este filme é a continuação de um trabalho de vídeo-retratos, e portanto há trabalho anterior e posterior a este. São vários filmes com este dispositivo de retratos de pessoas a quem é proposto um desafio: fazerem ou dizerem o que quiserem sobre um determinado tema, escolhido por mim. Este filme em concreto foi uma encomenda de um festival de artes no Alentejo, o Escrita na Paisagem, e “comer, cheirar, agricultura” era o tema do festival. O director do festival propôs-me trabalhar sobre este tema dentro deste dispositivo de trabalho, eu disse que sim, ele escolheu as oito mulheres, e eu comecei a trabalhar. E, basicamente, é câmara fixa, num tripé, corpo inteiro, que são tudo decisões minhas. No primeiro e segundo projecto havia um tempo limitado, 30 segundos, que passou para este filme também; e a escolha do espaço era das próprias pessoas que intervêm. E no fundo aquilo é um tempo de antena, ou um espaço cénico para as pessoas fazerem o que quiserem. Não há propriamente uma câmara, há um ponto de vista. E o que eu pretendo como resultado é fazer uma ponte, fazer uma espécie de máquina espaço-tempo, entre quem se apresenta nos retratos e depois quem vê. Tentar de certa forma neutralizar a câmara e o realizador ou a equipa, para fazer esta ponte entre quem se apresenta no vídeo, e quem vê. PEDRO GIL [ OITO MULHERES SOBRE COMER, CHEIRAR , AGRICULTURA ]. PANORAMA ’08 | câmara III 141 E não há a ideia de espontaneidade. As pessoas podem ensaiar, podem repetir (até agora só repeti uma vez ou duas, quase toda a gente que eu filmei não quis repetir), as pessoas sabem perfeitamente o que vão dizer. É portanto a ideia da apresentação. Da pesssa se dar ‘a’. FERNANDO CARRILHO. E o plano geral era o que melhor ia de encontro a isso? A questão do plano geral tem a ver com uma decisão minha, a de se ver o corpo inteiro. Tenho a ideia de que o retrato está muito centrado no rosto como se – o que não estará muito longe da verdade – o rosto fosse o mais importante ou o mais identificativo. Não sou o único, mas achei que que era uma boa maneira de tratar o retrato, fazê-lo através do corpo inteiro. Por querer o corpo todo, e de achar que os gestos, ou as hesitações, ou as pequenas coisas que se vão passando na linguagem corporal das pessoas serem muito reveladoras e muito interessantes para além daquilo que se passa só ao nível do rosto quando as pessoas estão a falar ou a representar, para a câmara. PEDRO GIL . João Mário Grilo, na entrevista que nos deu para o catálogo, dizia que a pergunta que há a fazer aos filmes é “onde está o cineasta?”. Eu gostava de saber se fez essa pergunta a estes filmes e que respostas encontrou. INÊS SAPETA DIAS . JOÃO MÁRIO GRILO. Bom. Antes de começar a responder (e não sei se vou responder à pergunta, por acaso), gostava de dizer que há uma questão que não aparece entre os temas que vocês escolheram para seguir o percurso do documentário, que é a questão da produção. E esta talvez seja uma boa maneira de sabotar esta mesa. Esta ausência é reveladora, pela razão que eu acho que a produção é decisiva. Mesmo. E, quer dizer, é curioso que, num programa do qual emerge a ideia de que o modo como os filmes são feitos – porque se está a falar de câmara, som, montagem – determina aquilo que os filmes vão ser, não seja abordada a produção. Não sei até que ponto é que estas questões – câmara, som e montagem – não relevam um certo fetichismo a que está ligado o cinema (e do qual falo, aliás, um bocadinho na entrevista), e que está relacionada com a ideia de que o cinema é um conjunto de técnicas, de tecnologias que se manipulam com mais ou menos destreza, e que podem ser representadas. Ora, a produção não se pode representar. Portanto, eu posso fotografar uma equipa de rodagem e vai lá estar tudo: os homens de som, as pessoas da câmara... e tudo isso está ligado à mitologia do cinema. A própria montagem começa a entrar aí (eu não vi o filme Piccolo Lavoro, vocês não mo deram, e tive pena de não o ver. E portanto não estou a falar do filme como exemplo para esta entrada da montagem no campo da representação das profissões do cinema). Essa representação serviu para fetichizar a relação das pessoas com o cinema, e o facto da produção não aparecer aqui, é nesse sentido verdadeiramente revelador porque a produção é justamente a parte da criação do cinema que está ocultada. Estamos a falar de um país onde existem muitos poucos recursos para filmar, e no caso do documentário isso é ainda mais premente. E tem-se um pouco a ideia de que o documentário não precisa de ser produzido. Há a ideia de que uma pessoa pode pegar numa câmara e fazer um filme. Alguns dos filmes que eu vi contribuem para se ficar com esta ideia, de que a pessoa pega numa câmara, filma, depois vai para o final cut, monta e o filme está pronto. E isto é muito mau. O cinema é mais difícil de fazer. E, para mim, para 142 PANORAMA ’08 | câmara III fazer cinema, é necessário de facto que a questão da produção seja equacionada. Não quer dizer que ela seja muito importante, ou pouco importante, mas ela vai ter que ser equacionada e colocada num certo sítio. E eu acho que esse sítio devia fazer parte destas conversas sobre a questão do documentário português, para se tentar justamente esclarecer este mistério. Não sei se hoje em dia existe modo de produzir documentário em Portugal. E estava muito interessado em saber isso. Eu estou por exemplo a atravessar uma experiência absolutamente inacreditável, num filme particularmente difícil, onde a produção foi justamente a parte mais difícil, e continua a ser. Não apareceram nunca as dificuldades que se julgariam naturais num filme daqueles. Acho que se tem de pegar nesta questão. Enfim, é quase uma provocação para sabotar aqui a mesa, mas se alguém quiser pegar nisto acho que pode ter piada. Agora, sobre a questão do cineasta. Há uma frase pequena que está também na entrevista mas que não é minha. É a frase do Picasso sobre Lascaux. Ele vai a Lascaux, vê as grutas, sai e diz “não se avançou nada”. E isto para mim é muito importante, porque eu acho que no cinema se tem a sorte do último filme já ter sido feito: a Chegada do comboio. Último filme, para onde todos os filmes tendem. E tendem porquê? Bem, a mim esta ideia da câmara sugere-me a planificação. Porque estamos aqui a falar dos planos, e não da câmara enquanto objecto. Estamos, mais uma vez, a falar da metonímia, de um fetiche dos planos. Acho que estamos a falar da mesma coisa, chamando nomes diferentes. E eu tenho a sensação que a câmara, e a sua ligação à montagem, tende para a Chegada do comboio: estamos todos a aprender a fazer o filme que os Lumière fizeram. Esse filme e outros, A saída dos operários, por exemplo, os Lumière fazem aí, num único plano, aquilo que todos os cineastas de hoje não conseguem fazer com os mil e tal planos que é suposto que um filme de hora e meia tenha. E portanto, tal como para o Picasso estamos todos a aprender a pintar como aquelas pessoas que pintaram Lascaux (e basta ir a Lascaux, mesmo à réplica, para ter uma noção do que é que isto significa no domínio da instalação, da arte contemporânea, etc.); da mesma maneira que no cinema estamos todos a aprender como é que se fazem os planos dos Lumière. E que planos são esses? São planos marcados por uma dimensão da inclusão. E que por causa disso são planos, para mim, muito importantes para o documentário. Porque o documentário tem um problema de encenação. Não é um problema de relação com a realidade, é da encenação de uma certa relação com a realidade (um realizador de documentário é alguém que encena uma certa relação com a realidade). Como não estamos num estúdio, ou como não temos um argumento escrito à partida, a questão de o que fazer com a câmara, ou o para que serve uma câmara, torna-se muito importante. No cinema português, cuja grande riqueza foi sempre desfazer essa fronteira entre ficção e documentário, um dos últimos grandes cineastas inclusivos foi o António Reis. Os planos do Reis são atravessados por essa vontade de incluir, que é uma coisa que eu vejo pouco no cinema que as pessoas estão a fazer. Não estou a falar particularmente de nenhum destes filmes, mas acho que é um sintoma: são filmes em que a câmara serve para excluir. Estava-me a lembrar do que o Miguel Coelho estava a dizer a propósito do filme Alda, que eu acho que é um filme curioso por esse atravessamento de uma história que não estava prevista. De repente, o que fazer com isso? Se não houver uma estratégia de câmara, e de montagem sobretudo, uma estratégia de cabeça... PANORAMA ’08 | câmara III 143 Porque estamos aqui a falar de câmara, som, montagem, estamos a falar da cabeça do cineasta. O cinema não se faz com instrumentos, faz-se com a cabeça. Os filmes sim, os filmes fazem-se com instrumentos, mas o cinema não. É preciso um bocadinho de mãos também, às vezes, mas de resto é muita cabeça. E se portanto houver uma cabeça capaz de, em vez de pensar na geometria cartesiana, pensar em termos de geometria euclidiana, que é uma coisa muito mais complexa, muito mais “provável” (porque o mundo é um sítio de probabilidades e não de certezas), o cinema deixa de pôr tanta coisa de fora. Isto pega numa ideia de que eu também falo na entrevista: o modelo de aproximar o cinema da arquitectura é muito mau. Fala-se da estrutura dos filmes quando o que eu acho que tem piada é falar na teia. Estrutura significa que existe um desenho à partida, à qual se vão adequar os elementos que estão à frente da câmara (e que são, afinal, o cinema). E quando mais forte essa estrutura, menos possibilidade haverá desses elementos poderem respirar. E no caso do Alda isso é muito claro. Um realizador de documentário tem muitas vezes esse privilégio de lhe poder ser transmitida uma vida inteira. E portanto, face a isto, é preciso perceber que o cinema tem uma dimensão plástica, e que essa tem a ver com a abertura e a capacidade de incluir dentro da imagem, ou de cinematografar. A ideia do cinematógrafo para mim tem mais piada. A ideia de que não se faz nada ao filmar. Quando se filma registam-se as coisas que estão à frente da câmara, apenas. E portanto, esse registo é verdadeiramente uma transmissão da realidade para a película, ou para o vídeo (embora eu ache que a esse nível também há diferenças muito importantes). Portanto, eu não diria que a questão tenha a ver com saber quem é que foi o cineasta do filme, mas saber de que tipo de cineasta estamos a falar. Se estamos a falar de um cineasta da exclusão ou de um cineasta da inclusão. Eu acho que o cinema da inclusão é um cinema muito difícil. Como eu estou a dizer, acho que os grandes cineastas inclusivos da História do Cinema foram os Lumière. Eu explico isso: quando chega o comboio, vem tudo ao mesmo tempo. Quando os operários saem da fábrica, saem todos ao mesmo tempo. E portanto não há ali a possibilidade de andar a fazer rodriguinhos, de filmar um plano desta pessoa, um plano daquela, um plano daqueloutro. Há um filme absolutamente fabuloso, que passou na Culturgest há pouco tempo, o Tom Tom the Piper’s son, em que o Ken Jacobs pega num filme feito para a Biograph, de 1903 ou 1905, já não me lembro bem, que tem um plano único, e faz, durante duas horas, planos no interior desse plano único. Acho que isso dá uma imagem daquilo que eu quero dizer: é fazer isso antes. Ser capaz de, pelo menos, colocar esse problema. Os filmes nascem muito marcados pelo seu fim. E por isso é que eu acho que o problema da produção é um problema interessante: a produção não olha para o princípio dos filmes, olha para o fim. E isso é terrível porque, obviamente, quando há poucos meios para fazer os filmes, toda a gente da equipa fica obececada com a ideia do fim, e muito pouco consciente de um começo e de um meio. E isso é determinante. Porque, estar a fazer um filme quando aquilo que é determinante do filme é o seu fim, significa que a estratégia que as pessoas vão seguir, naturalmente, é a de excluir coisas que obstaculizam a realização desse fim. Portanto, a minha questão – eu agora devolvo a questão – é saber até que ponto é que as pessoas, que fizeram 144 PANORAMA ’08 | câmara III estes filmes, se sentiram ou não marcadas pela ideia do fim do filme. Se sentiram alguma vez que estavam a fazer um filme. Porque estar a fazer um “filme que se está a fazer” não é a mesma coisa que estar a fazer “um filme que vai estar feito”. Para mim, o António Reis foi um cineasta de filmes que se estavam a fazer. Nunca foi um cineasta de filmes feitos. Acho que não respondi verdadeiramente à pergunta, mas lancei algumas poeiras para a conversa. E acho que não são poeiras insignificantes, e são coisas de cineasta. Não têm nada a ver com o pensamento sobre o cinema, têm a ver com a experiência do fazer... não está cá a Cláudia, pois não? A Cláudia Tomaz teria um filme interessante para falar disto, o Balada da Dependência Tencológica. Acho que é um filme muito marcado por esta ideia... eu acho que ela não tem bem noção do filme que aquilo vai ser. Se aquilo pode ou não pode ser um filme. E acho que era interessante discutir isso com ela. Por exemplo, no Casa do Barqueiro, do Jorge, não sei se essa questão apareceu... e era interessante saber até que ponto é que há... JORGE MURTEIRA. Nunca houve. Nem quando comecei. No início tinha uma ideia para o filme completamente diferente. Era um mosaico de várias histórias separadas, que não tinham nada a ver entre si. E isto resultava exactamente de uma expectativa de produção, de uma parceria com uma associação de desenvolvimento local, que acabou por não resultar. A ideia partia de um conjunto de trabalhos que andava a fazer, mas a certa altura entendi que não ia perder o meu investimento no barqueiro, já que era esse que me interessava. E assim foi. A questão não se coloca ao nível dos meios, houve razões pessoais, obviamente, mas nunca tive a ideia do fim, porque nunca achei que o filme viesse a ser feito. Quando o homem tem a trombose... quando um dia desço e não o vejo, deixei de pensar no filme. Foi automático, “que se lixe o filme, interessa o homem”. Continuei a visitá-lo, e lá melhorou e voltou a casa. E a nossa relação a certa altura já permitia uma certa naturalidade, e foi ele que me disse que podíamos voltar a trabalhar no filme. Não vale a pena estar aqui a contar episódios, porque não vão de encontro às questões que está a colocar, mas, para quem viu o filme, na sequência final, em que a casa está a ser construída e vamos pela primeira vez à estação na outra margem, ele aí dirigiu-me muito mais do que eu a ele. E eu fiquei surpreendidíssimo, porque tínhamos descontinuado um trabalho que era praticamente diário, e apesar daquele hiato enorme em que não estávamos juntos e não se filmava, a relação manteve-se e o trabalho pôde ser retomado. Agora, é como lhe digo, nunca tive a ideia do fim. Se quer que lhe diga com toda a franqueza aquilo que me agradou no filme, a mim próprio, enquanto desafio, e possibilidade de amadurecimento e crescimento, foi exactamente fazer uma coisa improvável, com meios improváveis, e poder ter chegado a um fim improvável. De outra forma era impossível fazer este filme, sem esta disponibilidade de, durante três anos, estar à espera do que acontecesse. Pois, eu falei nisto porque achei que era um filme particular, nesse sentido. Só queria acrescentar mais uma coisa que me preocupa um bocadinho nos vossos temas, e justamente nas coisas que disseram. Não queria, contudo, esquecer o que disse, acerca da inclusão e da exclusão, do interior e do exterior. O que é um interior de um filme? O que é um exterior de um filme? (e isto tem mais uma vez a ver com a questão dos Lumiére, é interessante). Mas em relação ao que dizem, queria referir uma coisa curiosa. Quando vocês falam na câmara JOÃO MÁRIO GRILO. PANORAMA ’08 | câmara III 145 tenho a sensação que estão sempre a falar do enquadramento. Do plano, do enquadramento, do lado geométrico da coisa. Quando eu acho que há uma componente fundamental que curiosamente não é referida, que é a questão da luz, da substância da imagem. E para mim isto é revelador. Aqui, há três filmes onde eu acho que a questão da luz é colocada verdadeiramente. O outro filme da Cláudia, o Cantai Cantigas; o filme da Susana que eu acho que é um filme impecavelmente trabalhado no sentido dessa substância, no definir dessa substância, e que aliás é um filme de que eu gosto bastante; e, por razões óbvias, o filme da Joana, o Pintura Habitada. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto, mas acho que nos outros casos a questão da luz não é verdadeiramente colocada (com a ressalva de não ter visto o Piccolo Lavoro). Não estou a dizer que as coisas são feitas com o automático da câmara, mas tenho a sensação de que há uma precipitação que leva a uma ausência do trabalho a esse nível. Não vi os filmes em projecção, não tive de facto hipóteses, e pode haver aí um pecado da minha parte, mas acho que nalguns casos até foi melhor não ver porque o que vi em casa deixava antever problemas muito difíceis em projecção. E isto porque a questão da substância da imagem não está resolvida. Os planos tornam-se mais difíceis. E, finalmente, isto tem a ver com a questão do cinema. Onde é que o cinema aparece aqui? Porque falar de documentário não é falar de cinema, necessariamente. Há uma dimensão do cinema que nem sempre me parece estar plasmada nos filmes que eu vi. INÊS SAPETA DIAS . Alguém quer responder a esta questão particular, do trabalho com a luz? PEDRO GIL . Posso falar de algumas coisas, telegraficamente, em relação ao meu projecto, ao meu filme. Em relação à produção é: do it your self. É feito tudo por mim. Neste caso concreto, a escolha das pessoas, e o contacto inicial, marcação dos dias e horas, foi feito pelo staff do festival. Mas nos outros vídeos foi tudo feito por mim, o que foi uma opção consciente. Já por várias vezes tentei fazer projectos de outras pessoas com elas, e tentei fazer projectos meus com outras pessoas, e as coisas não aconteciam. E por isso resolvi passar a fazer sozinho. A parte mais difícil foi aprender a fazer, e isso foi conseguido com muita paciência por parte das pessoas que sabem, e me aturaram. E depois foi ver, e repetir, e fazer e voltar a ver, antes dos filmes, e montar um dispositivo que eu considerasse estar ao meu alcance, tecnicamente. No caso deste filme, quem o viu poderá perceber que tem um dispositivo muito simples: câmara no tripé, o som é feito com microfone dinâmico na mão. Não há nada mais simples. Em relação à luz, como o João Mário Grilo disse, foi em automático. Eu sou adepto do automático desde que se saiba o que é que ele faz – e isto não é uma provocação, é uma possível resposta. E quando não se sabe se calhar também é melhor deixá-lo estar porque convém não se mexer em coisas que não se sabe. Isto, quer dizer, quando se fazem projectos simples. Em relação ao cinema propriamente dito acho que o meu filme não é propriamente um filme, nem é cinema. São vídeo-retratos e surgem por duas razões. Primeiro, eu tenho formação em fotografia de publicidade, e estava a produzir uma série de retratos fotográficos quando percebi que estava a faltar uma coisa essencial naquilo que queria captar. E apercebi-me que 146 PANORAMA ’08 | câmara III só conseguia captar isso com o vídeo porque precisava do som e precisava do tempo. Precisava do gesto, do corpo das pessoas. E portanto cheguei à conclusão que precisava de passar para uma tecnologia com imagem em movimento. A película estava completamente fora de causa por desconhecimento técnico, e por custos, e portanto o vídeo foi a resposta natural e possível. Em segundo lugar, o dispositivo de produção tem a ver com um workshop que fiz em 2004, em Avanca, que é um festival de cinema – mais ou menos – que acontece em Aveiro, todos os anos, e tem uma tradição de workshops muito interessante. E nesse ano fiz um pequeno curso com uma realizadora franco-suiça, cujo tema era: o mínimo de meios como fonte criativa nas curtas-metragens. Cada participante levaria uma pequena sinopse para um filme feito num único décor, e com o mínimo de meios. Esse era o desafio e foi a partir daí que trabalhámos, a partir da ideia de tirar partido das nossas incapacidades ou dos poucos meios. Este trabalho tem estes dois pontos de partida. INÊS SAPETA DIAS. Antes de continuarmos queria só responder à questão da ausência da produção no nosso programa. De facto foi uma problemática que esteve na nossa cabeça, de tal forma esteve que achámos que seria um bom ponto de partida para toda uma programação, por si só. E sempre tivemos esperança que ela saltasse e que chegássemos a ela nestas conversas. Mas para estudar ou pensar nessa questão mais a fundo, acho que era preciso uma edição. Não queria deixar de dizer que a questão da produção esteve nas nossas discussões de equipa de programação. E quero pedir desculpa pelo lapso de não termos entregue o Piccolo Lavoro. Nem dei pelo facto de me faltar o filme porque quando vi o programa achei que estava tudo certo. E depois eu é que devia ter cá vindo, mas não tive hipótese. JOÃO MÁRIO GRILO. Gostava de saber, antes de passar a palavra ao público – vão pensando nas vossas perguntas – se alguém tem alguma resposta para as duas grandes questões que o João Mário Grilo levantou. Portanto, a questão do trabalho da luz, ou a questão de terem ou não na cabeça o fim do filme quando o estavam a fazer. INÊS SAPETA DIAS . SUSANA NOBRE . Em relação a mim, não tinha de todo. O que é terrível. Porque esse estado de deriva pode ser... pode ser uma perdição. E no caso deste filme em particular o processo de realização foi todo muito complicado. Tinha o texto do Georges Perec, tirado do livro As Coisas, e o filme seria feito de espaços vazios. Um texto em voz off, com a descrição dos possíveis gestos de uma casa. E quando comecei a filmar com aquelas pessoas, alterei o projecto completamente, e acabei por construi-lo na montagem. Foi um filme feito na montagem, praticamente. Mas assumo que não gosto de trabalhar assim. Gosto de estar a filmar e perceber “olha, isto vai ser o final do filme”. Saber mais. Claro que é importantíssima essa abertura na filmagem, quando se está na relação com as coisas, permitir que o filme esteja em construção, ter essa clareza, esse estar desperto, acho que é, de facto, fundamental. Em relação às questões de produção, isso de começar um filme a pensar no fim é a morte, completamente. E claro que sim, que se tende muito a trabalhar dessa forma. Acho que a esse nível o trabalho de equipa é fundamental, em termos do diálogo. O realizador ser também PANORAMA ’08 | câmara III 147 produtor, o produtor ser realizador. Mas sei que hoje é difícil encontrar essas equipas, essa possibilidade de trabalho. Eu sou produtora e realizadora e produzo filmes de outras pessoas, e às vezes acabo por concentrar demasiado as coisas nos meus filmes, penso que gostaria de experimentar trabalhar de outra forma, também. Talvez isso tenha a ver também com questões de financiamento. Em relação à luz. Há de facto um cuidado com a luz, mas que advém do facto de eu estar a filmar num espaço limitado. Isso permitiu, obviamente, fazer um trabalho de luz. Fazer iluminação, trabalhar ao nível do balanço de brancos, as configurações da câmara. Mas nem sempre é possível. Naquele caso... JOÃO MÁRIO GRILO. SUSANA NOBRE . Há também um trabalho de pós-produção, não é? Muito ligeiro. É basicamente tudo feito na filmagem JOÃO MÁRIO GRILO. Sim, mas, enfim, há um cuidado de pós-produção interessante do ponto de vista da imagem. Acho que é um filme que tem uma substância. A imagem tem uma substância. Por isso é que falei nele, e acho que até nem é um caso que se possa discutir aqui. Quero só acrescentar uma coisa em relação a essa história do fim, que pode não ter ficado clara. Quando falava no fim do filme, não me referia aos planos finais, ou ao para onde é que o filme vai... Eu passei anos a tentar perceber o que é que o Oliveira queria dizer com a história do teatro filmado. Porque isso do cinema ser teatro filmado parece de facto uma aberração, e muita gente discutiu essa história. Depois de anos a tentar perceber isso, acho que percebi. Ele diz isso porque de facto as coisas estão no teatro. O teatro é a cena. E a cena é uma máquina que se põe a andar e não se pode parar de maneira nenhuma. E portanto, o realizador, a única coisa que faz em relação ao teatro é filmar a cena, o que significa ser capaz de construir uma coisa filmada com energias que não são completamente controláveis, nem admnistráveis, através da ideia da sequência que por sua vez convoca a questão da disciplina e da planificação. Essa é a tarefa do realizador. E portanto, a planificação nunca pode matar essa energia que se põe a mexer, e que tem mais uma vez a ver com a imagem do comboio. Assim, quando falo do fim, é um fim todos os dias. Não falo do fim do filme em si. Também é esse, porque a pessoa sabe como é que é o plano final, e está a trabalhar para esse. Mas é o fim todos os dias. Quer dizer, eu quando começo o dia a filmar, sei como é que vai ser o fim do dia, e portanto trabalho para o fim do dia, para filmar treze ou quatorze planos ou quinze, vinte planos. Eu já assisti a isso, numa equipa de rodagem toda a gente discute apenas os vários fins que o filme vai atravessando. Ninguém discutiu o princípio ou o meio. E lembro-me perfeitamente de durante toda a produção de um filme (que não era meu) o único problema para o produtor era se o realizador já tinha filmado os travellings do dia. Essa obsessão é uma ideia que eu encontro no cinema americano – os filmes americanos, os filmes de grande espectáculo, são os filmes mais obcecados com a ideia do fim. Estamos a ver o filme e tudo se fecha. A cena fecha-se, a sequência fecha-se uma na outra, o final do filme está marcado no princípio. Toda a ideologia do cinema americano é orientada por essa voz da ordem, que é definir quais são os meios para atingir os fins. Ora, o interesse do cinema é exactamente o caminho. 148 PANORAMA ’08 | câmara III O caso do Kiarostami parece uma espécie de cliché mas não é (o Kiarostami é interessante em muitas coisas, mas particularmente nessa). As coisas podem ser mais ou menos pensadas, mais ou menos manipuladas, mas há a enunciação de um caminho que passa muito pela possibilidade de nunca chegar ao fim. Ficar no meio, algures. E isso faz com que um filme do Kiarostami possa dar um enorme prazer. Porque há aqui também o problema do prazer do espectador. Porque é que se faz um filme? Eu acho que faço um filme para que as pessoas possam sair de uma sala onde o vêem com qualquer coisa. E eu acho que esta coisa não é uma imagem, é verdadeiramente um objecto (aliás, falo disso na entrevista, da ideia de palpabilidade de um objecto com que se sai de uma sala de cinema). E eu acho que o objecto com que se sai de um filme do Kiarostami é muitíssimo maior do que um objecto com que se sai de um filme do Spielberg. Muito maior. O que tem a ver com isso, com o facto de serem filmes pensados de uma maneira completamente diferente. E curiosamente trabalhando numa economia muito menos quente, o Kiarostami é um cineasta que tem muito menos as calças na mão que o Spielberg. Para responder à sua pergunta, “onde é que está o cineasta do filme”: é saber se o cineasta tem as calças para cima ou para baixo. E em 90% dos filmes que eu vejo o cineasta tem as calças para baixo, claramente. Estão ali, a pedir ao espectador que acredite o mais possível nas imagens, que participe no jogo. Há muito pouco cinema hoje em dia onde ninguém pede nada a ninguém. E nos seus melhores filmes, o Kiarostami é claramente um realizador que não pede absolutamente nada a ninguém. Portanto, os filmes existem e eu acho que entregam qualquer cosia que é substancial quando são filmes que não estão obcecados com essa do fim. Inventam um modo de produção que tem a ver com um outro modo de existir perante o cinema, e perante a maneira como se filma. Aliás, não é por acaso que o Kiarostami correu com uma equipa de produção francesa no Gosto da Cereja (infelizmente não conseguiu filmar o filme por causa disso). Durante 15 dias estiveram a filmar com uma equipa de produção francesa até que ele percebeu que não era possível continuar assim. As pessoas estavam completamente obcecadas: “ele já filmou os planos do dia, ou não?”. E imagino que num filme daqueles se possam filmar dois planos num dia, e 50 no outro. É muito mais imprevisível ou muito mais difícil de marcar um filme assim com essa presença do seu final. É um pouco isto que eu estava a dizer, de deixar que as coisas corram. JOANA ASCENÇÃO. Mas aí é onde eu acho que a liberdade de produção é determinante. Por exemplo, eu pude fazer um filme sem um determinado número de constrangimentos. Não era uma encomenda, não tinha um prazo. O dinheiro foi surgindo aos poucos. E no meu filme, no fundo, estive a maior parte do tempo à espera. A rodagem desenrolou-se ao longo de dois anos e tal, e ao longo desse tempo eu estava à espera de um determinado tipo de coisa que nunca aconteceu. E portanto o filme foi sendo uma pluralidade de outras coisas. E a certa altura até queria desistir, mas já não podia voltar atrás. E foi o tempo que o permitiu. E foi precisamente fazendo a produção como nós fizemos – trabalhei com a Susana –, sem esse tipo de constrangimentos, que ele foi possível. Porque de outra forma era muito complicado e não sei se seria possível. PANORAMA ’08 | câmara III 149 No meu caso as condições de produção estavam definidíssimas à partida. O filme foi feito no âmbito de uma escola, dos ateliers Varan, que têm um sistema de produção bem definido. Doze realizadores, produzem 12 filmes, em três meses, sendo que se começa a filmar no segundo mês e depois há uma semana de montagem. Tudo passava por aceitar as regras do jogo – era por isso que tínhamos concorrido – e tentar obviamente descobrir qual era a nossa margem dentro dessas condições. Em relação aos finais. Eu acho que no meu filme a grande preocupação que eu tive... aliás, eu e a Alda – a personagem – foi como é que íamos fazer a tal passagem, de que já falei. Tomando o tempo necessário para perceber em que momento a poderíamos fazer, passar de um sentimento mais eufórico para outro com outro tempo, e com outro peso, também. E mesmo assim, não deixando que esse segundo momento decidisse demasiado o filme – acho que acaba por haver um terceiro estado, um pouco entre os dois, no último plano, qualquer coisa mais equilibrada. Reforçava então esse lado de aprendizagem. Acho que é um filme sobre a aprendizagem, mesmo que isso não esteja completamente plasmado ali. É, de alguma maneira, a aprendizagem daquela mulher em relação a tudo aquilo por que teve de passar, e da nossa aprendizagem, de aceitarmos o luto, que faz tanto parte da vida como a festa. Acho que houve ali uma aprendizagem mútua, e, mais uma vez, funcionando muito através de não-ditos. Nunca combinámos, nunca planificámos, mas de facto cada vez que eu ia àquela casa, sentíamos exactamente em que ponto estávamos da nossa caminhada. O que é que tínhamos para dar hoje, o que é que não tínhamos. Num dia cheguei e era o momento da performance, muito espontaneamente. E teria sido outra coisa se eu tivesse preparado com ela esse momento. Decidi aceitar as regras do jogo, e não havia de facto um final definido à partida. Havia uma data final para aquele filme e para aquelas rodagens. Isso sim, existiu desde o início. MIGUEL COELHO. Posso acrescentar uma coisa? Não tinha percebido a sua questão, há bocado. E é qualquer coisa que não se põe nos termos em que falou – para mim não se põe. Mas não vale a pena estar a aprofundar muito isso. É evidente que houve sempre a preocupação em captar coisas que me pareciam a mim importantes num personagem que está profundamente contextualizado numa margem. E que tem um comboio que roça, e que passa, e que normalmente não lhe diz nada a não ser no Verão. Havia um telemóvel que funcionava, não funcionava; um rádio que funcionava, não funcionava. Havia alguém que não comunicava e que era capaz de falar com as brasas, insultar uma castanha, e podia comunicar com quem não soubesse a sua língua. Estas eram questões com as quais não me confrontava todos os dias, mas que estavam perfeitamente presentes para mim, em relação àquela personagem. Comecei a construir essa relação. E foi uma teia que se foi tecendo ao longo do tempo. Para mim a questão do comboio era muito importante. Tenho imensas cenas com a indiferença dele perante o comboio. Era qualquer coisa que vinha de um sítio, ia para outro, trazia muita gente, viria de Lisboa ou de outro sítio qualquer, mas nunca lhe tocava. Como o rádio mal sintonizado. Não sei se me faço entender...? Havia sempre a ideia de uma modernidade completamente JORGE MURTEIRA. 150 PANORAMA ’08 | câmara III exterior a alguém que está ancorado num espaço. É evidente que a casa, de um ponto de vista quase metafórico, se encaixa perfeitamente dentro dessa percepção que se foi construindo. Em relação à câmara, em relação à luz, houve dias em que eu trabalhei com o automático, porque não tinha tempo de bater brancos. Não podia dizer, “oh senhor Paulino, antes de arrancar com o passageiro, espere aí que eu vou pôr uma folhinha branca para bater os brancos”. Quer dizer, não era possível. Outras vezes é evidente que tive essa preocupação, dentro das limitações de uma mini dv. Quando ele estava em contraluz e tinha céu, sabia os problemas que o vídeo tem com sombras e com luz, mas não era por causa disso que ia deixar de fazer uma determinada captação. E, mesmo do ponto de vista da edição, quando me aparece um dedo na focagem, não tenho nenhum problema com isso. FERNANDO CARRILHO. PUB Vamos passar às perguntas do público. 1. Isto aqui é uma questão de alguém completamente outsider – eu sou uma espectadora. Não fazia a mínima ideia que ia intervir, estava aqui totalmente como espectadora, mas depois de ouvir o João Mário Grilo, senti que precisava de fazer umas provocações, também. E gostava de pegar nalgumas questões que colocou, e talvez colocá-las numa outra perspectiva, porque cada um tem a sua, é óbvio. Relativamente às duas referências que utilizou, os filmes dos irmãos Lumière e as pinturas de Lascaux, parece-me, e desculpe o atrevimento, que quando as referências são colocadas dessa maneira, há tendência para mitificar os objectos a que se referem. São objectos com um valor intrínseco, valem por si próprios, e que, quando utilizados dessa forma, nesse contexto, o perdem para passarem a funcionar como projecção. A projecção de um percurso histórico colectivo, cravejado de experiências. Portanto, quando se fala assim dos filmes dos irmãos Lumière, ou quando o Picasso faz determinadas considerações sobre as pinturas de Lascaux, está-se a projectar todo um percurso colectivo histórico e da própria experiência num objecto. E tem valor só enquanto isso e mais nada. (Se calhar não me estou a fazer entender porque não estava à espera de falar e estou aqui a reunir uma série de questões). Quanto à questão dos finais, essa é mais específica e do seu domínio, mas também me atreveria a dizer que a questão do final também é subjectiva. E é evidente que quando se fala de cinema fala-se de imensas coisas, fala-se de criação, de espectáculo, fala-se da técnica. E quando se pensa num final de um filme do Spielberg, ou de um filme do cinema americano, incluído na história do cinema americano, fala-se de um percurso que tem nuances, evoluções diversas, e que está incrustrado num determinada cultura, e que obviamente não será o mesmo para outros cineastas geografica e historicamente localizados Perdoe-me, no fundo, este raciocínio cartesiano, mas no fundo é esse que tem que ver com as minhas origens – o pensamento que me formou ainda foi cartesiano. Mas o que eu penso que interessa – e isto é sempre uma opinião, como será a sua – para quem está cá fora, e também para quem cria, é que haja coerência, seja qual for a ligação que exista entre a narrativa, a questão técnica, e o próprio espectáculo. E que essa coerência resulte exactamente na gratificação de quem vê, e que o criador se reveja nisso, nessa gratificação de quem vê. Não sei se fui clara, andei um bocadinho às voltas... PANORAMA ’08 | câmara III 151 Acho que sim, que foi clara. Pode é haver algum desentendimento em relação àquilo que eu disse. Eu estou a tentar (aliás, durante toda esta conversa) explicar o que eu disse. Mas as explicações vão permitindo dizer outras coisas. Nem eu mitifiquei os Lumière, nem o Picasso mitificou Lascaux. Quer dizer, acho que quando o Picasso diz que não se avançou nada, não há mitificação nenhuma. JOÃO MÁRIO GRILO. PUB 1. Pois não, ele está a falar dele próprio. Não. A pintura não avançou nada. A pintura. O que ele diz é “não se avançou nada”, não foi “eu não avancei nada”. JOÃO MÁRIO GRILO. PUB 1. Ele está a incluir-se a ele próprio... JOÃO MÁRIO GRILO. Não. Vou tentar explicar. Eu também acho que não se avançou nada no cinema. Porque acho que os Lumière colocaram todos os problemas do cinema num único plano. E portanto, o problema da sensação do espectador, o problema do princípio, do meio e do fim, a força do que se passa não seria, provavelmente, possível – e há muita gente que escreveu sobre isto – se aquele comboio tivesse sido filmado de um outro ponto de vista. A invenção do ponto de vista nos Lumiére, é uma invenção cinematográfica. Não é uma invenção fotográfica, é uma invenção cinematográfica, está lá para maximizar a força do comboio e a impressão que ele vai causar no espectador. E portanto, tudo aquilo que se fez no cinema a partir daí, foi uma repetição dessa força. Foi uma tentativa de re-inventar, num sistema de planos, aquela força. Com um sistema de narrativas, aventuras, peripécias que nada têm a ver com o cinema – as peripécias não têm nada a ver com cinema, as histórias não têm nada a ver com o cinema; com os filmes sim, mas não com o cinema. O cinema é isso, é a invenção de um ponto de vista, de uma distância, de um tempo e de um movimento. E isso está tudo nos filmes dos Lumière. Tal como o Picasso diz que não se avançou nada, o Tintoretto, o Ticiano, o Leonardo não avançaram nada em relação a Lascaux. E, não sei se já alguém foi a Lascaux, mas é verdadeiramente um pouco esse o sentimento que se tem: que nunca se fez na arte nada que equivalesse à força que está plasmada ali. Aliás, a compreensão da arte, do gesto artístico, é mais fácil para quem vai a Lascaux, do que para quem vai a 50 museus no mundo (não estou a dizer que não é importante ir a museus, estou a falar da compreensão da força da arte). Porque aquilo está lá, está no sítio. E há uma energia que se desprende daquelas figuras, mas que existe dentro do espaço. Quando se leva um quadro para dentro de um museu, esse quadro perde parte da energia que tinha no sítio onde tinha estado por três ou quatro séculos. Essa mudança tem um preço. PUB 2. Mas, desculpe, eu não percebo... vou ser muito inconveniente mas tenho mesmo de ser. JOÃO MÁRIO GRILO. E faz muito bem. PUB 2. E acho que temos cada vez de ser mais inconvenientes neste país. Eu vim aqui, também como espectadora, aliás, até por uma questão afectiva e emocional que tenho para com o Jorge, a quem vi crescer. E vi o filme sobre o barqueiro e realmente gostei muito do documentário. 152 PANORAMA ’08 | câmara III Gostei muito da intervenção de todos estes realizadores, ou produtores como quiserem chamar que eu não sei nada de cinema. Gostei de tudo o que vi aqui. E acho que as suas intervenções são extremamente... intelectuais. A chamar a atenção para isto e para aquilo: isso não me interessa nada. A mim só me interessa o trabalho que estes jovens fizeram e estão a fazer, e que é extremamente importante. Isso do fim, todas essas coisas de que tem estado a falar, dizem respeito a qualquer arte e não só ao cinema. Era preciso falar era dos personagens que eles filmaram, o que é que eles sentiram a fazer os documentários, a ligação afectiva que criaram – isso é que era importante. Parece-me a mim que a sua intervenção é sobre a gramática do cinema, um discurso de crítico da arte, que, para mim, é extremanente irritante. Fiquei muito desiludida consigo. Também não é preciso ser inconveniente. Nós estamos aqui a debater cinema. E é natural que algumas pessoas possam não estar bem enquadradas no discurso do João, e dos realizadores – não há aqui, do meu ponto de vista, campos de oposição assim tão fortes. FERNANDO CARRILHO. PUB 1. Eu só queria dizer que gostei da conversa do João Mário Grilo, embora não esteja de acordo com o que ele disse, e com a veemência com que disse. Portanto, acho que existe aqui uma série de preconceitos – desculpe-me novamente o atrevimento – que são discutíveis. Relativamente só à questão que colocou, sobre a mitificação dos Lumiére e de Lascaux, eu voltava a dizer, teimosa, que são questões que só podem ser vistas assim, porque são vistas não sei quantos séculos depois, através de um determinado percurso que se fez. Só depois disso é possível vê-las dessa maneira e não no seu valor intrínseco, como quando foram criadas. Pronto, era só isso que eu queria dizer. JOÃO MÁRIO GRILO. Só para responder, rapidamente. Eu não vim aqui falar para vocês. Vim aqui tentar pensar com as pessoas que fizeram estes filmes, alguns problemas que são importantes para elas e são importantes para mim. Há uma conversa que vocês seguramente gostarão de ter com os realizadores sobre os filmes mas eu vim aqui tentar reflectir com eles uma questão precisa que tem a ver com a câmara. Eu acredito que aquilo que disse é eventualmente interessante para as pessoas que fizeram estes filmes, que eu desejo que possam continuar a fazer filmes no futuro. E são problemas que eu encontro nos filmes deles, como são problemas que eu encontro nos meus próprios filmes. E portanto a minha conversa, por muito que vos pareça inconveniente o que eu vou dizer, não tem à partida nada a ver com vocês. Tem a ver com pessoas que fazem filmes e não com pessoas que os vêem. Acho que as pessoas que aqui estão, estão convocadas para este debate de maneiras diferentes. Não sei se há aí algum realizador na sala, não faço a menor ideia, mas as pessoas que aqui estão na mesa são realizadores de filmes, com os quais eu estou a falar de uma questão técnica do trabalho do cinema. E portanto, de facto lamento imenso mas as outras pessoas facilmente serão excluídas desta conversa. Digamos que eu não estou a ter uma conversa inclusiva, estou a ter uma conversa exclusiva. Lamento imenso mas foi nesse contexto que eu aceitei aqui vir. Se fosse uma conversa de chacha sobre personagens, histórias, nunca aqui tinha posto os pés, é evidente. PANORAMA ’08 | câmara III 153 A proposta deste Panorama do Documentário, de tentar pensar questões que têm a ver com o modo de fazer documentário, com os documentaristas, pareceu-me interessante. Nada do que eu disse está resolvido para mim. É um problema que estou a passar para as pessoas e que eu acho que pode ser tratado por elas de maneira diferente. Eu tenho a certeza absoluta que há pessoas aqui que sentem esse problema muito directamente, e haverão pessoas que o sentem de maneira mais indirecta. Até nos filmes que fizeram isso para mim é muito claro. Esta questão tem a ver com alguns filmes, mas não com todos os filmes. Mas coloquei uma questão que me pareceu suficientemente aberta, que eu acho que deve morder na essência do trabalho de um cineasta hoje, que é pensar que há atitudes que verdadeiramente têm de ser construídas, e que os filmes se constroem a partir dessas atitudes de cineasta. Eu não me considero, hoje, um cineasta feito. Sou um cineasta que continua a aprender como é que se faz um cineasta. E acho que isso se vê nos filmes. É a ideia do “onde está o Wally”, não é? “Onde é que está o cineasta do filme” tem a ver com até que ponto essa atitude desse cineasta está ou não formada dentro do filme que fez. É só para justificar, e peço imensa desculpa pela minha incoveniência, mas para a minha conversa as pessoas que aqui estão na sala são convidadas como espectadoras. De facto eu vim aqui falar para pessoas que fazem filmes e não para pessoas que os vêem, sabendo eu que este debate era público. Eu acho que a conversa é difícil, mas as conversas com os cineastas são sempre difíceis. É a mesma coisa que estarem a assistir a um debate entre dois jogadores de futebol: podem perceber muito de futebol, mas se calhar não percebem 50% do que está a ser dito entre eles. Só isto. FERNANDO CARRILHO. Continuando. Sei que estão aqui pessoas muito relacionadas com o documentário e com o cinema, e mesmo sabendo que às vezes é difícil para algumas pessoas que têm um universo artístico diferente perceber esta linguagem um pouco mais especializada, não se sintam inibidos e espero mais perguntas em torno destas questões que o João levantou aqui, e que também os realizadores tentaram articular na mesa. Mais questões, por favor. PUB 3. É uma questão para o João Mário. Eu sei, porque já conheço alguma coisa do João Mário, e tive aulas com o José Manuel Costa, que eles têm perspectivas diferentes sobre o documentário. O José Manuel Costa defente o improviso, do saber lidar o improviso, apesar de pensar. tal como o João Mário, na questão da produção. Eu gostaria de saber o que é que o João Mário tem a dizer em relação a estes filmes, e em relação a essa perspectiva, de saber lidar com o improviso, que eu acho que é qualquer coisa que eu vi em alguns dos filmes das pessoas que estão aí nessa mesa. JOÃO MÁRIO GRILO. Eu já falei vagamente sobre isso, embora não tenha discriminado muito os filmes. Para mim tem muito a ver com essa atitude inclusiva e exclusiva, e não tanto com a questão do improviso. E talvez a imagem da “câmara que espera” seja boa para pensar isso talvez de uma outra maneira. Como é que eu diria?... Acho que é qualquer coisa que tem a ver com a interioridade de cada cineasta, e que a câmara pode servir para transformar, mas nunca transformará radicalmente. Eu acho que as pessoas são “naturalmente” inclusivas, ou “naturalmente” exclusivas. E tem a ver com o olhar. 154 PANORAMA ’08 | câmara III Há aquela ideia dos cineastas que nunca espreitam pela câmara. E portanto, a câmara é colocada num sítio, é escolhido um ponto de vista, e não tanto em função do enquadramento, mas em função do campo – por causa disso as pessoas trabalham fora da câmara. E isso tendrá a chamar mais coisas não de improviso mas imprevistas para dentro do plano. O Truffaut dizia que nos seus filmes toda a gente podia passar de bicicleta – podem imaginar o problema que é um indivíduo passar de bicicleta: se quiserem fazer um plano – documentário ou ficção – em que há um indivíduo que de repente em segundo plano passa de bibicleta, o que é que vocês vão fazer a essa bicicleta? Porque, se de repente voltarem a câmara para o lado, uma hora depois, a bicicleta já lá não está. Estão a ver a bicicleta que passou e quando passam para o plano a seguir há uma bicicleta que desapareceu. Portanto, para o cinema de um cineasta se articular com a bicicleta, ser capaz de meter a bicicleta dentro do plano (e não dentro do filme), é necessário que haja uma estratégia. Uma estratégia mais plástica, mais elástica do cinema, e não tão fechada como acontece nalguns filmes, mesmo ao nível do documentário. Portanto, eu não falaria tanto na questão do improviso, mas mais na questão do imprevisto. De uma câmara que naturalmente está disponível para incluir coisas correndo o risco delas serem mal enquadradas (como mais uma vez acontece no filme dos Lumière – as pessoas em primeiro plano estão mal enquadradas, umas com a cabeça quase fora do quadro). Mas em que, por causa disso, se passam outras coisas. Vêem-se outras coisas melhor do que se isso não acontecesse. Tudo isto é muito premente no caso do documentário. Porque enquanto na ficção, em geral, se pode repetir, no documentário as coisas acontecem uma vez. Portanto, é preciso atitude e é mais difícil fazer isso nos documentários, porque é preciso que a atitude esteja formada à partida. Não é natural, fazer cinema. Não é natural que uma pessoa seja capaz de fazer o que um cineasta faz. O cinema implica uma certa desumanização, porque é preciso pensar entre a realidade e a máquina. E esse espaço é completamente construído. Não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas parece-me que é uma coisa que se faz com uma certa disciplina. É preciso quase uma ginástica diária para conseguir, quando se filma a realidade, ser capaz de fazer as coisas naturalmente, sem ter que pensar sobre elas, porque não haverá tempo para isso. É qualquer coisa que se tem de fazer filme a filme e dia a dia, mesmo quando não se filma. Eu não diria quais são os filmes que deste grupo me parecem estar a minguar da inclusão, e os que me parecem estar a minguar da exclusão, mas é óbvio que há nestes filmes diferenças a este nível, e por acaso algumas delas surpreendentes. Isto é, filmes que parecem ser naturalmente inclusivos, são, na minha perspectiva, os mais exclusivos. Acho que esta é uma dinâmica importante, e que define muito o que é que a câmara vai ser. E sobretudo ajuda a que a câmara num filme seja sempre a mesma. Não seja uma coisa num momento e 10 minutos depois seja outra coisa completamente diferente – o que eu acho que aqui não acontece. Há mesmo um filme que é exemplar a esse nível que é o filme do João Vladimiro – que não está aqui – o Pé na Terra. É um filme absolutamente exemplar a esse nível. Bem, não sei se respondi. Mas acho que não tem muito a ver com a ideia do improviso, tem a ver com a ideia do imprevisto. Ser capaz de acolher, de receber dentro de um filme aquilo que não estava previsto que acontecesse. PANORAMA ’08 | câmara III 155 Pensando agora mais no modo de fazer cinema, do que teorizando, se calhar aquilo que junta estas coisas todas é a questão da escrita para o cinema. Acho que não é por acaso que o João Mário começou por falar na produção, e por dizer que a produção do documentário tem as suas especificidades. Eu acho que o grande valor da possibilidade de ter produção é poder escrever o filme. Trabalhar a escrita do filme, libertando-o portanto deste problema de que estamos aqui a falar, daquilo que acontece por acaso (que vai acontecer na mesma). Quando falo de escrita falo do processo de pensar o filme, prévio ao filme, qualquer coisa que se ultrapassa facilmente quando não há produção, porque se torna desnecessário. Porque não temos de escrever um projecto, um guião, e depois reescrever esse projecto não sei quantas vezes. Ninguém o vai ler, só estaríamos a escrever por nós próprios, sozinhos. E quando é assim não escrevemos. E vamos por nós próprios, com a câmara, para as coisas, e fazemos. Acho que era mesmo interessante o Panorama um dia pegar na questão da produção. Para permitir uma discussão, mais do que em volta dos dinheiros, em volta daquilo de que o João Mário está a falar. De como não é natural fazer filmes, e de que nem toda a gente é um cineasta, e há poucos, são raros os cineastas. Eu concordo com isso. Mas acho que há aqui um problema de maturação que passa por um problema de produção. Bem, estamos aqui a falar de câmara, e se calhar não devíamos estar a falar de escrita, mas acho que no fundo tem tudo a ver. PUB (CATARINA ALVES COSTA). Catarina, se falamos de um filme em termos de escrita, se falamos sobre fazer o tratamento de um filme, estamos a falar de câmara, também. Penso que é isso que estás a dizer. JORGE MURTEIRA. PUB 4 (CATARINA ALVES COSTA). Sim, sim. Eu estava a ouvir esta conversa e estava a lembrar-me do Rui Duarte de Carvalho que é um angolano, escritor e cineasta, que fez uns filmes fabulosos no Sul de Angola, sem produção. Na altura em que Angola estava a ser independente ele partiu para o terreno para fazer uns documentários para a televisão angolana, e fez uns filmes muito bons. E um dia ele teve muito dinheiro para fazer um filme, e um produtor – o Paulo Branco – e foi para Cabo Verde fazer um filme. E esse filme falhou completamente. Ele contou a história há pouco tempo no CCB e disse que esse filme tinha falhado porque tinha havido uma produção. E essa conversa foi dar ao ponto em que estamos nós também agora, porque o que aconteceu foi que, pelo facto de haver uma produção, uma equipa enorme, e uma série de constrangimentos, ele não conseguiu filmar aquilo que era capaz e que era bom a fazer que era filmes com esse lado (que eu não chamaria também de improviso, porque acho que não há improviso) de abrir o filme e deixar lugar para as coisas acontecerem e incorporá-las segundo uma ideia original. E é isto o que ele faz. Não faz documentário observacional, faz filmes na fronteira da ficção, teatralizando os mitos de origem tribal. E o facto de ter ali uma equipa enorme estragou tudo. Não é que ele não trabalhasse com uma equipa, mas não com uma equipa de produção que tinha e transportava os esquemas da ficção para o filme dele. Acho que falar de produção não pode ser falar de dinheiro e falar de equipas e falar de técnica. Tem que ser falar da possibilidade de trabalhar uma ideia. E a sensação que eu tenho aqui no Panorama, nalguns filmes que vi, é que há ali material que eu se calhar considerava de repérage. 156 PANORAMA ’08 | câmara III Ou seja, que é aquele material de primeiro impacto com as coisas, em que está lá tudo, mas ainda não está lá nada, e que depois não há possibilidade de continuar porque não há dinheiro, não há tempo, porque se está na escola, porque se está a fazer um curso: monta-se aquilo e entrega-se assim. E pronto. É por isto que a questão da escrita, do tempo e da câmara estão relacionadas. Deixa-me só reforçar essa ideia: para mim a produção tem a ver com a palavra fim. The End. Isto é, a questão aqui é saber se no documentário existem produtores que não pensem o cinema como ele é pensado na ficção, onde ele é pensado exactamente com esse objectivo, o de colocar no final do filme a palavra ‘fim’. E, mais uma vez repito, essa questão não tem importância por si, tem importância porque é um sistema que afecta o quotidiano de rodagem. Eu, que não sou um realizador de documentário, que não faço documentários por disciplina, a minha questão é mesmo saber – e já se respondeu a ela –: até que ponto é que nos casos em que existe produção no documentário (porque há casos em que não existe, já aqui foram enumerados, onde se arranjam esquemas que têm apenas a ver com um filme) se existem produtores no documentário que não pensem nesse “fim”. Enfim, a questão é mesmo esta: há produtores de documentário ou é preciso inventá-los? Porque acho que a produção é necessária. Não me parece haver cinema sem produção. JOÃO MÁRIO GRILO. PUB ( CATARINA ALVES COSTA ). JOÃO MÁRIO GRILO. Acho que é preciso inventá-los. Pois, também acho. Também acho. PANORAMA ’08 | câmara III 157 EXCERTOS DO TEXTO: O PONTO DE VISTA Jacques Aumont No Quattrocento, aquilo que caracteriza um quadro é o facto de se organizar em torno de um ponto, raramente materializado em pintura, para onde convergem as linhas que representam rectas perpendiculares ao plano do quadro. Imagem do ponto no infinito dessa família de rectas, o ponto de fuga principal também se pode definir, geometricamente, como marca da posição do olho do pintor. A perspectiva artificialis conjuga, assim, a imagem do infinito com a do homem, e é a partir desse nó umbilical que a representação se organiza. Este ponto geométrico também é por vezes designado – notável metonímia – pelo mesmo nome com que se designa a colocação do olho do pintor: o ponto de vista. Uma parte considerável da história da pintura, tal como tem vindo a ser escrita de há cem anos para cá, tentou a apartir daí seguir os avatares desse “ponto de vista”: elaboração, hesitante e lenta das regras técnicas da perspectiva com um centro; evidência da marca “humanista” nestes dados técnicos, e da referência do quadro a um olhar que o constitui (olhar do pintor, ao qual o do espectador deve, topologicamente, substituir-se); dissolução de um e outro, no fim do século. O essencial, neste período da história da representação, é portanto a indefectível solidariedade entre o quadro e o espectador, e mais precisamente a simetria entre ambos, esse impossível cruzamento de olhares entre o espectador e o pintor, cuja descrição, hoje clássica, se encontra em Foucault e em Lacan. Não é inútil recordar que, na língua francesa “clássica”, digamos que até ao século XVIII, a expressão “ponto de vista” também designava, e muito logicamente, o lugar em que um objecto deve ser colocado para se ver melhor. Admirável ambiguidade da língua, que confirma a dualidade fundamental observador/observado. No seu próprio dispositivo, a fotografia “absorveu” todos estes pontos de vista. Tal como a pintura, a representação fotográfica supóe a escolha de uma colocação do olho que vai realizar a tomada de vistas, e também a fixação de uma boa colocação do objecto visto, aliás, a objectiva é geralmente construída de forma a produzir automaticamente uma imagem com um ponto de fuga central. Também o cinema, por intermédio da imagem fotográfica, é dominado pela metáfora do olhar, do ponto de vista, até na forma como trata o material visual. Não ficamos por aqui. Ao mesmo tempo que a pintura aprendia a dominar os efeitos desta representação centrada, a literatura descobria a pouco e pouco fenómenos análogos, e em especial a complexidade das relações entre acontecimentos, lugares, situações, personagens, e, por outro lado, o “olhar” com que a instância narradora os vê: a literatura moderna é uma literatura do ponto de vista, cada vez mais obcecada por uma partilha difícil entre aquilo que diz respeito ao autor e que como tal é assumido, e aquilo que irá ser atribuído às personagens. Em grande parte, é este período literário que define o cinema “clássico” como herdeiro de um sistema narrativo que talvez tenha alcançado o seu ponto máximo no século passado, e que colocou, com uma grande nitidez, as questões do narrador, do seu olhar, e da sua encarnação sob as espécies do autor e da personagem. Aquilo que transformou o cinematógrafo (ou o cinetoscópio) em cinema foi, essencialmente, a preocupação das articulações, do ajustamento entre instâncias narrativas concorrentes, entre pontos de vista sobre o acontecimento. Na história da representação fílmica, o primeiro acontecimento fundamental 158 PANORAMA ’08 | câmara III foi, sem sombra de dúvida, o reconhecimento do potencial narrativo da imagem, mediante a sua assimilação a um olhar. Sabe-se, de resto, como o período clássico do cinema hipostasiou esse olhar, tanto na vertente personagem como na vertente autor. Desenha-se, assim, uma dupla linha de partilha que distingue por um lado entre figuração directa (na imagem) e a indirecta (na narrativa) de um ponto de vista – e reparte, por outro lado, esses pontos de vista pelos três lugares de onde se olha: o personagem, o autor, o espectador que os olha aos dois, e que se vê a olhar. Finalmente, acrescente-se – e isto não é válido apenas para a língua francesa – a expressão ponto de vista também se presta a uma extensão metafórica; é uma opinião, um julgamento, que depende do dia em que se consideram as coisas, do ponto de vista (em sentido literal) que em relação a elas se adopta, e que informa amplamente a própria organização da narração e da representação. Não há ponto de vista (nos três ou quatro sentidos anteriores) que não seja adoptado por causa deste ponto de vista. Passemos a resumir este leque de significados da banal locução “ponto de vista”, tentando de certo modo especificá-los em relação ao cinema: 1. Em primeiro lugar, é o ponto, o lugar a partir do qual se olha: portanto, o lugar da câmara relativamente ao objecto olhado. O cinema aprendeu muito cedo a multiplicá-lo, através da mudança e do encadeamento de planos, e a desmultiplicá-lo, através do movimento do aparelho. (...) 2. Correlativamente, é a própria vista, considerada a partir de um certo ponto de vista: o filme é imagem, organizada pelo jogo da perspectiva centrada. O problema maior é aqui o do enquadramento, mais precisamente o da contradição entre o efeito de superfície (ocupação plástica da superfície do enquadramento) e a ilusão de profundidade. 3. Em si mesmo, este ponto de vista 2 refere-se constantemente ao ponto de vista narrativo; o enquadramento, por exemplo, é sempre mais ou menos, no cinema narrativo, representação de um olhar, o do autor ou o da personagem, e também aqui a história do cinema narrativo é a da aquisição e da fixação de regras de correspondência entre um PDV1, o PDV2 que dele resulta, e esse ponto de vista narrativo. 4. O todo, finalmente, é sobredeterminado por uma atitude mental (intelectual, moral, política, etc.) que traduz o juízo do narrador sobre o acontecimento. Este ponto de vista 4 (chamar-lhe-emos “predicativo”) informa evidentemente, antes de mais nada, a ficção sobre si própria, (juízos do “autor” sobre as suas personagens, etc., que são o mais evidente da crítica comum sobre os filmes) mas aqui vai apenas interessar-me na medida em que é também susceptível de ter consequências sobre o trabalho da representação, e de modelar o representante fílmico (para não começar já a falar em significante). Passemos a resumir, visto que os antecedentes históricos desta noção composta de “ponto de vista” não deixarem de ter importância. Como já sugeri, a história da pintura do século XV ao século XX é a da regulação, e a seguir a da mobilização do ponto de vista: da sua instituição ao descentramento no barroco, à sua diluição nos paisagistas do século XIX e no impressionismo, à sua multiplicação e perda no cubismo “analítico” – e é aqui que o cinema retoma a questão. Consideremos apenas um exemplo, o de Degas, que definia o trabalho do pintor (ou do escultor, vejam-se as suas estatuetas, geniais, dos Estudos dos movimentos do cavalo) como uma apreeensão do momento, da “fracção de duração que em si própria contém a sugestão do movimento inteiro”: ou seja, uma concepção da pintura como se fosse uma espécie de instantâneo (Degas, como se sabe, também era fotógrafo). Mas ao mesmo tempo, não há quadros mais compostos do que os de Degas, PANORAMA ’08 | câmara III 159 mais montados como diz Eisenstein, e menos para registar um movimento do que para exprimir um sentimento, um sentido, um efeito plástico. Este estatuto duplo do enquadramento que Degas exibe – um inocente, do instantâneo que supreende o real, e outro, composto e saturado de sentido, que é o da imagem montada – traduz para a própria pintura, Bazin bem o tinha notado, a oposição fotografia – cinema, por o cinema ser uma arte do ponto de vista instantâneo mas múltiplo. Por outro lado, como já recordei, o século XIX e o princípio do século XX vêem as vanguardas literárias preocuparem-se, entre outras coisas, com a exposição do processo narrativo no interior da ficção, inserindo-lhe, por exemplo, como James ou Proust, um personagem-narrador “self-conscious”, ou, como Conrad, um “relfector central”. É assim que o cinema narrativo surge precisamente no momento em que a literatura experimenta a exposição, a diversificação e a mobilização do ponto de vista narrativo. Aquilo que o cinema narrativo vai buscar a estes modelos literários não segue depois um caminho linear; em vez disso, tem-se a impressão de que é ao redescobrir, através dos seus próprios caminhos, a problemática do personagem e do seu ponto de vista que o cinema conseguiu ser, no seu período “clássico”, substituto do romance do século XIX. (Entretanto, o experimentalismo que marca o cinema europeu dos anos vinte alimenta, inversamente, novas gerações de escritores, de Joyce a Dos Passos). O cinema, enquanto arte de representação – ou seja, precisamente a partir do momento em que se autonomiza do espectáculo, ambulante ou sedentário, para se tornar arte – liga-se a esta história dupla ou tripla: pintura, fotografia, literatura. (Talvez alguns leitores se admirem por não se mencionar aqui o teatro: é que, como este texto depois esclarecerá, o ponto de vista em cinema não tem nada a ver com um “ponto de vista” teatral, que é antes uma questão de arquitectura, e, por outro lado, a história da forma fílmica – não digo a história do cinema – não tem praticamente relação nenhuma com a do teatro). A questão do ponto de vista, como se vê, é tudo menos uma questão; o que se passa é que circunscreve o espaço de um nó de problemas, os problemas centrais de qualquer teoria do cinema que considere a natureza dupla, narrativa e representativa, do filme. E limitámo-nos à gama de pontos de vista do produtor, sem tentarmos avaliar o modo como cada um deles implica, ou procura implicar, a adopção simétrica de posições de visão e de leitura determinadas no espectador (esta questão do espectador reaparecerá, como é evidente, de uma forma mais ou menos brutal, a seguir). O meu problema, nestas anotações, não é propor um modelo geral e abstracto que visaria desfazer teoricamente esse nó; mesmo que tivesse essa tentação, depressa desistiria ao verificar o estado absolutamente balbuciante de todos os estudos neste domínio, mesmo quando são empreendidos por investigadores com uma bagagem linguística e lógica muito superior à minha: fico convencido da impossibilidade (talvez provisória) de construir um modelo trans-histórico da “linguagem cinematográfica”. O meu objectivo é portanto, e apenas, pôr em evidência, servindo-me de alguns exemplos, a dualidade fundamental no filme entre os parâmetros da representação e da narração, a propósito da noção de ponto de vista. Esta dualidade acaba por ser reabsorvida, de uma forma muito geral, no discurso sobre o filme, sob o pretexto implícito de que, sendo o filme, na sua concepção habitual, uma história contada através da imagem (e do som) se recenseiam suficientemente os fenómenos de representação reconduzindo-os à história, ou melhor, à narrativa. Exemplo. Em Este Obscuro Objecto do Desejo (1977), uma única personagem de mulher é encarnada por duas actrizes diferentes, de forma suficientemente complexa para que o princípio que rege a substituição não seja evidente; ora, já para não falar nos numerosos espectadores que não se aperceberam 160 PANORAMA ’08 | câmara III de nada, creio que ninguém se sentiu verdadeiramente impedido de considerar o filme como uma narrativa normal – ou pelo menos ninguém se sentiu impedido de considerar que a anormalidade (o famoso «surrealismo» buñueliano) não era aí que estava. Outro exemplo. Os filmes «primitivos» apresentam-se, muitas vezes, como uma série de quadros «descosidos», e isso torna-nos difícil o seu funcionamento narrativo; no entanto, quando eram exibidos normalmente, esses filmes eram acompanhados por um comentador, que não só preenchia as elipses da narrativa, como classificava com uma palavra, caso fosse necessário, o lugar representado, evitando assim que as pessoas confundissem o refúgio dos bandidos com o palácio do rei. Estes dois exemplos (e mais cem que seriam fáceis de encontrar) servem apenas para sublinhar o privilégio que a instituição cinematográfica concede espontaneamente ao narrativo em detrimento do representativo. Privilégio que pode ser confirmado, aparentemente sob a mesma forma espontânea e evidente, também na reflexão teórica e analítica recente. Basta que se releiam a maioria das análises («textuais» ou não) publicadas, para se ficar convencido de que quase todas, e independentemente da qualidade que possam ter, se concentram de uma maneira «desequilibrada» sobre a análise da história, em detrimento da reflexão sobre o nível figurativo e representativo, que só é convocado quando é preciso levar a água ao moinho narratológico. Quanto aos teóricos, as noções recentemente propostas de «texto fílmico» (Casetti), de «dinâmica comunicativa» (Colin) ou até, paradoxalmente, de análise «paramétrica» (Chateau) têm uma característica comum: só retêm da imagem, e por definição, o seu poder narrativo (mesmo que seja disnarrativo). Por outro lado, esta grande concorrência (ou colaboração) entre narração e representação duplica-se e é coberta por outra: a oposição entre todos estes pontos de vista parciais (representativos e narrativos) que são essencialmente da ordem do imaginário – e aquele ponto de vista a que demos o número «4», que se traduz por uma tentativa de inscrição do sentido nos filmes, tentativa em que o registo do simbólico é mobilizado. Muitos dos constituintes da narrativa e da imagem (também auditiva) se prestam a esta codificação que os transforma em expressão de um ponto de vista. Todos os valores plásticos, todos os parâmetros icónicos e muitos dos elementos da narração podem ser investidos deste valor de significado – da inclinação da câmara à cor, da escolha do tipo do actor à consideração, no filme, de um gesto social. Já aqui afirmei: não posso pretender propor um modelo, uma solução geral para estes problemas. O que é possível é apontá-los, referindo-me à história (história dos filmes e, num âmbito mais vasto, história da representação). Naturalmente, as dimensões destas notas não autorizam qualquer pretensão a um trabalho histórico, e a minha estratégia inclui a contribuição de uma suposta história do cinema de que, todos os dias percebemos isso, só existem esboços. O que se segue apresenta-se, portanto, como uma série de punções, mais ou menos arbitrárias, no vasto «corpus» dos filmes e das teorias que os acompanham – com o único propósito de delimitar as relações, permamentes e variáveis, destes «pontos de vista». Retomemos (no livro magistral de Deslandes, por exemplo) os primeiros anúncios das sessões do cinematógrafo Lumière (ou dos seus concorrentes): os filmes são, aí, «fotografias animadas», «cenas animadas», «quadros animados», ou, simplesmente, e com muita frequência, «vistas». Como dizer melhor? O filme foi primeiro uma imagem, um ponto de vista, o da câmara que produz um ponto de vista 2, encarnado num enquadramento. PANORAMA ’08 | câmara III 161 Melhor ainda: antes mesmo da sessão no Salon Indien do Grand Café, Edison construíra, em 1894, no seu terreno de West Orange, o famoso «Black Maria», estúdio sem tecto em que as vistas chegavam ao cinetoscópio antes de o cinetoscópio chegar até elas. O «quadro animado» era aí registado, num enquadramento sempre idêntico e sempre frontal (fixava-se a câmara e mantinha-se sempre a mesma posição), sobre um fundo de papel com alcatrão. Dois anos mais tarde (1896) Dickson, um desertor de Edison, mandava construir num telhado de um prédio da Broadway o estúdio da American Mutoscope Cie, a futura Biograph. Também era ao ar livre, mas com um melhoramento: a câmara, fechada numa pesada cabine, podia deslocar-se sobre carris perpendiculares à cena, permitindo assim a mudança de enquadramento entre dois planos (e permitindo até o travelling para a frente, se bem que essa possibilidade não tenha sido, segundo parece, utilizada na época). Durante algum tempo realizar um filme era, portanto, pôr a câmara em qualquer sítio e enquadrar. O resto, já se conhece: consiste, essencialmente, em mobilizar esse enquadramento. Já há muito tempo que se faz notar que essa mobilização se efectuou, de forma privilegiada, muito mais a partir da invenção da montagem do que pela utilização de movimentos de aparelho. É possível, a partir deste semiparadoxo, referir um exemplo definitivo, comparando duas produções quase contemporâneas: por um lado, as «vistas» do tipo Hale’s Hour, que consistem em colocar uma câmara em frente de uma locomotiva, ou sobre a plataforma da rectaguarda de um comboio, e filmar em continuidade; por outro lado, os primeiros, e célebres, pequenos filmes de aventuras que utilizavam uma sucessão de planos diferentes (o famoso Great Train Robbery, de Edwin S. Porter, e o seu antecessor britânico, A Daring Daylight Burglary [de Frank Mottershaw], ambos de 1903). No primeiro caso, apesar da modificação incessante da paisagem, e da interminabilidade da vista, continua a tratar-se apenas de uma tomada de vistas. Inversamente, nos dois títulos citados, se bem que se mantenha a fixidez do enquadramento (o que conduz, necessariamente, ao advento da «teatralidade» do Film d’Art e de Griffith-Biograph), extrai-se a consequência, capital, da própria natureza da visão cinematográfica: visto que esta inclui o tempo, visto que se desenvolve, é essencialmente (ontologicamente, diria Bazin) da ordem da narrativa: narra – e não há qualquer motivo para interromper essa narração no fim da tomada de vistas (do plano). O aparecimento, nos filmes, de um ponto de vista narrativo cujas etapas se chamam Porter e, principalmente, Griffith: são nomes míticos, aureolados de lendas, não posso, aqui, referir-me a eles em pormenor, nem adoptar uma perspectiva crítica. O que me interessa sublinhar neste ponto é, a partir desse aparecimento, e durante muito tempo, a perda da coerência do espaço representado. Com efeito, se a montagem rapidamente permitiu uma referenciação cronológica e causal eficaz e inequívoca, o mesmo não se pode dizer acerca do espaço representado na sucessão de planos. Conservemos os exemplos célebres já citados: de O Assalto ao Expresso (em que só as grandes articulações da narrativa se percebem facilmente) a um Griffith qualquer de 1911 ou 1912 (Unseen Enemy, ou The Battle, por exemplo), o progresso é decisivo: a narrativa griffitheana não precisa de nenhuma intervenção, de nenhum comentário: é completamente clara. No entando, quanto aos mesmos filmes, pode dizer-se que a fragmentação do espaço não foi realmente reabsorvida. Apesar de se ter estabelecido uma convenção (bastante rudimentar) que dizia respeito à passagem para fora de campo ultrapassando a borda lateral do enquadramento, cada espaço continua a valer por si próprio, numa semiautonomia, sem que nunca a coerência do espaço diegético seja garantida, quer através de fortes convenções como virão a ser os códigos do «raccord» clássico, quer por um acaso mais ou menos directamente adequado (por um plano de conjunto, por exemplo) ao referente espacial global. (...) 162 PANORAMA ’08 | câmara III Mas, ao mesmo tempo que a clareza e a mestria narrativas, a mobilização da tomada de vistas faz surgir, de certo modo pela negativa, a natureza complexa do ponto de vista representativo no cinema. Porque a construção do espaço fílmico implica o tempo, porque ela implica também relações topológicas (de inclusão, de conexidade, por exemplo) e relações de ordem, o ponto de vista cinematográfico deve à partida ser relacionado, não com a vista imóvel, mas com a sequência de vistas. Diferente do modelo pictórico, o ponto de vista define-se, no cinema, como uma série ordenada e medida. E, no cinema «primitivo», essa ordem e essa medida estão ainda longe de se encontrar. A preocupação com uma compreensão coerente do espaço na sequência surgiria, por exemplo, com certos momentos descritivos (sabe-se que por causa da natureza temporal do significante cinematográfico a noção de descrição, que implica uma supensão do tempo da história, não é evidente no filme). (...) Mais do que numa indústria hollywoodiana que, em grande parte, depressa reduziu a alguns estereótipos estas aventuras da luz, é no cinema europeu dos anos vinte que se devem procurar as tentativas mais evidentes (não direi mais conseguidas) de um discurso da imagem. Tentativas dispersas, ao sabor das escolas e das épocas, que não posso aqui inventariar. Três exemplos: O CALIGARISMO Ou aquilo a que ainda se chama, frequentemente, expressionismo (retomando a etiqueta vaga e cómoda que foi proposta a partir dos anos vinte). Se a compararmos com o desenvolvimento de uma pintura, e mais tarde de uma literatura expressionista, a designação é pouco pertinente: nem por isso deixa de ter interesse, se a quisermos relacionar com a sua etimologia. Implica, nesse caso, uma ideia de expressão mais ou menos directa, e geralmente sob um modo pictural, de significações exactas e específicas de um filme. A primeira marca desta escola, como se sabe, é o seu picturialismo, e correlativamente, o carácter extremamente particular da referência ao mundo representado. (...) Esta picturalidade contamina, pelo menos tendencialmente, toda a representação: da maquilhagem das personagens (os cabelos pintados de Werner Krauss, as pinturas sobre o corpo das personagens de Genuine (Wine, 1920]) aos seus gestos [o corpo, desmantelado, de Conrad Veidt em Caligari; o corpo, torturado, de Hans von Twardowski em Caligari e Genuine], de um enquadramento «sobre-enquadrado» (como em O Último dos Homens) (Murnau, 1924) ou A Escada de Serviço [Leni, 1921] a uma montagem «psicótica», por fragmentos (o assassínio da usuária em Raskolnikoff [Wiene, 1923]). Assim se percebe o paradoxo incessantemente renovado a propósito do cinema alemão mudo, que ao mesmo tempo que pretende que todos esses filmes sejam catalogados como «expressionistas» (ver o exemplo sempre citado de O Último dos Homens) passa o tempo a atribuir a este ou àquele o troféu de «único verdadeiramente expressionista» (Ver Lotte Eisner sobre Von Morgens bis Mitternacht, [G. Kaiser, 1917]). Seja como for, o que aqui é importante é que todo este trabalho plástico visa, quase unicamente, a tradução sensível, sensorial, da ideia. Os cenários e os fatos «vegetais» de Genuine materializam a animalidade da personagem (uma espécie de tradução da célebre frase de Baudelaire sobre a mulher: «natural, ou seja, abominável»). A distorção do cenário, já muito anguloso ao natural, da escada da usuária, PANORAMA ’08 | câmara III 163 dá a ver o horror do pesadelo de Raskolnikoff. E seria possível citar mais mil exemplos, todos para demonstrar esta inscrição, na própria figuração, de um significado global que qualifica o representado. O vício do sistema é bem conhecido – e desde há muito anunciado: este significado é ambíguo (...). As únicas ocorrências em que esta ambiguidade se desvanece são aquelas em que a ideia manifestada é evidente, fraca. A sombra do sonâmbulo, acima da cama de Alan que ele prepara para estrangular, não significa nada, apesar da sua violência plástica (e da sua beleza), a não ser um horror muito genérico. Talvez seja mais grave que esta ambiguidade e esta fraqueza se prestem, tanto uma como a outra, a uma reabsorção, provavelmente fatal, sob o grande significado da Loucura, ou mais exactamente da irrealidade malsã oposta a uma realidade supostamente sã. Sabe-se aliás que esta reabsorção, vivamente criticada logo que O Gabinete do Dr. Caligari estreou, foi combatida pelos próprios cineastas, e acabou por ser imposta pelos produtores em nome de uma preocupação com o verosímil que, aqui, me interessa sobretudo enquanto se traduz através de uma sobreposição do ponto de vista narrativo em relação ao predicativo, instituindo um saber que no final o filme atribui aos asilados e ao bom médico. Único resto da operação: a transformação que afecta o ponto de vista representativo. O IMPRESSIONISMO A etiqueta tem ainda menos consistência, se é possível. Provém, sem dúvida, de analogias muito superficiais, e só se aplica a muito poucos filmes. Indubitavelmente, aos de Epstein em primeiro lugar, que sabia dizer: «...O tema do filme Mauprat (1926) é a recordação da minha primeira compreensão entusiasta e muito superficial do romantismo. A Queda da Casa Usbar (1927) é a minha impressão geral de Poe.» Técnicas do impressionismo: a sobreimpressão, o retardador, o grande plano, a montagem fragmentária. (...) Já não é, como no expressionismo, a fabricação ex nihilo de um pseudo-espaço que visa uma espécie de ideoplastia, mas sim a manutenção, às vezes contraditória, da dupla exigência de fotogenia (a luz, a imagem, devem engendrar, libertar uma emoção) e de pensamento. Ou seja, na linguagem de Epstein: «Os belos filmes são feitos de fotografias e céu. Chamo céu de uma imagem ao seu alcance moral, que é a razão de ela ter sido desejada. Deve limitar-se a acção do signo a este alcance e interrompê-la logo que ele distrai o pensamento e faz derivar a emoção sobre si própria. O prazer plástico é um meio, nunca é um objectivo. As imagens que evocaram uma série de sentimentos devem limitar-se a aconselhar a sua evolução semiespontânea, como flechas que conduzem o pensamento ao céu.» A CINE-LÍNGUA Paradoxalmente, a escola de cineastas russos que desenvolveu a ideia de que poderia haver uma língua do filme – da qual se esperaria logicamente que o sistema teórico acentuasse o poder escritural do cineasta – dar-nos-á aqui um exemplo mais ambíguo. Observemos o livro publicado em 1929 por Kulechov, e que reflecte de maneira sistemática um decénio de experimentação. Além de um discurso da prática cinematográfica, hoje em dia bastante obsoleto 164 PANORAMA ’08 | câmara III e largamente determinado pela vontade táctica de fazer admitir tais inovações formais (grande plano, montagem, etc.) – aí se encontra uma concepção do cinema de que o essencial se pode resumir em algumas deduções: a) visto que o espectador de cinema tem sobre o acontecimento representado um ponto de vista obrigatório (no sentido do nosso PDV1), é aquilo que está representado no «écran», e apenas isso, que significa; b) um plano é, assim, assimilável a um signo (de tipo ideográfico); c) a leitura de qualquer filme, mesmo que seja um documentário, supõe portanto uma organização 1º interna ao plano, 2º entre planos; d) donde, a promoção de um cinema de montagem curta, que pretende preservar para cada plano o seu valor de signo simples; donde, a insistência no cálculo de um sistema de movimentos internos ao enquadramento, segundo direcções privilegiadas (paralelas ao enquadramento, diagonais), e por conseguinte de uma representação dos actores de tipo analítico, segundo os princípios da designação de tipos. Curiosamente, este autor de quem a posteridade reteve, principalmente, os contributos em favor da cine-língua e do cine-ideograma, foi de facto o inspirador e o instigador daquilo que, no experimentalismo maciço dos anos vinte europeus, mais se aproxima da lição do cinema americano: filmes nos quais o trabalho do narrador consiste essencialmente em mostrar – e menos em formar um juízo sobre aquilo que mostra; são filmes nos quais o essencial da narrativa se desloca no corpo do actor, mecanizado (biomecanizado) para uma maior segurança narrativa. É isto que se encontra nos filmes actualmente conservados de Kulechov e o seu atelier, As Aventuras Extraordinárias do Sr. West na Terra dos Bolcheviques (1924), O Raio da Morte (1925), e até Dura lex (1926): filmes em que, para simplificar o trabalho de leitura, se evacua tudo o que «enche» inultimente a narrativa. É certo que, em alguns dos seus contemporâneos, se dá mais atenção às possibilidades predicativas do cinema. Em Eisenstein, claro, de quem em breve nos ocuparemos. Até no seu discípulo Pudovkine, cujos filmes se caracterizam também pela linearidade e limpidez da narrativa, mas que se permite, de vez em quando, a utilização de grandes metáforas (ver o final de Tempestade sobre a Ásia (1929) e de A Mãe (1926): um Griffith que recuasse menos face à exploração do valor «simbólico» do seu material). Quanto aos teóricos «formalistas», também legitimam a figura retórica; «no cinema, o mundo visível é configurado não enquanto tal, mas na sua correlação semântica», afirma Tynianov, para quem a imagem e os encadeamentos de imagens-fragmentos devem ser calculados em função do seu valor narrativo, e, potencialmente, metafórico. A concepção da cine-língua é portanto, sem dúvida, menos simplista do que o conceito esboçado por Kulechov; inclui a possibilidade de uma intervenção da instância narrativa directamente sobre o material representado, de um modo análogo àquele que era praticado pelos cineastas alemães ou franceses. A metáfora, a figura retórica em geral, passa a ter lugar reservado na poética do cinema, como um dos níveis possíveis de significação da imagem-signo. No entanto, se recensearmos as actualizações deste princípio nos filmes de Pudovkine e dos Feks veremos que, apesar da inegável beleza de algumas delas, as metáforas se restringem, um pouco timidamente, ao jogo com o ângulo de filmagem, à montagem encurtada, a comparações intradiegéticas (aquilo a que Mitry chama «símbolos implicados») e que, no conjunto, surgem como suplementos pouco decorativos de uma ideia que a narrativa está incumbida de veicular, principalmente. PANORAMA ’08 | câmara III 165 Os meus três exemplos são tudo, menos inocentes: passam através das manifestações mais importantes do espírito de experimentação que geralmente marca o cinema mudo durante o seu apogeu na Europa. Visavam, portanto, destacar a presença, nas amostras mais conscientes desta corrente experimentalista, de um trabalho de significação directa da imagem segundo regimes bastante diversos, mas que acabam todos por marcar na própria representação uma qualificação do representado. Além da sua variedade, estes exemplos têm dois traços comuns: a imposição de um ponto de vista predicativo, que a imagem está encarregada de traduzir, provoca um tratamento do espaço representado que, sem prejudicar fatalmente a constituição de um «bom» espaço, o marca com um selo indelével: o da insanidade, da Inheimlichkeit, ou o da literariedade. Por outro lado, a espécie de colusão que operam, entre um ponto de vista (representativo) sobre o acontecimento e o ponto de vista (predicativo) que aí se inscreve, só se realiza lance a lance (daí a imprecisão dos rótulos e das escolas), sem nunca ser sustentado por uma teorização geral destas relações entre o espaço, a representação, e a instituição de isotopias conotativas. É aqui que encontramos Eisenstein. Não sejamos fetichistas: Eisenstein não é realmente um génio tão solitário como às vezes se diz. A sua relfexão radica em todo o terreno teórico e prático, que aliás acabamos de evocar, e de que é largamente tributária. Se me parece natural considerar o seu trabalho neste ponto exacto da minha exposição, é unicamente porque foi ele quem nos deu a formalização mais acabada desta problemática da figura e do sentido. Primeiro, já no período final dos anos vinte, com a relfexão sobre os princípios de montagem que ele empreende paralelamente à realização de Outubro (1927) e de A Linha Geral (1929). Ponto limite desta reflexão: a noção de montagem «intelectual» que visa promover um cinema-ensaio em que a ficção fosse apenas um suporte, pretexto para encadear representações que valem principalmente pela sua carga associativa – e o trabalho do cineasta consiste, neste caso, em estabelecer a correlação simultânea dos elementos ficcionais e, entre as «associações» possíveis, as que o discurso, a tese, irá reter mais utilmente. Segundo a formulação um pouco extrema que Eisenstein não teme produzir (para si próprio, é certo, em apontamentos de trabalho), trata-se de «pensar directamente em imagens»; a fórmula é excessiva e, aliás, não completamente lúcida, e uma das críticas mais irrefutáveis que se pode fazer a esta teoria diz certamente respeito à sobrevalorização das equivalências discursivas da imagem. Na verdade, o cinema «intelectual» não passa de uma defesa, radical mas ainda assim puramente teórica, das infinitas possibilidades produtivas da montagem; além disso, segundo o próprio Eisenstein, a montagem intelectual não é diferente, por natureza, da montagem «harmónica», ou seja, de um jogo de agenciamentos e de relações capaz de estabelecer, por exemplo, a seguinte cadeia: Velho triste + Velha que se baixa + tenda informe + dedos que torcem uma boina + lágrimas nos olhos para dizer o luto, mobilizando assim tanto elementos diegéticos como parâmetros da representação. Nos termos que estabelecemos deparamos, evidentemente, com uma concepção do cinema que aumenta desmesuradamente o ponto de vista predicativo, ao ponto de o transformar, tendencialmente, no único motor, e único princípio de coesão de um discurso fílmico em que o próprio discursivo é hipertrofiado. São estes «excessos» que Eisenstein insiste em corrigir, uns dez anos mais tarde, na sua série de textos sobre a montagem, através do conceito central de «imaginicidade». (...) 166 PANORAMA ’08 | câmara III Remeto o leitor ao texto eisensteiniano, para que aí aprecie a forma como estes princípios se encarnam numa reflexão sobre o enquadramento, sobre o som, ou até sobre o trabalho do actor, e limito-me aqui a sublinhar uma questão que esta aproximação da forma e do sentido fílmicos levanta de um modo privilegiado: a questão da verdade. A imaginicidade, constituição de uma imagem abstracta sobreposta à representação, e que a interpreta, só tem efectivamente sentido se esta autoleitura do filme for 1º única, 2º legítima. Ora estas duas exigências, para Eisenstein, constituem uma exigência única; é por a imagem global ser verídica que ela é, além disso, inequívoca. É possível dizê-lo (de uma maneira mais elegante) como Barthes: «A arte de Eisenstein não é polisémica (...); o texto eisensteiniano fulmina a ambiguidade. (...) O decoratismo de Eisenstein tem uma função económica: profere a verdade.» Não é sem dúvida indiferente que esta «verdade» com que Eisenstein se preocupa encontre um critério último numa pragmática da luta de classes – portanto no exterior do próprio filme enquanto discurso. Recordamo-nos das violentas críticas proferidas pelo próprio Eisenstein contra o final de A Greve (1924) por causa da sua ineficácia concreta, e de outros casos do mesmo género, que deveriam bastar para lembrar que não é realmente a verdade dos lógicos que aqui se visa. No entanto, se o sistema eisensteiniano me parece, ainda hoje, inultrapassado em alguns dos seus pontos, é precisamente neste, atendendo a que determina que a forma fílmica (portanto, entre outras coisas, qualquer tomada de vistas, qualquer instituição de um ponto de vista representativo) é determinada pelo sentido que se atribui ao representado, para obter determinado efeito em determinado contexto. O que está em primeiro lugar nesta concepção é o sentido, que informa literalmente todo o trabalho de produção – sob a garantia de bom funcionamento fornecida por um critério de verdade. Ora esta teoria, que não teria grande peso se desse conta apenas dos filmes de Eisenstein, esclarece sem contestação as relações entre a forma e o sentido no cinema «adversário» deste. Que se passa se não se dispõe de um critério de verdade deste tipo, ou, o que vem dar no mesmo, se se diz que este critério não tem que ser explicitado porque é o conteúdo das próprias coisas (sob a garantia última de um Deus leibniziano)? Sabemos com o que se parece a teoria do cinema correspondente: pretende que o sentido seja múltiplo, abundante, análogo, na sua ambiguidade, (Bazin) à própria vida – e daí que o trabalho formal consista, antes de mais nada, em «investir o mundo», em fazer do cinema uma «reprodução da realidade, ininterrupta e fluida como a realidade» (Pasolini). Dizendo-o nos termos deste artigo, o que Eisenstein demonstra, directa e indirectamente, é a indivisibilidade da relação entre a representação, o ponto de vista 1, e o ponto de vista 4, a significação imposta. Eisenstein esforçava-se por traduzir em metáforas plásticas os seus «parti pris»; defensor de um «parti pris das coisas», Bazin pedirá que não se entrave o discurso do «mundo» disposto a falar mudamente; além das significações que a realização implica, a exigência baziniana de uma mais-percepção, de um alargamento, de um aprofundamento, de um alongamento, em suma, de um incessante a-mais quantitativo, tem valor genérico: visa apresentar na imagem, em toda a imagem, essa ideia de ambiguidade que implica um juízo essencial sobre a realidade. Paradoxo, se quisermos, mas não só. A recusa mais obstinada de escrever cede sempre – Daney demonstrou-o perfeitamente com o exemplo de Hawks – à necessidade de escrever essa recusa de uma maneira ou outra, e o extremismo mac-mahoniano que, em muitos pontos, diz a verdade do bazinismo, inclui em si próprio essa necessidade na sua definição da encenação langiana. PANORAMA ’08 | câmara III 167 Assim, e sem entrar mais a partir daqui na descrição das atitudes diversas historicamente adoptadas contra esta ideia de um discurso da imagem, o que na fase actual da nossa reflexão se inscreve é a colusão institucional em grande parte da história dos filmes (talvez em todos os filmes) entre duas funções, ou melhor, entre duas naturezas da imagem. A primeira é dar a ver, segundo diversas modalidades mais ou menos legitimadas pelo estabelecimento de convenções próprias. A imagem mostra. Faz-se muitas vezes a observação que, perante o filme (que nisso se parece com o sonho), não se escolhe, ou pelo menos não completamente, o que lá se vê. Já retomarei este ponto, para voltar a falar brevemente da espinhosa questão do espectador do filme – limitando-me, de momento, a salientar esta definição primeira e essencial da noção da imagem fílmica: dá a ver algo que não está lá, mas que se supõe que exista em qualquer parte, e que representa. Estrutura-se primeiro, portanto, am anterioridade lógica, como mimo de um ponto de vista, como ponto de vista representativo definido por uma relação entre presença e ausência (é o sentido primeiro da questão do enquadramento: que mostrar? e, sendo assim, que produzir fora de campo?). Não é demais repeti-lo, nesta função de «monstração» a imagem é soberana, mesmo que a mestria nela não se assinale tão materialmente como na pintura (em que a pincelada é sempre a metonímia mais directa do pintor). Simultaneamente, a segunda função ou natureza: faz sentido. Mobiliza toda a espessura da matéria icónica, e também todos os traços da representação, para construir significado. Este sentido construído, conotado, talvez magro (a ambiguidade baziniana, o «não-toco-em-nada» rosselliniano, são disto, talvez exemplos extremos): pode, pelo contrário, invadir o campo como uma erva daninha, como as flores de escuridão e de retórica do caligarismo: ténue ou opaco, lábil ou consistente, está sempre lá. A imagem do filme, pelo menos tal como até agora produzida, é sempre predicativa. Naturalmente, esta conclusão entre o dar a ver e o dar a compreender (ia dizer «dar a ouvir»: lapso de protesto, sem dúvida, contra o silêncio em que me mantenho a propósito da representação sonora), por mais universal que me surja nos filmes, não existe, sem dúvida, fora do narrativo. Se podemos ler na imagem uma qualificação do representado, é quase sempre por intermédio da coincidência entre ponto de vista representativo e ponto de vista narrativo, por um lado, e por outro, correlativamente, por intermédio da instituição de esquemas narrativos e de funções actanciais (de personagens) que mobilizam mais directamente o registo do simbólico. O narrativo, e mais especialmente o ponto de vista narrativo, seria assim o que, inscrevendo-se ao mesmo tempo em termos icónicos (especialmente sob os tipos de enquadramento) e em termos de significações e de juízos, operaria a mediação necessária a qualquer valor predicativo da imagem. No entanto, a narração fílmica, segundo me parece, tem pouco a ver, em si, com a imagem. É muito mais o retomar de mecanismos gerais e abstractos, aliás abundantemente estudados de há uns decénios para cá, e diversamente reincarnados no cinema. A dificuldade está, evidentemente, em que é impossível atribuir algum lugar, no discurso fílmico, aos processos narrativos: deslizam através das figuras de montagem, mas também se imobilizam em enquadramentos, insinuam-se «dentro» do próprio representado. É por isso que os melhores trabalhos sobre a narrativa fílmica não podem – leia-se o livro de Vanoye – senão visar a narrativa dentro do filme, e nunca, realmente, o filme (todo o filme) como narrativa. (...) (...) Para terminar, gostaria apenas de situar essas instâncias, esses dados fílmicos, em relação ao seu destinatário: o espectador. Aquilo que acabamos de sublinhar, depois de muitos outros o terem feito, 168 PANORAMA ’08 | câmara III e que demonstra toda a travessia da história dos filmes, é que, como qualquer obra de arte, o filme é doação. Aquilo que o filme dá ao seu espectador, é certo que de formas muito diferentes, é sempre: a) a vista sobre um espaço imaginário coerente, que é construído através de um sistema de vistas parciais (não contraditórias, salvo excepção); este primeiro estado da relação do filme com o seu espectador foi, desde há muito tempo, reconhecido e delimitado enquanto tal. Para não irmos mais longe, Souriau e a escola filmológica, depois Mitry, em especial destacaram, entre outras, essa «grande característica do universo fílmico» que é a constituição de um espaço. É claro que estes cineastas, ou estas épocas, insistiam mais na aparição «filmofânica» (Souriau) dos objectos – é o sentido da noção de «fotogenia» em Delluc ou Epstein, ou do grande plano eisensteiniano; mas nem o telefone de La glace à trois places (Epstein, 1927) nem o «lorgnon» do potemkin (Eisenstein, 1925) (ou a chaleira de Muriel [Resnais, 1963]) escapam totalmente à apreensão espacial. Em termos de psicologia, ou de metapsicologia, do espectador, o filme é antes de mais nada acto de «monstração», a instituição do enquadramento, as suas modificações, a sua mobilização substituem-se ao olhar do sujeito-espectador; muitas vezes se descreveu esta função de substituição, nos seus alcances muito diversos, e eu só gostaria de adiantar um esclarecimento sobre a relação entre vista fílmica e o exercício da pulsão escópica – relação que, tendo sido colocada no centro das teorizações recentes do dispositivo cinematográfico, não me parece claramente ligada ao esquema preciso com que Lacan, na sua releitura de Freud, descreve a pulsão. Não tenho a certeza, em especial, de que a ideia de uma «identificação» do sujeito-espectador com a câmara se extraia, realmente, da perspectiva empírica (fenomenologia, se quisermos) em nome da qual um Münsterberg podia, desde 1916, assimilar a panorâmica ao movimento do olho dentro da sua órbita. Não contesto a ideia de que se estabeleça uma relação de identificação, no dispositivo cinematográfico, entre um espectador «omnividente» (Metz) e o feixe do projector, figurante metonímico do olhar «projectado» pela câmara sobre o mundo. Mas no cinema, tal como nas outras artes da visão, (quer se organizem ou não em espectáculos), o espectador é também, e talvez o seja antes de mais nada, aquele a quem «dão em cheio nos olhos». Recordamo-nos que, na sua análise da pulsão escópica, Lacan marca (de modo lacunar, como é seu hábito) a verdadeira suspensão do olhar que opera o quadro (clássico). «O pintor, àquele que deve estar em frente do seu quadro, dá algo que, pelo menos em parte, em pintura, se poderia resumir assim – «Queres olhar? Então vê isto»: Dá qualquer coisa que serve de alimento ao olho, mas convida aquele a quem o quadro é apresentado a depor ali o seu olhar, como se depõem armas. «É certo que o cinema não é a pintura, mesmo a pintura de paisagens. É certo ainda que aquilo que nos dispositivo cinematográfico evoca o espelho primordial não foi erradamente valorizado. Embora o filme implique, apesar de tudo, uma contemplação, complicada e controvertida pela mecânica narrativa, mas que supõe sempre, antes de mais nada, a existência de um espaço fílmico revelado ao espectador – sujeito «omnividente», mas também, inseperavelmente, sujeito apenas vidente, cujo olhar é canalizado, como que bloqueado, pela representação fílmica. Oudart assinalou com pertinência, parece-me, esta «dialéctica» entre uma relação dual, identificatória, e a apreensão significante, mostrando sucessivamente como o sujeito espectador «com júbilo e vertigem apreende o espaço irreal» (é o tempo do omnividente, da relação dual), e depois como «esse espaço real que era, há um instante, o campo da sua fruição se transformou na distância que separa a câmara das personagens, que já não estão ali, que já não dispõem do «estar ali» inocente de há pouco, mas sim do «estar ali para» (para significar o campo ausente, e a própria figura daquilo a que Oudart chama o Ausente). PANORAMA ’08 | câmara III 169 Sem dúvida que Oudart força demasiado as coisas ao assimilar, mesmo que seja analogicamente, esse torniquete ao modelo exteriormente elaborado para designar, de um modo hipotético, a relação do sujeito com o seu próprio discurso. Por isso o que me convence nas suas instituições não é a valorização mecânica de uma cinematografia «que submete a sua sintaxe» à relação de «eclipse alternativa» do sujeito para com o seu discurso, mas é, muito mais, a designação da relação tópica entre o campo e o outro-campo (ou «campo ausente») como charneira móvel entre a contemplação e o olhar, entre a «satisfação» da pulsão escópica e a sua suspensão através da vista. b) Simultaneamente, e de forma particularmente contraditória quanto aos mecanismos psicológicos que estão em jogo, o espectador é conduzido por uma narrativa. O lugar desse espectador foi, e muito bem, descrito (por Nick Browne) sob a designação de locus: esse lugar representa uma função «habilitante», capaz de estabelecer uma ligação entre ficção e enunciação, ou mais precisamente, de assegurar entre estas duas instâncias uma passagem um «torniquete», que nem por isso deixa de evocar exactamente o modelo estabelecido por Oudart para a vista fílmica. Seria simplificador deduzir, a partir daqui, que o filme institui duas relações separadas com o seu espectador, uma enquanto dá a ver um espaço imaginário, outra enquanto faz seguir uma narrativa; estas duas relações são, sem dúvida, uma apenas, e a aproximação metapsicológica que iremos aflorar não poderá distingui-las melhor do que a aproximação fenomenológica anteriormente esboçada. No entanto, esta dupla relação surge-me como fortemente assimétrica, pelo menos no facto de ser no desenvolvimento da narrativa que se produzem, no essencial, as identificações em sentido estrito – as identificações «secundárias» de que fala Metz (retomando o sentido freudiano) e que nunca são, sem dúvida, mais poderosas do que quando as situações representadas são simples, abstractas, arquetípicas. Estas «identificações secundárias» não são facilmente estudáveis (e talvez sejam geralmente sobrevalorizadas); gostaria, no entanto, de insistir na hipótese que acabo implicitamente de colocar: estas identificações visariam essencialmente as situações narrativas arquetípicas, e as situações representativas fortemente codificadas a presença concreta (sob a forma, por exemplo, da sobrecarga figurativa) funcionaria, relativamente a elas, como obstáculo, inicitando o espectador a olhar, e já não a abolir-se numa relação dual que é sempre da ordem da incorporação. c) Finalmente, em relação a este regime narrativo-representativo tradicional, e ao jogo complexo de sedução/identificação que ele propõe ao espectador, a imposição de um sentido à representação fílmica, como inscrição directa de significados autonomizáveis no analógico, já só pode surgir como uma perversão. Aqui encontramos, pelo menos é o que eu penso, Lacan e a enigmática observação com que ele conclui a sua análise da função do quadro, afirmando que «uma face inteira da pintura», a pintura expressionista, «dá algo que se assemelha a uma certa satisfação» da pulsão visual, a uma certa «satisfação ao que o olhar pede», no sentido, portanto, da perversão. Não é ocasião para encetar uma exegese desta frase, que não me é inteiramente clara (principalmente quanto à questão do «traço pertinente» que distinguiria a pintura «expressionista» de que fala). Apesar das precauções com que certamente convém rodear qualquer utilização do sistema conceptual lacuniano (que não é de forma alguma articulado em termos de uma estética), talvez aqui se esboce uma descrição possível da relação singular (relação de consumo, de uso, e tendencialmente de uma forma de fetichismo) que sustenta, como que paralelamente às duas primeiras, o filme com o seu espectador. [retirado de Estéticas do Cinema com textos selecionado por Eduardo Geada, edição da Dom Quixote] 170 PANORAMA ’08 | câmara III debate PERCURSOS NO DOCUMENTÁRIO PORTUGUÊS: PAULO ROCHA PROGRAMAÇÃO: As Sereias, 2001, 35mm [31’] A Ilha de Moraes, 1984, 35mm, [102’] Pousada das Chagas, 1971, 35mm, [17’] Máscara de Aço Contra Abismo Azul, 1987, [61’] Mudar de Vida, 1966, 35mm [98’] DEBATE COM: Paulo Rocha MODERADO POR: António Loja Neves 24.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 171 172 PANORAMA ’08 | abc É um enorme prazer, e uma honra muito grande, ter o Paulo Rocha connosco. Quero dizer-vos que o Paulo Rocha não está presente nesta nossa iniciativa para uma homenagem, mas para muito mais do que isso. Acho que o Paulo Rocha é um criador e um cineasta para quem a melhor homenagem a fazer é olhar, observar com alguma atenção e perspicácia, o seu trabalho. Daí que seja nossa vontade discutir convosco este trabalho. Ele tem o hábito de dizer que trabalha lentamente. Sempre que o oiço dizer isto não me atrevo a responder, mas penso para comigo que não é bem disso que se trata. Não se trata do preciosismo, mas da precisiosidade do gesto da criação. O Paulo foi-nos habituando a uma visão do cinema, e das obras pelas quais penetra nomeadamente naquilo que podemos considerar os seus documentários, assente na vontade de transgredir. E não uma transgressão no sentido fútil do termo, mas no sentido de dar passos em frente para a descoberta de algo mais profundo acerca dos objectos pelos quais é chamado a intervir, e a criar em seu torno. Agradeço bastante ao Paulo não só a presença neste nosso debate, como também a cedência dos filmes, na qual também se inclui um agradecimento à Cinemateca. Agradeço também ao João Pedro Bénard, produtor de algumas obras do Paulo Rocha, pela colaboração inestimável no visionamento destas obras, e sobretudo a sua disponibilidade para trocar opiniões connosco. Estou aqui como moderador, e o meu intuito é ir passando a palavra entre o Paulo e vocês, num debate que espero que seja vivo. Sou capaz de sugerir darmos a palavra ao Paulo para responder a uma primeira, muito liminar pergunta. O Paulo Rocha, que tem feito documentários, diz frequentemente – e isto não é nenhuma crítica, é uma constatação, e até efusiva – que não tem uma particular paixão ou qualquer interesse específico pelo documentário. E é por isso que frequentemente pega nas coisas e, digamos, des-re-constrói sem passar por um certo número de elementos com que se debate actualmente o documentário em Portugal. Falo por exemplo de uma certa burocracia do olhar, ou uma certa incapacidade para ousar criar dentro do gesto do documentário. Sem ter a ousadia – se posso expressar-me assim e sem magoar ninguém, porque estou incluido nesse grupo, ainda por cima – da criação pessoal, ou dum olhar pessoal sobre o elemento em que se está a pegar. E era exactamente aí que eu gostaria de pegar. Como é que uma pessoa, um criador que se expressa através da imagem, como o Paulo, se confronta com a perspectiva de ir fazer um documentário (muitas vezes a convite, não é?)? E como é que olhando para o objecto que lhe é proposto – o Amadeo de Sousa Cardoso, o Museu de Óbidos, falando de dois filmes que acabámos de ver – como é que o filme acontece? Como é que um cineasta de criação ficcional pega nesses materiais e decide fazer um documentário? Como é que encara esse desafio? Nomeadamente, como é que prepara estes filmes – porque um deles, o filme sobre o Amadeo, tem uma longa preparação, coisa que não é usual num documentário, sobretudo para televisão. ANTÓNIO LOJA NEVES . PAULO ROCHA . Esse demora 12 meses. ANTÓNIO LOJA NEVES . Portanto, como é que o Paulo se confronta com a questão do docu- mentário? Como de costume. Em geral, como sabem, para a ficção é preciso dinheiro. Normalmente faz-se ficção e fica-se cheio de dívidas, e depois temos que tentar pagá-las. Mas PAULO ROCHA . PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 173 a ficção tem uma vantagem: dá algum nome. E portanto, há alguma hipótese de depois de fazermos uma ficção, alguém nos propor outro trabalho. E quando nos convidam para esse passo seguinte, começamos a discutir connosco próprios, “será que fiz bem? Será que fiz mal?”. Há sempre um período de grande pressão psicológica ou económica, que nos pode levar a re-pensar. Depois do Ilha dos Amores fiquei, como de costume, cheio de dívidas, e de repente houve a hipótese da televisão do Sul do Japão querer voltar ao mesmo assunto. Percebi, através de cartas de muita gente, que havia erros na Ilha dos Amores. Descobri que tinha dito mentiras, ou asneiras, e tinha passado ao lado de coisas mais interessantes. E por isso, a hipótese de fazer um trabalho ainda com menos bases, sem uma grande produção, e de voltar àquela questão, e poder perguntar às pessoas “então, como é que era? A tal pessoa de quem eu falei no filme era mesmo assim?”... Em geral é um trabalho que nunca acaba. O lado de poder ganhar algum dinheiro para poder pagar algumas dívidas é o mais anedótico. Em geral, passa pela necessidade de re-pensar: “Alto aí, fiz asneira” ou “deixei de dizer coisas importantes”. Eu acho que não há que fazer distinção entre ficção e documentário: é trabalho. Portanto, é repensar as coisas. É ir mais fundo nas perguntas, ou então nas acusações – porque esse trabalho vai também contra o realizador. O realizador pode ter sido cobarde ou insconsciente, e há a possibilidade de apresentar um ponto de vista um bocadinho contrário. O documentário normalmente vem a seguir à ficção, e é a hipótese de recomeçar as coisas, de voltar a filmar. É mais ou menos isso. Eu não estava aqui, só estive no final do filme do Museu de Óbidos [Pousada das Chagas]. E realmente, uma pessoa faz um filme, entrega-o à televisão, e depois é apresentado passados muitos meses ou anos, a umas horas estúpidas, com uma cor estúpida, um som impossível. Há sempre uma queda brutal. Aqui sucedeu a mesma coisa. O que vocês viram agora, no filme de Óbidos, é uma pálida ideia do que foi o filme. O som é horrível, e a cor é desastrosa. Deve ter sido uma cópia vídeo – julgo eu – feita da pior maneira. Só quando houver, um dia mais tarde, gente competente, que não faça as coisas à última da hora... porque o mais habitual é dar-se o filme que nos deu anos e anos de trabalho à televisão, para ela o passar todo verde, todo estragado! Se quiserem continuar neste caminho terão de lutar muito, porque as coisas nunca estão garantidas. Terão que lutar sempre, sempre, sempre. Até ao fim da vossa actividade. ANTÓNIO LOJA NEVES. Pois, eu devo dizer alguma coisa sobre isto. Os filmes vieram-nos de onde podiam estar: de uma produtora, e da Cinemateca. Este filme especificamente não sei se veio de um sítio ou do outro, mas efectivamente é a única cópia que neste momento pode ser encontrada. Com o esforço que fizemos de pesquisa para esta apresentação sabemos agora que existe outra cópia que não está ainda disponibilizada, na RTP. Já passei esta informação também ao Paulo Rocha, porque existem possibilidades de recuperar estes filmes nos próximos tempos. E isto é uma informação importante, uma boa notícia, na medida em que, nomeadamente em relação ao filme do Amadeo, existe neste momento um interesse bastante grande por parte de entidades públicas, por instituições como a Gulbenkian, em centrar o olhar sobre a personalidade e a obra do Amadeo, e seria extremamente importante que dentro dessa recuperação de materiais estivesse um filme como o do Paulo Rocha. 174 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha Mais informações técnicas do mesmo género: este filme foi feito em... julgo que no ano de ’71, muito à pressa. Tive uma semana para o preparar, foi tudo feito em cima do joelho. A única coisa que consegui foi recortar uns textos, meti os bocadinhos no bolso, e depois no museu, conforme o assunto dos quadros, para cada caso metia um certo autor, ou aquele poeta... PAULO ROCHA . ANTÓNIO LOJA NEVES . Estes papelinhos eram citações, extractos de obras de Rimbaud, de... PAULO ROCHA . De Camões, como de costume... Eram poetas, aquilo que eu andava a ler na altura. Esse era já um começo de colagem, e de certo modo havia uma pré-sensação... Depois, eu não tinha nada a ver com mártires, metiam-me medo. Mas em si, a violência da coisa, podia interessar-me. Ainda não sabia muito bem o que era o teatro japonês, o Kabuki, e achei que aquilo poderia ser um bocadinho parecido (isto revelava já algumas influências que depois na minha vida seriam importantes, do teatro japonês). Na altura escrevi inclusive um texto um bocado imprudente em que dizia que aquilo era “neo-Kabuki”. E não é. Eu nunca tinha visto Kabuki, imaginava que Kabuki teria estas coisas de sangue, extremas, mas não seria assim. No fundo aquilo era neo-neo-Cornucópia. Tinha havido um acontecimento que se iria prolongar por 30 ou 40 anos na vida portuguesa, uma ante-estreia na Sociedade de Belas Artes, do núcleo original do Jorge Silva Melo e do Luis Miguel Cintra, de uma peça clássica espanhola. E era deslumbrante. Todos os actores, sobretudo o Jorge e o Luís Miguel, mas também os outros, eram pasmosos. Nunca ninguém tinha visto nada assim. De repente, numa noite, duas pessoas dominantes do futuro do teatro português, iriam calar todas as vozes. É um caso raríssimo, porque eles eram despachadíssimos, sabiam tudo. Só para dar uma ideia do ponto de vista prático: as roupas eram feitas de noite pelo Luis Miguel Cintra, com uma máquina de coser à moda antiga, velhíssima que ele tinha trazido de casa. E o caso mais escandaloso era o Jorge Silva Melo: ninguém sabia pintar mártires, saía sempre mal; uma amiga minha que era pintora, também talentosa, tinha passado horas a pintar mártires e aquilo nunca estava mártir que chegasse. Então o Jorge, a certa altura aborreceu-se, pôs o pincel numa coisinha com tinta vermelha e “fccchhht”, atirou. E de repente os mártires ficaram todos cheios de sangue. Era inacreditável que houvesse gente tão nova que sabia mais do que os professores de letras. Eram atrevidíssimos, sobretudo rapidíssimos e arriscavam, e em geral acertavam. Portanto, eram uma espécie de juventude, de frescura. E de repente os grandes mestres iam durar 40 anos – porque eles tinham 20. ANTÓNIO LOJA NEVES. Quando vai fazer o trabalho da Pousada das Chagas tem muito pouco tempo. Mas tem que pensar no que vai fazer. Já conhecia o décor? Já conhecia os sítios? PAULO ROCHA . Não. Fui lá um dia, tive que combinar com a Câmara, mas eles deram muito pouca ajuda. Tive que inventar uma equipa possível. E sobretudo o que me ajudava era o Acácio [de Almeida], que estava numa fase única da vida dele. Era um tipo novo, sem nenhuma experiência, mas muito promissor, e nunca mais o Acácio seria o mesmo. Ele arriscava, fazia as coisas mais perigosas, podia morrer, podia cair do alto da escada, mas nunca falhava, ficava sempre bonito. O que vocês viram aqui em projecção é uma pálida ideia do que está no filme real. PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 175 Houve um restauro 15 anos depois de eu ter feito o filme, numa altura em que as cores já estavam todas estragadas, e até a música estava esquisita. Quando a Cinemateca restaura aquilo, de repente o filme estava como tinha aparecido na primeira noite. Na altura nem acreditava que o restauro fosse possível. Com o filme do Amadeo passou-se a mesma coisa. A televisão fez uma coisa kafkiana… nem sei que palavra usar para descrever o que se passou. Durante muitos anos a RTP disse que o filme estava perdido, que não o encontrava, que talvez já nem existisse. E eu estava apavorado, porque tinha trabalhado tanto e gostava tanto do filme. E de repente descobriram-no escondido numa cave húmida, e o 16mm não aguenta a mais pequena coisa (é muito perigoso filmar em 16mm). E quando depois eu o vi nem queria acreditar: o filme em que tinha trabalhado tanto tempo estava a desaparecer. E estes foram os primeiros 10 anos de sustos. Até que passados cinco anos desde essa altura, a Cinemateca chegou a um acordo com a televisão para conseguir projectar o filme, e chegaram umas cópias esquisitíssimas, com uma cor estranhíssima, e um som que já mal se percebia. Andei cinco anos a pedir para eles me restaurarem o filme, e eles sempre a dizerem que era muito caro, que não podiam, haviam umas intrigas medonhas. Era um dos meus filmes perdidos, o do Amadeo. Agora, ao que parece, com a mudança do presidente da RTP, vão restaurar o filme. Vamos ver, espero que sim. A concepção desse filho demorou 12 meses. E diz nalguns momentos coisas como o que era impotante era criar um filme que tivesse o máximo de espectáculo, o máximo de décores, o máximo de roupas, de luzes, e que nunca poderia ser nem uma biografia, nem uma análise crítica de pintura, nem haveria uma voz a explicar os quadros, ou as fases... mas as fases estão lá e os quadros também. Embora sejam só dois quadros a dar o título ao filme, todo o percurso do Amadeo está ali. Como é que nesses 12 meses foi trabalhando tudo isto? ANTÓNIO LOJA NEVES . PAULO ROCHA. O que me interessava, o que me pareceu claro através dos pequenos documentos que ia recolhendo, é que a exposição do Amadeo, já tinha sido, na altura, um grande acontecimento: toda a gente achou fortíssimo! E quando de repente vi que tinham havido uns tantos tipos medíocres, ou tortos da cabeça, que tinham escrito coisas horrendas sobre aquilo, que quase tinham feito peças de teatro contra aquilo, que tinham batido no Amadeo… ANTÓNIO LOJA NEVES . Batido fisicamente! PAULO ROCHA. Fisicamente... Eu achei por bem contrapor a evidência do que era o esplendor da pintura do Amadeo, com essas críticas. Mostrava primeiro as críticas, ou seja, o escândalo, a estupidez das pessoas, e depois logo a seguir mostrava as pinturas. Eu achava que aquilo seria muito mais eficaz, em vez de uma voz sábia a falar sobre não sei o quê. Daquela forma via-se logo, porque a pintura do Amadeo era de tal modo triunfante e alegre e mexida... Toda a atmosfera medíocre da época tentava diminuir aquilo, e mostrar as críticas era mostrar a estupidez, a sua mediocridade. Tive muita sorte, porque na altura tinha uma certa credibilidade, e julgo que o Seixas Santos e o Fernando Lopes eram quem estava à frente do segundo canal… O Seixas Santos era responsável pela programação de cinema. E o Fernando estava à frente do segundo canal, exactamente. ANTÓNIO LOJA NEVES . 176 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha E eles disseram “pá, tens aí o Amadeo, faz o que quiseres. Não tens que explicar o que é que vais fazer, mas trabalha e quando estiver pronto entrega”. O Amadeo parecia um dos pintores do grande Ballet Ruce. Ele era de tal modo espectacular, com sangue vermelho, que eu achava, na altura, que ele teria casado, como o Picasso, com uma grande bailarina. Eu queria esse lado de alguém que era caçador, e que era fisicamente... o Amadeo uns dias antes de morrer, em Espinho, foi a uma tourada na Granja, o que é espantoso! Ele era um homem mais ou menos privilegiado, de uma família mais ou menos moderna e rica, de agricultura, do Norte, mas ele trabalhava e estudava. O Amadeo não perdeu um segundo na vida. Era um bocadinho como o Picasso, estava sempre a trabalhar, estava sempre a questionar. E eu queria mostrar alguma coisa que tivesse esse gesto, que tivesse essa alegria, qualquer coisa que eu tinha de inventar. O Amadeo agora tem sido muito bem tratado pela Gulbenkian que tem tido equipas a investigar a fundo as coisas dele. Há um sem fim de livros competentíssimos que estão a sair, e julgo que o Catalogue Raisonné que vai sair agora deve ser monumental. Sobre cada quadro dele vamos aprender dezenas de páginas, quando não sabíamos nada. PAULO ROCHA. Eu tenho mais algumas perguntas mas não gostava que o nosso encontro ficasse apenas nesta troca, nestas minhas perguntas. Gostava que pessoas pudessem e quisessem intervir, por favor. Ainda não é caso disso? Bom, então, eu... ANTÓNIO LOJA NEVES. PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). ANTÓNIO LOJA NEVES . Apetece-me dizer uma coisa, mas não estou com coragem para falar. Oh António. PAULO ROCHA. Pareces do Porto. Eu sou do Porto, e quando estreia um filme meu teoricamente a sala tem gente do Porto, e depois ficam todos calados. Em que raio de cidade é que eu nasci?! Lisboa está a parecer cada vez mais a minha terra. PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Preciso de mais um bocadinho para falar. Para tomar coragem e dizer aquilo que tenho para dizer em relação ao Paulo como pessoa, e em relação à aura do trabalho dele. Preciso dessa coragem. Espero que outras pessoas tenham outras coisas que possam dizer, depois eu falo. ANTÓNIO LOJA NEVES . Ainda em relação a estes dois filmes há uma coisa extremanente importante que é, no bom sentido do termo, uma vez mais, a manipulação da cor. Não se trata de colorir um filme, trata-se de decidir que as cores, quer na Pousada…, quer no Abismo Azul... têm efectivamente alguma conotação com o material documental de que se está a tratar. Como é que... Vocês não viram nada porque o que estava projectado não tinha cor nenhuma, não tem som nenhum, é uma desgraça! As palavras, que são bonitas, não se ouvem. E os agudos destroem tudo. Enfim. Espero que daqui a um ano ou dois isto possa aparecer já num DVD, tratadinho, com a banda som refeita, e a cor recuperada. O Amadeo mudava tanto em duas semanas... Era uma época feliz para a Europa, estava toda em alvoroço, apareciam ideias novas, havia gente que andava milhares de quilómetros e aparecia PAULO ROCHA. PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 177 em Paris, ou na Alemanha ou em Londres com as suas novidades. E o Amadeo estava sempre a topar, e a responder a pedidos. Portanto, eu queria que cada período do filme fosse um gesto novo, de cor, de roupa, de texto e de actores. Era uma coisa que não tinha que ter continuidade, tinha sim que ser fiel ao trabalho dele. ANTÓNIO LOJA NEVES . Continuando na perspectiva de analisar um pouco os seus trabalhos em torno de uma certa visão, digamos, documental, eu passava agora ao filme que vamos ver hoje à noite, o Mudar de Vida. É um filme que muita gente diz estar perto de uma raiz de observação antropológica. Para lá da sua dimensão de objecto de ficção, existe, digamos, a opção de dar uma perspectiva documental que enriquece a própria explicação dos personagens. O Paulo era uma pessoa que conhecia desde criança essa comunidade, mas foi uma questão que apareceu por acaso? Não pode ser, no seu trabalho sei que não é assim... Como é que entrelaça essas duas dimensões? PAULO ROCHA. Quando eu era bebé dormia à sombra daqueles barcos, e comia o peixe que eles pescavam quase todas as semanas, durante os meses do Verão. Eu passava bastantes meses ali, naquela praia. E achava que os homens eram gigantescos. Cheiravam muito a aguardente e estavam comidos pelas pulgas, mas eram uns gigantes. Do ponto de vista teórico, dizia-se que eles eram descendentes de conquistadores vikings (e eu imagino que em parte isto seja verdade). Tinham descido lá do Norte da Europa, e tinham acampado ali. Em muitas praias do Norte há ainda muitos homens com caras assim, com rudeza de corpo, loiros, e com uma maneira rude nos movimentos. Eram o que eu imaginava que seriam os vikings. E tinha uma admiração enorme por eles. Ao contrário dos meus primos que achavam que a gente do povo, e os pescadores, eram gente burra, e tinham vaidade nos seus automóveis ou coisa assim, eu achava que eles eram heróis. Porque não havia protecção para os barcos e as ondas eram perigosíssimas. Só com barcos muito pesados, empurrados com muitas juntas de bois, é que era possível as pessoas não morrerem. Mas bastava o barco virar-se que morria logo alguém. O peso era tal que qualquer... Para mexer um remo eram precisos para aí oito ou nove homens. Eu, como era fraquito, empurrava o remo e ele nem tremia. Era gigantesco. E era tão bonito e ao mesmo tempo tão forte... E de repente fiquei desolado quando se anunciou o fim daquela pesca, porque era caro e não havia maneira de pagar àquela gente – havia pouca sardinha. A ideia de que aquela maravilha um pouco bárbara e miserável podia acabar de repente, fez-me querer fazer uma espécie de monumento àquela grandeza que estava ali a acabar. E ainda consegui filmar mais ou menos a última grande leva. O mar levou as casas e os barcos, agora já não há quase nada. Agora é tudo muito mais decorativo. No entanto, apesar de tudo, o vício, as memórias daquela infância ainda me restam, e ainda estou a tentar, no meu próximo filme, meter bocadinhos daquilo, como se fosse um filme antigo. O meu pai era ali da zona e era de uma pequena família de lavradores. Eles faziam as colheitas e pegavam num carro de bois, levavam broa e colchões, e iam viver 15 dias à beira mar, na altura em que já não havia nada para fazer, quando as colheitas estavam acabadas. Eu achava espantoso que gente que tinha passado a vida a trabalhar no campo – trabalho relativamente duro, e relativamente mal pago – de repente estivesse naquela paz espantosa, a ver o mar, o sol. 178 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha As mulheres vestidas de preto a olhar para as meninas em bikini. Achava tudo aquilo espantoso. O que é que se passaria na cabeça do meu pai? O meu pai acabou por emigrar para o Brasil… e portanto, no fundo essa será a ficção do meu próximo filme. O que seria, em 1900, alguém que sai do mundo do campo e vai ver o mar? Como ainda tenho alguma documentação da vida dos pescadores, talvez ainda consiga inventar um miúdo como o meu pai, novo, a sair do campo e a ir ver o mar. E sonhar coisas. Ainda não sei. Talvez ainda tenha um epílogo para o filme, talvez a Isabel Ruth e a Maria Barroso, talvez velhinhas, apareçam a comentar o passado. E eu de cadeira de rodas ali, atrás delas… Seria talvez um epílogo. Daqui a alguns anos terei 80, mas talvez já possa andar sem cadeira de rodas, talvez já possa andar ao lado delas, ao lado das actrizes. Estas coisas, como são assuntos vivos que a gente não consegue deitar para fora da cabeça, acabam por ser retomadas. Os temas e os lugares: dá vontade de retomar. Ou porque não foi bem filmado, ou porque não fiz bem a homenagem… eu muitas vezes faço filmes para homenagear pessoas, e acho que não fiz bem que chegasse. Portanto, se tiver outra oportunidade, ainda vou tentar. Podemos ter um personagem e de repente encontrar qualquer coisa real que contradiz o que estávamos a tentar elaborar na linha do filme. Portanto, eu não acho que haja qualquer oposição entre a vontade de criar ficções, e a de fazer documentário. As ficções são as nossas fantasias, é a forma que temos para reagir àquilo que a vida nos impõe. Ou seja, a vida está sempre a fechar-nos portas, a ditar barreiras, os amores, os amigos não são bem como nós queríamos, o trabalho, o país não nos trata como gostaríamos: a ficção é uma forma de fugir a isso. Mas para a ficção ter fôlego, precisa de vez em quando de comer coisas do real. Fazer uma boa ficção demora muitos meses, muitos anos, e às vezes estamos a querer ir por um caminho, e tentar resolver a quadratura do círculo de alguma dificuldade interior que tenhamos, mas ao ver uma coisa real, concreta, de repente percebemos que as pessoas são mais interessantes, as casas são mais interessantes, a natureza é diferente. Estávamos a pensar ir numa certa direcção, e afinal é outra coisa. É a essa discussão que o documentário pode servir. Eu acho que é como a mão esquerda e como a mão direita: as duas coisas ajudam-se muito. Se não houver vontade de fugir à espécie de escravidão que a experiência diária carrega, a nossa vida fecha-se. A ficção é a vontade de fugir da cadeia. Mas isso não basta. Para aprender a sair da cadeia é preciso toda a técnica para abrir a porta. O documentário é isso. Acho eu. ANTÓNIO LOJA NEVES . António, essa tua vontade de falar já está no pico? PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Aquilo que quero dizer tem a ver com um tempo passado, que eu mal, bem, pouco, muito, vivi com o Paulo Rocha. Eu conheço o Paulo Rocha da Faculdade de Direito que nem ele nem eu acabámos por fazer, por razões que... tu acabaste? Eu lembro-me é que estava na faculdade de direito e havia um elegante colega meu, angolano, julgo eu, de uma cidade estranha... como é que se chamava? Era Lobito? PAULO ROCHA. PUB ( ANTÓNIO ASCUDEIRO). Lobito. E esse colega meu era tão finesse que a sua a especialidade era ir a Paris num fim de semana, em auto-stop. Depois dizia que... PAULO ROCHA . PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 179 PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Não entremos nessas vidas particulares... PAULO ROCHA . Depois dizia: “este fim de semana vi três filmes espantosos em Paris”, em pleno átrio da faculdade de Direito. É a memória que eu tenho dele. PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Lembro-me perfeitamente do Paulo na Faculdade, tal como ele se lembra de mim, o tal finesse – que eu não era, ao fim e ao cabo – e de quando cheguei à decisão (a que o Paulo já tinha provavelmente chegado antes de mim) de enveredar pelo cinema. E isto tem a ver com uma geração, da qual tenho muita pena que não estejam aqui outras pessoas, para além de mim. Gostava que aqui estivessem as pessoas que viveram com o Paulo e comigo, e que levaram ao aparecimento de obras tão importantes, quer na ficção, quer no documentário, como todos nós sabemos: o Paulo Rocha começou directamente na ficção com o Verdes Anos; o Fernando Lopes, começou com o documentário; o António Pedro [Vasconcelos] começou com o documentário, o Seixas começou com o documentário, o [José] Fonseca [e Costa] começou com o documentário, e eu comecei pela direcção de fotografia porque achei que era uma maneira mais fácil e se calhar mais prática de fazer dinheiro. PUB 2. Finesse! Pronto, está bem, seja: finesse. E lembro-me que um dos planos mais marcantes que fiz na minha vida de director de fotografia foi uma espécie de plano-sequência, com travelling, num documentário que o Paulo fez, chamado Sever do Vouga. E não me lembro bem porque é que fui eu fazer esse plano, acho que o Acácio não pôde, e fui eu. E pela primeira vez na minha vida de profissional de cinema fiquei completamente boquiaberto, espantado, maravilhado com a forma como o Paulo construiu esse plano. Era um terreno difícil, as coisas não eram tão fáceis como são hoje, não havia gruas, steady cams... havia uns charriots que tinham ali de ser construídos em cima de pedras. Foi um plano que marcou toda a minha vida, embora o Paulo não saiba isso, mas eu estou-lhe a dizer agora. Depois, como o Paulo disse aqui, após ter feito o A Ilha dos Amores, como se calhar não foi capaz de desvendar todos os segredos do Venceslau de Moraes, fez um filme chamado A Ilha de Moraes. E nesse filme, também não sei porquê, ou porque eu estava disponível, o porque o Paulo tinha um bocadinho de consideração pelo trabalho de câmara que eu fazia (diziam que eu era muito bom a fazer câmara à mão e não sei quê), convidou-me para fazer toda a parte do filme passada aqui em Lisboa. Foi uma experiência para mim extremamente inesquecível, não só por ter trabalhado com o Paulo, mas também por ter conhecido as pessoas através das quais o Paulo quis saber mais sobre o Venceslau de Moraes. Isso para mim foi muito forte. Há realmente, uma admiração, não tenho outra palavra para o dizer. E uma estima e um respeito, que o Paulo não imagina que eu tenho por ele. E por isso é que eu digo que tenho pena que não estejam aqui algumas das pessoas que eu sei que também sentem esta admiração pelo Paulo. PUB ( ANTÓNIO ESCUDEIRO). Eu estou aqui, não só porque o Paulo ontem à noite me telefonou, por causa de uns problemas que está a ter. Ele quer fazer o próximo filme em HDV, e como eu fiz o último documentário 180 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha em HDV, ele precisava de umas indicações… Mas eu já fazia questão de estar aqui hoje presente acontecesse o que acontecesse, a olhar para o Paulo, como estou aqui a olhar para ele, e ouvi-lo falar. Perco um bocadinho a palavra... Ah, e recordo-me também que ele me convida para eu fazer o documentário do Amadeo de Sousa Cardoso. Mas entretanto eu percebo, sem ele perceber – e eu estou-lhe a dizer hoje pela primeira vez – que eu não tenho estofo para fazer o documentário até ao fim. Dou umas desculpas profissionais, digo que tenho de fazer outras coisas, e passo-o ao Daniel del Negro. Mas o primeiro plano desse filme, que é um plano que o Paulo (segundo ele me disse, e eu não acredito nada que o Paulo diga coisas que não são sentidas) considera ser determinante para o desencadear de tudo o que o Paulo esteve a falar a propósito do filme. O trabalho de preparação começou um bocadinho com a minha ajuda. E com o talento dele, e com a ideia que ele me transmitiu. Sou incapaz de fazer um documentário sem ter uma relação profunda com aquilo que estou a fazer, com as pessoas que estou a filmar, e com os cenários, os décores, as paisagens. Não sou capaz de fazer um documentário sobre... sei lá, os sem-abrigo, ou coisa assim parecida, que são as temáticas que aparecem muito hoje no documentário, nos filmes que são produzidos e subsidiados quer pelas televisões, quer pelo ICAM. No fundo não passam de reportagens pessoais – umas mais, outras menos –, mas que realmente não têm... pá, eu não gosto muito de usar a palavra alma, porque eu não acredito muito na alma. Alma para mim tem outro significado, mas uma coisa que vem de dentro. E acho que, no caso do Paulo, e no caso de meia dúzia de pessoas que tentam fazer documentários ou até ficções, isso tem que estar presente. ANTÓNIO LOJA NEVES . Eu acho que nestas matérias não há espaço para teorias muito fortes. Mas atrevo-me a dizer que há três elementos muito importantes na constituição de qualquer equipa, qualquer colectivo que cria, mas sobretudo em cinema, e sobremaneira em documentário. E que é de facto aquilo que o António Escudeiro e o Paulo Rocha avançam, que é uma profunda e instrínseca relação com o tema. Não porque é exótico, não porque se acha engraçadinho – e sublinho estas duas palavras com alguma ênfase – mas porque há alguma coisa que o tema ou a personagem transmite daquilo que nós somos. Passa sem sombra de dúvidas, pelo respeito pelas pessoas com quem estamos a confrontar-nos e a quem estamos a exigir que se confrontem consigo próprias e com o meio. E ainda uma conivência – quanto maior, melhor – com uma equipa. Esta questão que o António levantou, esta emoção com que ele falou, é de tal forma verdade que eu permito-me, enfim, não é bem desvendar um segredo, mas trazer uma conversa privada para um domínio público, contar uma coisa que aqui há dias o Paulo me contou. Ele dizia-me que no dia deste debate iriam chegar a Lisboa os produtores japoneses do A Ilha dos Amores, e que talvez chegassem a tempo – mas não, só chegam à meia-noite. E eu, numa outra conversa, a querer tirar nabos da púcara, pergunto: “então e eles vêm cá por causa da produção de um novo filme?”, “não, não, entrámos em contacto uns com os outros, e eles acharam que tinham saudades, vieram cá matar saudades”. Vieram do Japão matar saudades... PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 181 PAULO ROCHA . Três dias. ANTÓNIO LOJA NEVES . Vão estar três dias em Lisboa, vêm do Japão, para matar saudades. Porque conheceram, e encetaram uma relação profissional, e construíram uma profunda intimidade colectiva com um tema, e com uma luta, há 30 anos atrás. É de facto destas cinergias que se fazem frequentemente grandes coisas. PUB ( LEONOR AREAL). Eu queria apenas fazer duas pequenas perguntas ao Paulo Rocha. Partindo daquilo que o António Escudeiro disse, falando do filme do Amadeo, pareceu-me perceber que aquelas cenas filmadas na inauguração da exposição foram o ponto de partida para o filme que, parece, demorou um ano a fazer. Queria perguntar se foi mesmo assim: se de facto as cenas que aparecem primeiro no filme foram o ponto de partida da rodagem. Como é que a coisa foi feita? De repente a exposição foi um choque enorme. Ninguém sabia que havia um tão grande pintor em Portugal, e eu também estava espantado, mal o conhecia. Então, por milagre, a RTP decidiu que se tinha de filmar qualquer coisa e de repente tínhamos de fazer um filme sem preparar nada, sem estudar nada. Eu ainda não sabia grande coisa de pintura moderna. A minha ideia acabou por ser pôr o público em silhueta, colocar luz só nos quadros e as pessoas a negro. Isso criava logo uma cortina que chamava a atenção para o que as pessoas estavam a ver ou a comentar. E de repente eu sabia que ia ter uma coisa esquisita que era uma visita do chefe de estado, do Mário Soares. E aparece o Vasco Pulido Valente, que era secretário de estado da cultura, assim com um ar um bocadinho chateado... PAULO ROCHA . PUB 2. Até ele já se esqueceu... PAULO ROCHA . E eu achei que seria bom dramatizar a questão das novidades, e o lado mais violento, barraqueiro, digamos, de certos pormenores. E então resolvi criar em esferovite… havia muitas rodas nas pinturas dele e de repente eu achei que tinha de haver uns tipos com ar de operário que iam invadir o público mais ou menos elegante e diplomático que estava ali, a ver, e que essas pessoas tinham que ser atropeladas pelos materiais heterogéneos que estavam dentro dos quadros. Essa era a minha primeira ideia. E portanto, arranjei umas pessoas vestidas de operário, um bocadinho mal falantes, a dizer piadas de mau gosto para as senhoras que estavam ali. Isso servia logo para tirar o lado chato das visitas oficiais – embora o Mário Soares se portasse, como de costume, bastante bem nestas coisas… Mas era mais forte aparecerem os elementos escandalosos ou revolucionários. Era essa a proposta de jogo para começar a destruir aquela visita oficial. E tive a sorte de ter o Escudeiro, que é um dos cameramen mais esquisitos que há: eu nunca o vi fazer um erro. Ele tem imensos defeitos, mas ao filmar está tudo certo. É um bocadinho irritante, porque é perfeito demais. Foi uma pena que ele me tenha fugido logo para o Algarve… Mas também, depois, o filmar os quadros, era chatíssimo. O Amadeo devia passar meses a re-pintar e era complicadíssimo fazer ressaltar a matéria. Eu chegava a filmar três ou quatro vezes em períodos diferentes, em semanas diferentes o mesmo quadro porque aquilo que se via 182 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha em projecção era uma coisa chata. Quando ia ver o quadro depois percebia que não era nada daquilo. Ainda demorou muitos meses a conseguir dar alguma presença corporal aos quadros. Aos poucos lá consegui inventar umas cenas e umas personagens e criar umas dualidades para o filme ser menos chato. PUB (LEONOR AREAL). E depois queria perguntar como é que encara a mudança de tecnologias de câmara, principalmente, a passagem recente para o digital. Que diferenças é que isso traz, que facilidades e que dificuldades é que isso provoca? E faço esta pergunta principalmente porque me pareceu que aquele documentário sobre o Porto tem um carácter muito diferente dos outros feitos em película. Eu meto muito o nariz em muitas coisas. E uma das coisas que me tem fascinado é, por exemplo, personagens como o Degas, pintor, que fez as experiências mais espantosas ao nível das técnicas de pintar. O Degas fazia um esboço do desenho e depois lançava grandes manchas de tinta. E como não tinha tempo, achava que podia, num processo bárbaro de pintura, colocar outra folha por cima, e ver o que é que tinha resultado. Depois fazia mais uns rabiscozinhos e o resultado é de uma vivacidade, de uma vitalidade... Há muitos anos que não ia a Paris, e recentemente fui ver o D’Orsay cujo último andar tem cerca de 20 grandes pintores. E todos eles, quando começaram, faziam as coisas mais atrevidas. Havia, na altura, esse lado frágil, das pessoas a arriscarem. E se nessa altura existisse isto do digital, essas pessoas iriam agarrar logo. Porque o digital não é perfeitinho, não é controlável, é um bocadinho selvagem. Passa a vida a fazer asneiras. E é nesse momento em que a gente começa a escorregar... E depois de ter filmado decentemente os planos, é possível, mais tarde, injectando algum veneno, transformar aquilo completamente. Ninguém sabe como é que vai ficar. Esse lado não acabado, da pintura estar ainda fresca e sujar a nossa roupa e sujar o público, isso, no museu D’Orsay, ainda é claríssimo. Estão lá uma dezena ou quinzena de grandes pintores, em que sentimos ainda tremer a mão, à procura, e a emoção disso. Toda a gente estava sempre a mudar de técnica, e a tentar outra coisa. Em muitos casos sente-se a mão que procura, e o olhar que está a palpar, e isso é absolutamente perturbante. O cinema europeu não tem arriscado. É tudo muito direitinho, com cameramen, com luzes, com a técnica, com tudo. E o problema é as pessoas quererem ser bem pagas. Ou seja, não podem falhar. Os produtores não podem falhar. Ora, se não podem falhar não podem acertar. Porquê? Porque só se acerta fazendo coisas de que não se tem a certeza. Em geral o mais engraçado é quando o actor está mal disposto, quando o dia não devia ter chuva, e está a chover, e não se pode fazer o plano: temos que fazer outra coisa além do que estava previsto. Podemos – e é muito bom – preparar as coisas a fundo, demorar muitos meses, semanas, e na altura sai tudo errado. Naquela noite a actriz zangou-se com o namorado e não está disposta a aturar-nos e temos que fazer qualquer coisa. Essa necessidade… Eu acho que isso é ideal com o vídeo. Porque não exige tanto respeito. Exige preparação longa, claro, mas não tudo engravatado, certinho. O Edgar Feldman gosta imenso de manipular, e quando às vezes as sequências não saem como a gente gostaria, passamos semanas de volta daquilo. De repente ele resolve meter umas distorções esquisitas no plano e… “aaahhhh!”. No começo do Vanitas havia em cima da escola PAULO ROCHA . PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha 183 uma nuvem e, mexendo-lhe um bocadinho, de repente aquilo era um dragão. Ou seja, não podemos ficar tristinhos porque o plano é normal, porque afinal, se a gente lhe mexer e se o torturarmos, e nos torturarmos a nós próprios, de repente, numa manhã, vem uma ideia e o próprio plano muda. Quando eu era professor na Escola de Cinema, as pessoas ficavam muito tristinhas porque o plano ou a sequência afinal não tinham saído tão engraçados. E ficavam imediatamente resignados. Temos que ser um bocadinho mais desesperados, ou mais loucos... tentar, tentar, tentar. A gente de noite pode ter uma ideia esquisita… ou a máquina pode ter um curto-circuito, e isso pode dar uma ideia para o filme. Uma das pessoas que eu conheci em Portugal mais esquisitas com a qualidade técnica é o Pedro Costa, que anos mais tarde viria a fazer tantas maravilhas. Ele demorou muitos anos para começar a dominar a técnica dele, de pôr as velinhas em frente à cara de um actor, e não ser preciso luzes, com um espelhinho ele conseguia fazer: isso demorou tantos anos... E agora pensamos que aquilo é a Capela Sistina: o resultado é pasmoso. E na altura, quando ele viu o Amadeo, já gostou muito dos resultados na banda de som e na banda de imagem. E eu fiquei tristíssimo, porque se ele visse agora o filme ficaria desolado. Porque não é nada do que ele viu em tempo. ANTÓNIO LOJA NEVES. Há ainda muitos resgates a fazer dos filmes portugueses, nomeadamente de alguns que são de facto pedras basilares da nossa cinematografia. Obrigado Paulo. Obrigado a todos. 184 PANORAMA ’08 | percursos no documentário português: paulo rocha DEBATE FINAL: Que Panorama? com os programadores de PANORAMA (Ana Almeida, António Loja Neves, Fernando Carrilho, Inês Sapeta Dias, Madalena Miranda) e os convidados Catarina Alves Costa, José Manuel Costa, Margarida Cardoso 24.Fevereiro.2008 PANORAMA ’08 | debate final: que panorama? 185 186 PANORAMA ’08 | abc Chegámos ao momento da discussão final des
Download