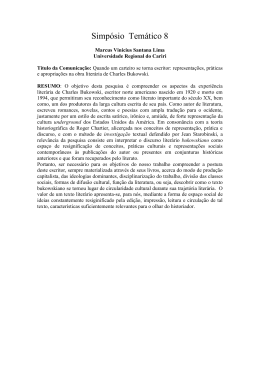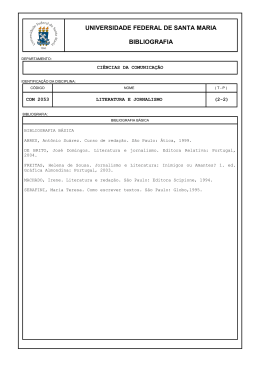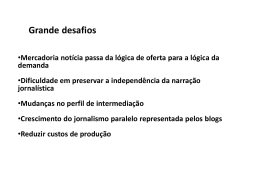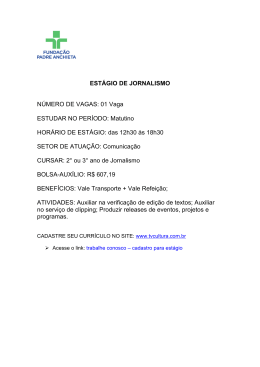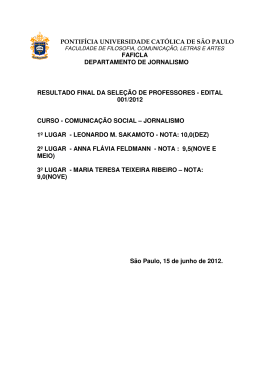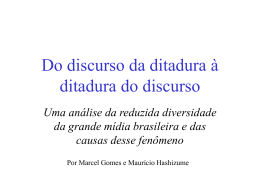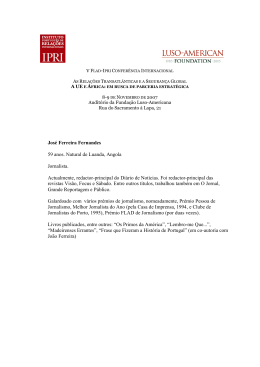GEORGE MACÊDO VELAME FIGURAÇÕES DA LITERATURA NA REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Estudo de Linguagens, no âmbito da Linha 1 – Leitura, Literatura e Identidades, do Departamento de Ciências Humanas, Campus I, da Universidade do Estado da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Estudo de Linguagens. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Márcia Rios da Silva Salvador – Bahia 2013 1 FICHA CATALOGRÁFICA Sistema de Bibliotecas da UNEB Velame, George Macêdo Figurações da literatura na revista Língua Portuguesa/George Macêdo Velame. – Salvador, 2013. 107f. Orientador: Márcia Rios da Silva. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Campus I. 2013. Contem referências. 1. Figurações da literatura. 2. Revista Língua Portuguesa. 3. Jornalismo Cultural. 4. Representação. 5. Literatura. 6. Autor. . I. Silva, Márcia Rios da. II. Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas. CDD : 410.376 2 GEORGE MACÊDO VELAME FIGURAÇÕES DA LITERATURA NA REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Estudo de Linguagens, no âmbito da Linha 1 – Leitura, Literatura e Identidades, do Departamento de Ciências Humanas, campus I, da Universidade do Estado da Bahia, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Estudo de Linguagens. BANCA EXAMINADORA ____________________________________________ Prof.ª Dr.ª Márcia Rios da Silva (Orientadora) Universidade do Estado da Bahia ____________________________________________ Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Silva Carvalho Universidade do Estado da Bahia ___________________________________________ Prof. Dr. Roberto Henrique Seidel Universidade Estadual de Feira de Santana Salvador – Bahia 2013 3 Dedico este trabalho a todas as obras literárias que já naufragaram na minha alma, em especial, à apresentação de Fiódor Pávlovitch Karamázov em Os irmãos Karamázov. Sem ele, minha existência não teria tomado o rumo que tomou. 4 AGRADECIMENTOS Inicialmente, às professoras Márcia Rios da Silva e Rosa Helena Blanco Machado, pois sem elas não teria conseguido chegar a esse momento. Agradeço aos meus pais e a toda minha família pela paciência e carinho. Ao oftalmologista Oscar Villas Boas, por ter me salvado da cegueira e me acalmado em momentos de desespero. Aos amigos, por compreenderem o distanciamento. À FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia), pela bolsa de pesquisa, com a qual pude contar durante os dois anos de sua vigência. Aos membros da Banca Examinadora, Prof.ª Dra. Maria do Socorro Silva Carvalho e Prof. Dr. Roberto Henrique Seidel, pela leitura cuidadosa e atenciosa do texto na qualificação e pelas preciosas sugestões que busquei seguir na finalização do trabalho. Aos colegas mestrandos e aos professores do PPGEL, pela oportunidade de concluir a pesquisa e pelas palavras de conforto e incentivo ditas em momentos chaves, assim como pelas discussões teóricas. A todos os livros que habitaram e vivem na minha alma proporcionando certas ressacas literárias. E em especial, à minha sobrinha linda, com a qual luto diariamente para que se torne uma leitora. Mas como é difícil. 5 Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de vida que atravessa o vivível e o vivido. A escrita é inseparável de devir. Gilles Deleuze 6 RESUMO Esse estudo tem por objetivo analisar as edições da revista Língua Portuguesa publicadas entre 2005 e 2007, com o intuito de entender as figurações de literatura produzidas em tal periódico, o qual elege o autor como uma figura central, o que endossa uma tradição acerca da noção de literário. Nesse sentido, inicialmente aborda-se esse periódico como uma produção do jornalismo cultural, recorrendo-se às contribuições de Jorge Rivera e Daniel Piza. Em seguida, procede-se a uma análise da concepção de literatura que orienta tal produção, com apoio das contribuições oriundas dos estudos literários e de cultura, as quais problematizam os conceitos de literatura elaborados pelo campo da produção erudita. Por fim, aborda-se criticamente a figura do autor promovida pela revista, com o apoio dos estudos de Michel Foucault, Roland Barthes e outros pesquisadores que trazem investimentos de análise sobre essa questão. PALAVRAS-CHAVE: Figurações da literatura, Revista Língua Portuguesa, jornalismo cultural, representação, literatura, autor. 7 ABSTRACT This study aims to analyze the Língua Portuguesa editions of the magazine published between 2005 and 2007, in order to understand the figurations of literature produced in this journal, which elects the author as a central figure, which endorses a tradition over the notion of literary. Accordingly, initially covers up this newsletter as a production of cultural journalism, resorting to the contributions of Jorge Rivera and Daniel Piza. Then it proceeds to a design review of the literature that guides such production, with the support of contributions from literary studies and culture, which problematize the concepts of literature produced by the field of scholarly production. Finally, we discuss critically the figure of the author promoted by the magazine, with the support of the studies of Michel Foucault, Roland Barthes and other researchers who bring investment analysis on this issue. KEYWORDS: Figurations of Literature, Magazine Língua Portuguesa, cultural journalism, Social Representation, literature, author. 8 SUMÁRIO INTRODUÇÃO.................................................................................................. 10 1. FOLHEANDO A LÍNGUA PORTUGUESA................................................ 17 2. LENDO A LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA..............................46 3. COMPONDO NA LÍNGUA UM RETRATO DO AUTOR ............................67 4. FECHANDO AS PÁGINAS DA REVISTA .................................................97 5. REFERÊNCIAS.........................................................................................100 6. ANEXOS....................................................................................................104 9 INTRODUÇÃO Que figurações de literatura emergem da revista Língua Portuguesa? Essa foi a primeira questão levantada no início da pesquisa, afinal, os conceitos de literatura propostos ao longo da história, desde que houve uma institucionalização da literatura, são variados. Mas qual o caminho percorrido até chegar à indagação inicial? O texto que agora segue à leitura iniciou-se ainda no curso de Letras da Universidade do Estado da Bahia, Campus I, mais exatamente no decorrer das análises desenvolvidas no projeto de Iniciação Científica (IC). Com duração de um ano (2006-2007), o subprojeto Em busca do texto do prazer? considerações em torno da atividade de leitura fazia parte do projeto geral: Pactos de leitura: recepção, representações sobre literatura e docência em Letras, sob a coordenação da Profa. Dra. Márcia Rios da Silva e tinha como objetivo analisar as representações sociais sobre leitura entre os estudantes de Letras da Universidade do Estado da Bahia. Nessa pesquisa, observou-se uma manutenção da representação da leitura como conhecimento, mesmo entre os estudantes que já estavam finalizando o curso de Letras e haviam entrado em contato com os estudos sobre leitura e recepção no decorrer da graduação. Dessa forma, se em um espaço em que o saber instituinte age com mais densidade o conhecimento instituído resiste de alguma forma, o que acontece nos meios de comunicação que dialogam com os conhecimentos produzidos e veiculados nas universidades? Tal inquietação deveu-se a outra formação universitária que tive, o jornalismo, em paralelo ao curso de Letras. Na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, foi observada, no decorrer da graduação, uma grande interface entre o conhecimento científico e o jornalismo, mais especificamente, nas editorias voltadas para a divulgação desse conhecimento, espaço em que o professor-pesquisador, muitas vezes, pode enunciar sem a intermediação do jornalista. Nessas editorias pude averiguar todo o processo de feitura das matérias, inclusive elaborando algumas. Desse fazer, depreenderam-se algumas considerações: o chamado discurso jornalístico não dá conta da complexidade das análises propostas pelos pesquisadores. São 10 campos com valores distintos, sempre dialogando em tensão; o discurso jornalístico sempre re-apresenta o discurso científico. Esse último é o centro da inquietação. Como o jornalismo re-encena o discurso elaborado pelas ciências? Ao produzir os dois tipos de discurso, a interface me interessava: o espaço da tensão, do diálogo. Nessa paisagem surge a revista Língua Portuguesa como objeto da pesquisa. Ao estagiar em escolas públicas do Ensino Médio, no curso de Letras, pude observar a utilização da revista, por muitos professores, como forma de capacitação ou aconselhamento profissional. Nesse sentido, o discurso produzido pelo periódico realmente estaria capacitando? Quem elabora esse discurso? Na busca por responder a essas questões iniciais, verificou-se a existência re-elaborada do discurso científico na revista, a presença de professores universitários na redação e a recorrência do escritor na capa. Tais características foram suficientes para elegê-la objeto de pesquisa. Dessa forma, quais as figurações de literatura são produzidas por essa revista, que veicula sempre um autor na vitrine, mas que se coloca no mercado como um periódico sobre a língua portuguesa? Considerando a tríade autor-obra-leitor, assentada pela tradição dos estudos literários, o autor seria o único elemento dessa tríade valorizado na revista? Como Língua Portuguesa aborda a literatura? Como dialoga com os conhecimentos produzidos pelos estudos literários? Desses questionamentos, vem a problematização final: que figurações de literatura são elaboradas pela Língua Portuguesa? Na busca por uma resposta, foram analisadas 26 edições da revista publicadas entre 2005, ano de lançamento, e 2007. A delimitação do número de edições ocorreu tendo como horizonte o período que a publicação levou para se consolidar de vez no mercado, tal como afirma o editorial de aniversário de dois anos da revista, publicado em agosto de 2007. São dois anos de existência com algumas conquistas, bem palpáveis, que a nós muito orgulha. Este foi o ano, por exemplo, em que a publicação foi escolhida como revista segmentada do ano e seu editor, o jornalista do ano, no III Prêmio Anatec de Mídia Segmentada. Pouco depois desse reconhecimento do mercado que produz revistas para públicos específicos, Língua também mereceu 11 deferência acadêmica, ao ser classificada pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (veja nesta edição, em Vírgulas) como um periódico de qualidade científica, Nacional B, no jargão das prógraduações brasileiras. (LP, nº 24, 2007, p. 4) Como o objetivo desta pesquisa é analisar a representação sobre literatura, as seções voltadas para aspectos do idioma não entraram no corpus, o que não quer dizer que tenham sido dispensadas quando das análises efetuadas. Assim, visando tal intento, foram contempladas as seções Figuras da Linguagem, Obra Aberta, Técnica, Frases e Versão Brasileira. Na seção Figuras da Linguagem, que traz matérias da capa, prevalece uma concepção de literatura a partir do binômio autor/obra. A voz do autor desvenda a obra e o processo criativo, assim como reitera o prestígio do sujeito. Nessa seção, espaço em que ocorre a maioria das entrevistas, o sujeito da escrita literária enuncia o eu. Para Leonor Arfuch (2010), a entrevista, enquanto gênero discursivo, possui várias funções e valores biográficos, podendo se tornar, ao mesmo tempo, autobiografia, biografia, confissão e história de vida, e concomitantemente, promove a imagem pública do homem de letras. Em Língua portuguesa, há uma centralidade da entrevista para a composição interna do periódico, a partir da qual se desenvolvem outros temas e matérias. As seções Obra aberta e Técnica já se relacionam de forma mais próxima dos métodos formais de análise literária e de construção textual. A primeira trata de interpretações relacionadas à forma, nas produções literárias, mas sem abdicar da figura do autor. A despeito das teorias imanentistas que excluem o sujeito autoral, a revista, mesmo se valendo desses instrumentos de análise, elege o autor como possibilidade interpretativa válida. Procedimento semelhante ocorre na seção Técnica, espaço em que se ensinam possibilidades, mecanismos de composição textual que levam a certas produções de sentido, mas que é perpassado pela visão clássica de gênio, como aquele que detém uma competência e engenho na arte de escrever. Nos números da revista analisados neste estudo, foi observada a proposta de segmentação do público-alvo através das seções e propagandas. A revista buscou firmar-se no mercado que foi criado pelo boom do ensino 12 superior no Brasil, no início do séc. XXI, quando começaram a surgir várias revistas segmentadas por área do conhecimento, voltadas para o público universitário. Língua Portuguesa foi a terceira publicação periódica da editora Segmento, que já editava a revista Educação (1997) e Ensino Superior (1999) e tornou-se a primeira, da editora, a se dedicar exclusivamente à língua portuguesa. O público alvo é bem definido: estudantes universitários e professores da educação básica. A revista Língua Portuguesa, ao longo dos seus sete anos de existência, pôs na vitrine autores representativos do cânone nacional – Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Vinicius de Moraes, e Lygia Fagundes Telles, entre outros. Esse fato ilustra e demonstra a linha editorial da revista, o que, de certa forma, contribui para a permanência das figurações hegemônicas da literatura, uma vez que o jornalismo, segundo Pena (2005), possui como característica ajudar a sedimentar ou desconstruir representações sociais, noções, visões de mundo ao tempo em que cria uma audiência com pautas comuns entre eles. O sentido atual da palavra literatura, segundo Antoine Compagnon (2006), Terry Eagleton (2006), Tzevtan Todorov (1980), é bem recente, data do século XIX. Para Compagnon, qualquer abordagem acerca de literatura, interna ou externa, não dá conta de uma conceitualização, posto que se parte de um consenso sobre o que é ou não literatura. A falta de um conceito ontológico sobre literatura demarca seu caráter ideológico, isto é, por não ser uma categoria “objetiva”, segundo Eagleton, o conceito de literatura tem relação com os juízos de valor originados em ideologias sociais. Portanto, estão intimamente ligados aos critérios pelos quais certos grupos sociais exercem e conservam o poder sobre outros. É nessa perspectiva que as figurações de literatura produzidas e veiculadas pela Língua Portuguesa serão abordadas. Entre os principais colaboradores da revista estão os professores universitários. Nesse sentido, a revista buscou o especialista para dialogar diretamente com o público. Vale ressaltar que, segundo Piza (2003), todo jornalismo cultural faz a mediação entre a arte, o pensamento, a cultura e o público. No caso de Língua Portuguesa, entre o conhecimento sobre a língua e o público. A presença do especialista nas redações do jornalismo cultural é motivo de controvérsia, pois, segundo Silviano Santiago (2004) e Daniel Piza 13 (2003), esse é um dos motivos da decadência e perda da influência dessa especialização jornalística. Entretanto, a presença do especialista na Língua Portuguesa facilitaria a mediação, na medida em que o uso de jargões técnicos da área de Letras por parte desses professores, ao invés de afastar, facilitaria a comunicação, já que o público-alvo pertence à mesma área do conhecimento. A presença do especialista tem a função de legitimar os discursos produzidos na revista, uma vez que as matérias são assinadas por professores universitários cuja competência já foi atestada pelas instâncias de legitimação. Dessa maneira, utilizando o “discurso competente”, aqui compreendido tal como proposto por Marilena Chauí (2011), conhecimento fora do tempo e que rejeita o novo, o instituinte, a revista Língua portuguesa dissimula a ideologia no discurso neutro da ciência. Segundo Jorge Rivera (2003), o jornalismo cultural atua em uma zona heterogênea, na medida em que coexistem duas concepções de cultura, a antropológica e a erudita. Essa coexistência é matriz da variedade de produtos e meios pelos quais o jornalismo cultural se faz existir. Vale destacar que, diferentes de outras editorias, as publicações em cultura focam a análise, a opinião, a crítica. Dessa forma, Rivera afirma ser o jornalismo cultural uma especialização do jornalismo cujo interesse é atender à demanda do público por certos temas culturais tratados com maior profundidade do que no jornalismo diário. Através de sua função comunicativa, o jornalismo, segundo Meditsch (2002), produz uma categoria específica de conhecimento sobre a realidade, assim como reproduz o saber elaborado por outras instituições sociais em um processo de recriação. Dessa forma, segundo Felipe Pena (2007), o jornalismo interfere diretamente na formulação de nossas imagens sobre a realidade, as chamadas representações sociais, em nossos valores, práticas, em nossa maneira de ver e nos relacionar com o mundo. Sendo assim, a compreensão de quais figurações o jornalismo cultural veicula torna-se relevante na medida em que demonstra se os questionamentos acerca do conceito de literatura já foram incorporados no discurso da mídia especializada, tendo em vista que essa mídia busca a segmentação do mercado como estratégia para atingir grupos que se encontram tão dissociados entre si, formando audiências específicas e criando laços identitários entre os leitores, o que aumenta a 14 possibilidade de adesão a certas noções. E aderir é, ao mesmo tempo, excluir, ou seja, reiterar as possíveis noções hegemônicas de literatura é marginalizar outras produções textuais não consagradas. Será por esse pressuposto que analisaremos as figurações da literatura produzidas pela Língua Portuguesa. Figurações são noções, ideias, concepções, entendidas como representações sociais, tal como as formulou o teórico Serge Moscovici. Para esse pensador, as representações sociais são formas de conhecimento prático, socialmente elaborado e compartilhado que colaboram com a construção de uma realidade comum. Portanto, orientam a comunicação e compreensão do mundo em que vivemos. As figurações se manifestam como elementos cognitivos – conceitos, teorias, imagens, categorias – e são entendidos a partir de seu contexto de produção, isto é, levando em consideração as funções ideológicas e simbólicas a que servem e das formas de comunicação onde circulam. Esta dissertação está estruturada em três seções. Na primeira, intitulada “Folheando a Língua Portuguesa”, abordamos a revista Língua Portuguesa enquanto jornalismo cultural, sua representatividade e relação com o conhecimento produzido nas universidades. Nela, situamos a emergência do jornalismo cultural, sua estruturação e relevância para a temática da dissertação. Além disso, caracterizamos a Língua Portuguesa, seu públicoalvo, seu projeto editorial, seu projeto gráfico. Assim, temos nessa seção, uma apreciação sobre o recorte temático da revista. Na segunda seção, “Lendo a literatura de Língua Portuguesa”, contemplamos as discussões propostas por Terry Eagleton (2006), Tzvetan Todorov (1980) e Antoine Compagnon (2006) acerca de conceitos de literatura elaborados historicamente, com vistas a problematizar figurações de literatura, precisamente as que relacionam literatura à nação e à linguagem nãopragmática. Para uma apreciação da ideia de literatura como representação da nação, buscamos entender o modo pelo qual a literatura serviu aos projetos de construção da identidade nacional por ser um texto privilegiado. Para tal são trazidas as contribuições de Benedict Anderson (1989), Zilá Bernd (2011) e Luiz Costa Lima (1996). Nessa mesma seção, abordamos a literatura como forma não-pragmática da linguagem. Com base nos estudos elaborados por Tzvetan Todorov (2007) e Chklovski (1973), traçamos um percurso histórico 15 dessa noção, assim como abordamos o aspecto autotélico da literatura produzido nessa segunda figuração. Posteriormente, na terceira e última seção, intitulada Compondo na Língua um retrato do autor, discutimos a figuração central da literatura na revista, o autor. Tal figuração é entendida como uma representação elaborada pelo campo instituído da literatura e assimilada pelos grupos sociais que alcançaram uma experiência de escolarização e letramento. Para tanto, elegem-se nessa seção as contribuições de Serge Moscovici para se pensar a figura do autor como uma representação socialmente elaborada e partilhada por determinados grupos sociais. Torna-se ainda imprescindível a problematização de Michel Foucault e Roland Barthes acerca da noção de autor produzida no ocidente, bem como a contribuição dos estudos literários sobre essa questão. Por fim, será considerada uma formulação acerca do gênero discursivo designado de entrevista, ao qual a revista em estudo recorre para dar corpo à figura do autor. 16 1. FOLHEANDO A LÍNGUA PORTUGUESA A revista Língua Portuguesa foi criada por Luiz Costa Pereira Junior – hoje editor-chefe e principal responsável pelas matérias de capa. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Alagoas (1991) e doutoramento em Filosofia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, o jornalista buscou, ao criar a publicação, inserir as discussões em torno da língua portuguesa na pauta cotidiana. No primeiro editorial, declarou ser a revista um instrumento de discussão da língua, com a pretensão de capacitar o leitor para o domínio da língua portuguesa, leia-se norma padrão, tanto oral quanto escrita, pois esse conhecimento se “tornou indispensável para a vida profissional e é por intermédio dela que se garante a própria cidadania” (LP, nº1, 2005). É importante salientar a relevância do editorial, que, segundo Jorge Pedro Sousa (2001), é um gênero jornalístico argumentativo que demonstra posicionamento de um periódico sobre determinado assunto. Por isso, o editorial é sempre de responsabilidade da direção do órgão jornalístico e, muitas vezes, motivado por assuntos existentes na edição. O autor defende a ideia de que o editorialista deve ser sensível à cultura da empresa, aos valores veiculados pelo periódico e ao público. Um editorial exige uma conclusão, não pode ser dúbio. Os argumentos devem ser sempre claros e embasados. Só assim podem aconselhar, sustentar opiniões, unir pessoas em torno de posições compartilhadas e consolidar pontos de vista. A revista Língua Portuguesa, através desse espaço por onde enuncia a sua política editorial, deixa transparecer, no primeiro editorial, sua função disciplinadora ao ter no centro de sua argumentação a competência linguística como base para o sucesso profissional e o exercício da cidadania. Compreendendo a disciplina como uma modalidade de poder, tal como concebida por Michel Foucault (1997), a saber, que se caracteriza por medir, corrigir, hierarquizar, quanto tornar possível um saber sobre o indivíduo, podese afirmar que o discurso de capacitação traz consigo a busca pela correção do sujeito em uma tentativa de torná-lo útil e dócil. Assim, a incorporação, por meio da capacitação, do saber sobre a língua proporcionaria a esses leitores 17 uma maior utilidade profissional (social e econômica) e política. É importante salientar que a fabricação de corpos dóceis não quer dizer obedientes, mas maleáveis, moldáveis. Essa produção do sujeito não ocorre em razão de uma imposição, mas mediante a atuação do poder disciplinar ao nível dos corpos e dos saberes que resultarão tanto em formas particulares de estar no mundo – eixo corpóreo – quanto na forma como cada sujeito conhece o mundo e nele se situa – eixo dos saberes. Sendo assim, a disciplina funciona como uma matriz que permite a inteligibilidade, a comunicação e a convivência na sociedade. Para Foucault, o poder não é algo fixo que pode ser entregue ou tomado, mas que se exerce; só existe em ação. O poder, nesse caso, é algo que circula e funciona em cadeia; nunca está localizado, mas existe em uma malha por onde trafegam os indivíduos. Portanto, a “disciplina” não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou uma “anatomia” do poder, uma tecnologia. (FOUCAULT, 1997, p. 177) A proposta de capacitação, defendida pela revista, caminha também em direção à Lei nº 9.394/1996, que estabelece os princípios e fins da educação nacional e afirma que a educação deve preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. Sendo assim, o periódico busca cumprir com uma função histórica do jornalismo de revista, que é ajudar na formação e na educação de grande parcela da população, necessitada de informação específica, mas que não se dedica aos livros (SCALZO, 2008). Essa relação é apontada pelo editor-chefe Luiz Costa Pereira Junior, no editorial de aniversário de um ano da revista, como um dos motivos de seu sucesso, pois “nunca se viu tanta faculdade no Brasil em razão da abertura promovida na era FHC – hoje, são 1700 no setor privado, todas mandando seus alunos escreverem monografias, trabalhos e dissertações” (LP, nº 10, 2006). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2005, ano de lançamento da revista, havia 2.165 instituições de educação superior com 1.480 cursos de Letras e suas diversas habilitações. 18 No mesmo ano ingressaram nas instituições de ensino superior 1.678.088 alunos, sendo 62.181 no curso de Licenciatura em Letras e 10.568 em Bacharelado em Letras. Em 1995, primeiro ano do senso de ensino superior do INEP, eram 894 instituições. Destas, 109 possuíam curso de Letras com um total de 21.837 alunos ingressantes. A partir dessas informações podese deduzir que houve no período de 10 anos um aumento de 242% no número de institutos de ensino superior, de 1.358% no número de cursos de Letras e 333% no de alunos calouros nos cursos de Letras, promovendo assim o que Luiz Costa Pereira Junior observa como um segmento, um mercado ainda não explorado, voltado exclusivamente para o idioma, demanda que a revista Língua Portuguesa tenta satisfazer com o seu lançamento. Apesar do aumento na oferta do ensino superior e nas vagas para os cursos de Letras, esse público-leitor não é o único desejado pela revista. A exigência por um maior domínio do idioma passa também a criar um segmento que, segundo o editor-chefe da Língua Portuguesa, nasce da relação entre língua e mercado de trabalho. Essa visão adotada pela revista é reiterada no editorial de aniversário de um ano, quando se afirma ser essa uma das causas do sucesso do periódico. É de imaginar que a retomada do fôlego econômico do país estimulou o relacionamento de empresas em seu próprio idioma. Há hoje um maior número de negócios mediados por tecnologias que enfatizam a comunicação – mensagens eletrônicas e apresentações com projeção, que não podem exibir tropeços. E, em reuniões de trabalho, o bom desempenho retórico virou chave empresarial (LP, nº 10, 2006, p. 5). É nessa configuração que a revista Língua Portuguesa é lançada e se consolida dentro de um mercado editorial voltado ao idioma, que vende aproximadamente 25 milhões de exemplares ao ano1. No primeiro ano de vida, foram lançadas 10 edições da revista – as três primeiras, bimestrais – e três especiais, todas com tiragem de 41 mil exemplares (hoje a tiragem é de 150 mil, maior que revistas consolidadas na área de cultura, como a Bravo, cuja 1 Dados apresentados pela revista Língua Portuguesa, em seu nº 10 de 2006. 19 tiragem é de 48.500 exemplares2). Entretanto, o início da publicação com edições bimestrais denuncia certa desconfiança por parte da editora, por não saber se haveria demanda para uma publicação ligada ao idioma vernáculo. Aliás, a revista defende ser o primeiro periódico em todo o mundo, algo questionável, a ter como único foco o idioma, o que justificaria a cautela. Esse fato demarca que, apesar de haver marcas indicando certa demanda, isso não foi suficiente para a editora apostar de vez no projeto, o que só ocorreu depois do estreitamento entre revista e leitor. A língua portuguesa é abordada pela revista dentro de cinco seções fixas com suas respectivas subseções. A seção central, Figura da Linguagem, foca o idioma enquanto arte, isto é, como uso peculiar da linguagem: “Montando ou desarticulando palavras, incorporando o visual, fragmentando a sintaxe, Drummond é mestre” (LP, nº23, 2007, p. 43); “O escritor mostra que é possível escrever com a riqueza da prosa barroca do século 17 sem cair nas armadilhas do rebuscamento” (LP, nº9, de 2006 p. 34). Esse modo de abordar a língua já se encontra perceptível nas capas: “Mais aclamada autora do país mostra como a criação literária pode surgir dos desafios do idioma” (LP, nº7, 2006); “autor mostra como escreve obras que unem erudição e cultura popular, e diz que uso de adjetivos divide linhagens de escritores no Brasil” (LP, nº 21, 2007). Como possibilidade artística, o idioma também aparece na seção Retórica na prática, espaço em que o idioma e seus mecanismos textuais de produção de sentidos são analisados e ensinados. Nessa seção se observa a presença marcante da literatura em duas subseções. Uma delas, Obra aberta, título homônimo ao do livro de Umberto Eco, é o espaço em que se “ensina” a analisar uma estrutura narrativa ou poética, tendo por pressuposto uma abordagem imanentista de trechos de obras literárias; na subseção Técnica, tem-se um espaço onde se descrevem e se ensinam procedimentos da escrita dos gêneros narrativos de massa. A seção Retórica na prática também contém a ideia de idioma voltado para o mercado de trabalho, reproduzindo a crença, bem antiga, de que uma boa retórica resulta no sucesso profissional. Na subseção Corporativo, discute- 2 Disponível em http://www.midiakitbravo.com.br. Acesso em 10/10/2012. 20 se o uso da linguagem empresarial, isto é, como conseguir melhores resultados produtivos por meio do idioma: É por meio de uma linguagem comum que se estabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao meio, o sentimento de pertencer não somente à empresa como também ao mundo empresarial, à administração que se transformou em um business-show (LP, nº 3, 2005, p. 33). As informações curtas, as notícias sobre o idioma são veiculadas na seção Abertura. Esta se encontra subdividida em Mural, o local de informações curtas e variadas sobre a língua, e Vírgula, subseção que se ocupa com as notícias, informações sobre lançamentos, exposições e eventos que ocorrerão no mês do lançamento da revista. Na seção Gramática Cotidiana, o idioma é reduzido a questões gramaticais normativas e suas possibilidades de análise e aplicação. Há uma clara proposta de dar suporte ao professor através de análises sintáticas feitas em diversos gêneros textuais, desde uma carta até uma notícia jornalística. A subseção mais importante é a Dito & escrito, espaço destinado à análise dos “descuidos” gramaticais cometidos pela imprensa. Outra forma de abordar o idioma está presente na seção Interfaces. Como o título já denuncia, diz respeito à relação dos estudos sobre a língua com outras áreas do conhecimento ou outras línguas. A subseção Versão brasileira, por sua vez, diz respeito às traduções, não de qualquer autor ou obra, mas do cânone, seja ele literário ou teórico. Essa subseção é marcada pela grande influência do mercado editorial, uma vez que só é analisada a obra que está sendo lançada no período de produção da revista. As subseções Etimologia e Berço das palavras discorrem sobre a origem e significado das palavras. Enquanto a primeira é mais técnica, mais analítica, a segunda se propõe a ser mais “descontraída” e informar curiosidades sobre as palavras. Um assunto recorrente na Língua Portuguesa é o estrangeirismo. Esse é um tema que pauta matérias e entrevistas, inclusive a subseção voltada para a área de negócios: “É preciso tomar cuidado com expressões ou palavras em inglês, que traduzem práticas ou tendências no ambiente de negócios, para que a tradução não aumente a traição” (LP, nº. 20, 2007, p. 53). Em entrevista 21 ao escritor José Saramago, é lançada a seguinte pergunta: “O povo português sente de alguma forma ameaçado o seu idioma?” (LP, nº. 3 de 2005, p. 19). Tal recorrência temática deixa transparecer uma relação entre idioma e nação, entre uma característica cultural e seu povo, que será abordada sempre pela função esclarecedora que a revista se atribui. No entanto, essa “função” não é exclusiva da Língua Portuguesa, iniciou-se, de modo mais abrangente, nas revistas especializadas da década de 60 do século XX. Segundo Maria Celeste Mira (2001), no Brasil são consideradas segmentadas revistas com tiragens abaixo de 100 mil exemplares. Porém, a autora destaca que, independente da tiragem, toda revista nasce segmentada, isto é, direcionada para um público específico, com demanda distinta. Segundo Mira, as grandes fronteiras entre os públicos são os gêneros, geração e classe social. Vale ressaltar que tais fronteiras não são estanques, uma vez que cada segmento é perpassado por outro(s). Por exemplo, o segmento gênero pode ser perpassado pelo segmento de classe, como no caso da revista Nova, dirigida ao público feminino, mas não à mulher de todas as classes sociais. Então não há, para essa revista, a leitora das classes menos favorecidas, mas a mulher de classe média, bem sucedida. O processo de surgimento de revistas especializadas no Brasil, segundo a autora, inicia-se nos anos de 1960 com a modernização e racionalização da técnica no país. Nesse período a editora Abril lança a Cláudia (1961), que se desenvolve junto com a chamada sociedade de consumo e as causas feministas, consolidando a imprensa feminina no país. A Quatro Rodas (1960), ligada à implantação das indústrias automobilísticas e de turismo, e a Veja (1968), reflexo da aceleração do tempo que o modernizar sempre carrega consigo, consolidando a revista de informação semanal. Antes desse período, a Cruzeiro – criada em 1928 por Assis Chateaubriand – era a revista da “nação”, de “toda a família”. Em comparação com as revistas citadas da década de 60 do século XX, a Língua Portuguesa se assemelha à ideia que essas possuíam: a de descobrir o Brasil. Enquanto a “Claudia refere-se sempre à “mulher brasileira”, Quatro Rodas, ao motorista ou ao “turista brasileiro”, Realidade e Veja, ao “leitor brasileiro”” (MIRA, 2001, p. 42), a Língua Portuguesa busca mostrar a língua 22 nacional ao seu povo. Tal afirmação torna-se possível uma vez que a ideia é explicitada em vários editoriais e principalmente no primeiro: a língua que usamos revela o que somos, e nem sempre nos damos conta. Está na música, na arte, no trabalho, na política, em toda a cultura, traz preconceitos, as ênfases do passado e os papéis que adotamos nas nossas relações sociais. (...) o manejo da língua revela a importância do português não apenas como ferramenta de comunicação, mas como chave para a alma brasileira. Ao falar, o brasileiro expressa sua identidade, que nunca é uniforme, e o país respira sua diversidade, que insiste em nos unir. (LP, nº1, 2005, p.3. grifos nossos). A relação entre língua e identidade nacional, veiculada na revista, iniciase historicamente no Romantismo, período em que a língua passou a expressar não mais as questões da fé, mas a cultura de uma nação através de antologias de textos literários de autores nacionais (HAUSER, 2003). Um dos principais responsáveis pelo conceito de “caráter nacional”, o teólogo alemão Johann Gottfried von Herder (2011), criticou as concepções estéticas voltadas à imitação dos antigos, defendendo a ideia de particularidade cultural de cada nação e de cada época, cujos valores deveriam ser julgados individualmente. Segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm (1998), entre 1830 e 1880, prevaleceram três critérios que permitem a um povo ser classificado como nação: “O primeiro destes critérios era sua associação histórica com um Estado existente ou com um Estado de passado recente e razoavelmente durável"; "o segundo critério era dado pela existência de uma elite cultural longamente estabelecida, que possuísse um vernáculo administrativo e literário escrito"; "o terceiro critério, que infelizmente precisa ser dito, era dado por uma provada capacidade para a conquista". Ademais, a língua é parte essencial, como afirmou Anderson (1989), do projeto de construção das nações modernas, da identidade nacional, uma vez que é um dos elementos que criam o vínculo de pertencimento, por parte dos indivíduos, à comunidade imaginada. No entanto, defende Hobsbawm (1998), no decorrer do século XIX, observaram-se mudanças, operadas pelos ideólogos liberais burgueses, nas concepções acerca do Estado-nação, 23 assumindo papel central temas como religião, etnicidade e lembranças históricas comuns. Entretanto, por dialogar com os conhecimentos produzidos nas Universidades, a revista Língua Portuguesa é perpassada pelos sentidos produzidos nos estudos sobre identidade, em que se fala mais em identidades plurais, ou, ainda, em identificações que teriam caráter provisório, uma vez que estão em contínuo devir, e pelo domínio disciplinar da sociolinguística e seus estudos sobre a variação linguística. Sendo assim, apesar de relacionar língua com identidade de um “povo”, a revista busca também noticiar variações do idioma. A maioria das subseções possui colaboradores fixos, jornalistas e professores universitários. Colaboraram nas edições analisadas nessa pesquisa, Marcelo Coelho3, Beth Brait4, Geraldo Galvão Ferraz5, Josué Machado6, Gabriel Perissé7, Luiz Costa Pereira Júnior8, Marcio Cotrim9, Luis Adonis Valente Correia10, José Luiz Fiorin11, Mario Eduardo Viaro12. Já entre colaboradores que não possuem uma coluna, ou subseção fixa, mas estão presentes com certa frequência, destaca-se Aldo Bizzochi13, responsável por assinar os textos que discutem a linguagem e a linguística. É importante sublinhar que a presença desses professores universitários na redação da Língua Portuguesa proporcionou a classificação, do periódico, em B214 no Qualis, valor que outros periódicos da mesma área não possuem, como Discutindo Literatura, B5, e Biblioteca Entre Livros, B4, ano base 2012. O Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Coordenação de 3 Responsável pela seção Obra aberta de 2005 a 2007. Jornalista. Membro do conselho editorial da Folha. Mestre em sociologia. Escreve para o caderno Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo, desde 1990. 4 Assinou Obra aberta de 2007 a 2010. Doutora em linguística e professora da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC). 5 Crítico literário responsável pela subseção Técnica. 6 Jornalista responsável pela subseção Dito & Escrito. 7 Professor do Programa de Educação da Uninove (SP). Assina a Versão brasileira. 8 Editor-chefe e responsável pela Figuras da linguagem. 9 Escritor, jornalista e advogado. Assina Berço da palavra. 10 Consultor empresarial. Responsável pela subseção Corporativo. 11 Doutor em Linguística. Responsável pelos textos que versam sobre linguística, semiótica e pragmática. 12 Doutor em Linguística pela USP. Assina a seção Etimologia. 13 Doutor em Linguística pela USP. 14 Dado disponível em http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam? conversationPropagation=Begin. Acesso em 13/11/2012. 24 Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior, CAPES, para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação no Brasil. Tal classificação foi concebida para atender às necessidades do sistema de avaliação e é pautado nas informações fornecidas por meio de coleta de dados. Como resultado, o site da CAPES disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos dos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. A classificação em B2, pela CAPES, da Língua Portuguesa só foi possível na medida em que os membros que compõem a revista são tomados como autorizados, isto é, os discursos proferidos pelos colaboradores foram legitimados segundo os cânones da esfera de sua própria competência, sendo assim, autorizados. O discurso competente é o proferido e aceito como verdadeiro ou autorizado (nesse caso, os termos se equivalem), tendo perdido os laços com o lugar e o tempo de sua origem. No entanto, apesar de vivermos em uma época em que a ideologia cientificista é hegemônica, essa ideologia repele e reprime o discurso científico instituinte ou fundador, uma vez que a indeterminação do presente foge ao controle. Buscando diferenciar essas duas modalidades do discurso científico, Marilena Chauí (2011) nomeia o discurso fundador, instituinte como saber, sendo este uma negação reflexionante, ou seja, é o trabalho para elevar à dimensão do conceito uma situação de não-saber. Só há saber quando a reflexão aceita a indeterminação que a faz brotar. Já na ideologia, no discurso competente, as ideias assumem uma forma de conhecimento, de ideias instituídas e, portanto, fora do tempo. A ideologia, para a Chauí, é um corpo sistemático de representações e de normas que nos “orientam” a agir e a conhecer. Para tal, o discurso ideológico busca coincidir com as coisas, anular as diferenças entre pensar, ser e o dizer, através de uma lógica que busca obter a identificação de todos os sujeitos sociais com uma imagem particular universalizada. Isto é, a imagem residente na classe dominante. Portanto, sob o signo do especialista, do discurso competente, Língua Portuguesa dissimula a ideologia no discurso neutro da cientificidade ou do conhecimento. Este, afirma Chauí, não é um risco, mas uma arma para o projeto de dominação e de intimidação social e política, pois a racionalidade não tem rosto e se oculta o lugar de onde é pronunciada. 25 O discurso competente não existe, na revista, apenas na presença dos sujeitos autorizados pela burocracia e organização hierárquica social, mas também pelos conhecimentos veiculados pelo periódico. Esses são retirados do seu contexto de feitura, isto é, estão fora do tempo e do lugar, todavia encravados na sociedade. Como pudemos observar, a língua pode ser percebida como matéria prima base: do ponto de vista editorial, porque toda a revista é concebida em torno do idioma; e do ponto de vista comercial, pois a demanda de leitura vai buscar informações sobre a língua. No entanto, a estratégia de sedução do público-leitor ocorre mediante a veiculação da figura do escritor na capa, pois esse é visto pela publicação, entre outras coisas, como um ícone da utilização, valorização, defesa e propagação do idioma. As perguntas feitas pela voz institucional nas entrevistas são um índice dessa visão. O escritor, presente em 84% das capas analisadas, é de tamanha importância para a revista que se transforma em elemento de identificação de uma edição: as cartas dos leitores sempre se referem às revistas anteriores pelo escritor que se apresenta na capa, não pelo número ou mês do seu lançamento. Esses escritores são sempre nomes de prestígio, nacionalmente reconhecidos, seja pela academia, como Nélida Piñon, seja pelo mercado/leitor, exemplo de Paulo Coelho. As entrevistas são feitas pelo editor chefe da revista, Luiz Costa Pereira Junior. A valorização da figura do escritor não é uma invenção do jornalismo cultural exercido pela Língua Portuguesa. Inicia-se, segundo Silviano Santiago (2004), concomitante ao excesso de especialização dos suplementos literários. Estes, ao fazerem uso da linguagem acadêmica, afastaram leitores. Com isso, os jornais tentaram compensar esse distanciamento trazendo para a seção de literatura uma abordagem já utilizada na cobertura de outras áreas artísticas. Ali, a literatura deixa de ser a análise de obra e passa a se confundir com a figura singular do escritor, à semelhança do que já ocorria com o músico, o ator de cinema, teatro e televisão. O escritor vira ícone pop. A literatura passa a fazer parte do que se chama de variedades, enriquecendo a galeria das estrelas contemporâneas, depois chamadas de personalidades e, hoje, de celebridades. (SANTIAGO, 2004, p. 164) 26 As capas fazem parte de um projeto editorial que tem por função chamar a atenção do leitor, levá-lo a uma experiência visual e guiá-lo pelas páginas de acordo com o que se pretende em termos editoriais. Para o seu êxito, diferentes tipos de elementos gráficos são utilizados e compõem a diagramação prevista pela linha editorial. Esses elementos são necessários para que o leitor seja conquistado e que se interesse em ler a publicação. Com isso, será a relação dialógica entre o que pretende o periódico e o que interessa ao leitor a determinar os caminhos visuais que tomará a publicação. Cada periódico pede um tipo de diagramação. Por isso, o projeto gráfico está intimamente relacionado ao projeto editorial. A diagramação não existe em si mesma, mas coexiste com o texto, proporciona uma identidade visual ao impresso, ao utilizar uma diagramação padrão, usar repetidas vezes um mesmo elemento gráfico ou uma tipografia para todos os textos. Desse modo, é essencial na estratégia de comunicação e fidelização da revista junto ao seu público leitor. A imagem, elemento essencial nessa comunicação revista/público, funciona como outra possibilidade de leitura complementar para a compreensão da publicação. Por essas questões, percebe-se o lugar estratégico que ocupa na abordagem e sedução do leitor. Se o trecho parecer irrelevante e pouco envolvente, será saltado. Se for apenas parcialmente interessante ou parecer longo demais, eles dirão “Acho que vou ler isso mais tarde”, o que equivale ao beijo da morte, pois o exemplar será colocado no alto da pilha do vou ler depois, que, quando estiver alta o suficiente, irá todinha para o lixo reciclável. É por isso que temos de usar todos os truques psicológicos, intelectuais e visuais (ou seja, edição) para fazer as pessoas reagirem da primeira vez que vêem a matéria. Esta deve ser irresistível ao ponto das pessoas pensarem que vão perder se não lerem agora (WHITE, 2005, p. 10). Verifica-se, então, a existência de duas etapas na diagramação. É a primeira informação que o leitor tem da revista, além de realizar a apresentação do seu conteúdo. E constitui-se em um fio condutor que guia o público pelas páginas, seções e entrevistas. Através de marcas gráficas, podese induzir o leitor a acreditar que uma informação é mais importante que outra ou o que merece ser lido primeiro. Tais marcas estão presentes na revista 27 desde a capa até o sumário. Na Língua Portuguesa, o sumário não segue sempre a progressão numérica, mas separa as matérias de capa em um quadro, ressaltando com a cor, geralmente preta, a matéria principal (Anexo 1). Isso conduz o leitor a observar primeiro a informação destacada em detrimento das outras, criando assim a hierarquia interna, produto da linha editorial da revista. Essa disposição espacial hierárquica inicia-se na capa, com uma única foto para quatro ou cinco chamadas (Anexo 2), determinando o posicionamento dos elementos. Só uma chamada é “digna” de imagem, de ser posta na vitrine e ser o carro-chefe da revista. As outras ficam em segundo plano, deixando a maior fatia da capa para a imagem e nome do artista/escritor entrevistado ou que terá a matéria veiculada na edição. As capas são formadas por signos icônicos – fotografias, desenhos – e linguísticos – chamadas, cabeçalhos. Vale ressaltar que, nas capas, os signos icônicos estão em primeiro plano. O cabeçalho diz respeito às informações sobre nome, edição, data, número de publicação e outras informações. Já as chamadas são os títulos das matérias mais importantes da edição e têm como função prender a atenção do leitor, fazê-lo comprar e ler a revista. A chamada principal corresponde à matéria considerada mais relevante pelos editores. Portanto, suas marcas gráficas têm que destacá-la das outras chamadas de capa, o que ocorre de forma clara na Língua Portuguesa (Anexos 1 e 2). Os dois tipos de signos presentes nas capas são essenciais para atrair a atenção dos leitores, apesar de haver na área jornalística uma discussão sobre quem é mais importante. Marília Scalzo defende que “a chamada principal e a imagem da capa devem se complementar, passando uma mensagem coesa e coerente” (SCALZO, 2008, p. 53), tese que seguiremos de agora em diante. Dito isto, vale lembrar que a capa é o primeiro signo a ser percebido pelo público. Seja numa propaganda da revista na televisão, em outro periódico, ou em uma banca de revista, a imagem está lá, impõe-se diante dos olhos. Posterior ao primeiro contato vem o manuseio, quando o leitor folheia as páginas à procura de algo que chame sua atenção. Porém é a capa que o prende. Uma boa revista necessita de uma capa que a ajude a seduzir leitores, convencendo-os a adquiri-la. Por isso, precisa ser o resumo de cada edição uma vitrine que mostre o que o leitor encontrará, pois tem uma função estratégica de definir a compra de seu produto por potenciais compradores 28 (SCALZO, 2008). Sendo assim, as capas antecipam certo perfil do públicoleitor. No caso da revista Língua Portuguesa, um leitor interessado não só pela língua, mas, também, pela literatura. No mercado competitivo das revistas, a identidade é essencial, e a capa incorpora tal característica, demonstrando essa identidade que cria uma ligação entre o leitor e a revista. Em uma publicação especializada, como a Língua Portuguesa, que visa a um público segmentado, quanto mais a capa representar em termos conceituais esse leitor, maior será a sua capacidade de sedução (WHITE, 2005). Em relação à composição das capas da Língua Portuguesa, é importante notar que a segmentação do público ocorre também na estratégia de utilizar a figura de escritores conhecidos dos seus leitores, uma vez que 84% das capas trazem escritores (em 19 delas) ou compositores de música (em três delas) que, no momento do lançamento da publicação do periódico, estão envolvidos com a escrita literária, isto é, lançando livros de literatura. A veiculação desses compositores/escritores na capa revela também uma estratégia das editoras que possuem os direitos sobre as obras, uma vez que, como defende Tânia Pellegrini [199_], a literatura hoje é um produto cultural integrado aos mecanismos da indústria cultural, do mercado editorial, portanto, faz uso dos mais variados meios de divulgação. Como bem lembra Marília Scalzo (2008), a capa revela a que público se endereça, assim como cria uma expectativa no leitor. No caso da Língua Portuguesa, a identidade da revista já se faz presente no imaginário desse público. Este espera por um escritor na próxima capa, e vai além, sugere nomes de autores como Clarice Lispector, Virgínia Woolf, Rachel de Queiroz, Camus, através da seção “cartas do leitor”, para futuras edições. As capas são compostas por dois tipos de signos, o icônico e o linguístico. Na Língua Portuguesa, o signo icônico hegemônico é a fotografia que se expande por toda a capa e só não está presente em duas edições, a de nº 19 de 2007 – Clarice Lispector – e a nº 24 do mesmo ano – Guimarães Rosa. Sobre a fotografia, as ideias apresentadas por Marília Scalzo (2008) mostram a sua importância. Antes do contato linguístico, na revista, há a imagética. Esta provoca reações emotivas, convida o leitor a mergulhar em um 29 assunto ou matéria. Num mundo carregado de propostas visuais, o uso da fotografia tornou-se mais relevante. A autora valida o seu argumento apresentando números de uma pesquisa feita pela revista Veja, em que apenas 9% dos leitores leem uma matéria sem imagem, enquanto esse número chega a 15% se há ilustrações. Podemos questionar a intenção da autora em absolutizar esses números, isto é, de torná-los regra, uma vez que isso não é possível, tendo em vista que cada revista possui o seu público-leitor específico, seus interesses, gostos, suas demandas. Mas os tomaremos como índices de uma tendência que já vem há algum tempo. Dessa maneira, a imagem é o foco da capa na revista Língua Portuguesa. Esta pode ocorrer de diversas formas, entre as quais está a imagem “sangrada” - que acontece quando a imagem ultrapassa alguma, ou mais de uma, das extremidades da folha e é cortada -, a mais usada nas capas do periódico em questão (Anexos 3 e 4). "O sangramento produz uma ilusão que faz com que a imagem pareça se estender para o espaço além do limite da página [...] Aumenta a página na imaginação do observador, e isso fortalece o impacto não só da página, mas também do assunto da foto” (SCALZO, 2008, p. 58). Sendo assim, a figura do escritor, predominante nas capas analisadas, é reiterada não só pelo conteúdo da entrevista/matéria contida na revista, mas pelo uso de sua imagem e o que ele remete no imaginário do leitor. A manutenção da figura do escritor como de identificação da revista ocorre, pois, como afirma Van Dijk, “a produção jornalística privilegiaria acontecimentos produzidos/definidos por figuras públicas e setores preponderantes da vida social e política, reproduzindo uma estrutura social favorável a essas elites” (VAN DIJK apud SOUSA, 2001, p. 42). Maria Celeste Mira também chama a atenção para a questão ideológica da notícia. “O fato de selecionarem e organizarem a notícia e a forma impessoal e objetiva de expor dão a entender que o que se lê é uma avaliação neutra dos fatos. Obviamente, toda informação é produzida e tende a refletir o ponto de vista hegemônico” (MIRA, 2008, p. 89). O público da Língua Portuguesa é formado, majoritariamente, por professores, ou futuros professores e profissionais liberais, que consomem a figura do escritor e informações sobre a língua e cultura, desejosos de obter um conhecimento legitimado, tendo em vista o fato de o periódico ser um espaço 30 de propagação do discurso competente. Sobre a questão do conhecimento, Marília Scalzo (2008) afirma que uma revista, até por causa de sua periodicidade, cobre funções culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. Traz análises, reflexão, experiência de leitura e lazer. Na história das revistas, estas tomam dois caminhos: o da educação e o do entretenimento. Enquanto o jornal ocupa o espaço público, a revista entra na esfera privada, na casa dos leitores, tratando-os por “você”. A relação de intimidade entre revista e leitor fica mais visível, na Língua Portuguesa, na seção intitulada “cartas”, local onde se materializa o público consumidor. Segundo José Melo (1985), a carta do leitor é um texto que circula no contexto jornalístico, em seção fixa de revistas e jornais, denominada comumente de cartas, cartas à redação, carta do leitor, painel do leitor, reservada à correspondência dos leitores. É um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se conhecem (o leitor e a equipe da revista/jornal, respectivamente), atendendo a diversos propósitos comunicativos: opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar entre outros. (MELO,1985, p. 1) Ao todo foi veiculado na revista um total de 260 cartas entre agosto de 2005 e dezembro de 2007. Dessas, 147 se dirigem a matérias referentes à literatura, cerca de 56% do total. A carta do leitor, assim como o artigo de opinião, é envolvida por uma intenção persuasiva, tendo em vista que é uma manifestação do público consumidor. Entretanto, é importante salientar que a carta do leitor é um texto contextualizado, isto é, uma resposta a outro texto da revista ou jornal. Sendo assim, é um diálogo entre a revista e seu público leitor. Muitas vezes essas cartas não são originadas na esfera privada do leitor, mas na redação dos jornais e revistas tendo como ponto de partida leitores fictícios, idealizados pelos produtores culturais. No entanto, para essa pesquisa, tomaremos os dados coletados desse espaço da revista como uma tendência, uma vez que não podemos afirmar categoricamente a existência corpórea de tais sujeitos, mas só de alguns. A partir dessas informações foi possível observar e comprovar a tese do editor chefe da revista, Luiz Pereira Junior, de que o sucesso da revista se 31 deve também ao boom de universidades privadas, promovido e iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, uma vez que 65% das cartas analisadas são oriundas de estudantes universitários, muitas vezes agradecendo conselhos de ensino de língua e literatura. Outras muitas, pedindo reportagens sobre escritores. Os outros 35%, de professores, da educação básica e superior, e até de docentes estrangeiros, como na citação abaixo, em que duas professoras francesas manifestam a sua satisfação perante um periódico que trata apenas da língua. É uma revista que não existia e valoriza os estudos de língua com uma abordagem para um público amplo, sem ser demasiadamente linguística. Desperta o interesse pelo assunto e é muito bem-vinda em nosso departamento, na Sorbonne15. Li com muito interesse a revista Língua. Mesmo sem ser linguística, aprendi muita coisa de maneira lúdica, sobre as diferenças entre o português europeu e o brasileiro. Gostei especialmente do que escreve Marcelo Coelho. Gostei muito da iniciativa16. (LP, nº 10, 2006, p. 3). Sendo assim, a revista procura organizar e sintetizar a enorme torrente de informações sobre a língua, buscando um público leitor que se interessa pelo tema. Esse público também será cobiçado pelos anunciantes. No início, estes eram raros, tendo em vista a periodicidade da publicação, bimestral, e uma editora, Segmento, não muita conhecida. Atualmente, a Língua Portuguesa apresenta um número pouco variável de páginas dedicadas à publicidade, gira em torno de onze por edição. Dessas, 67% dizem respeito à divulgação de revistas culturais como a Cult, a BrHistória (publicada pela editora Duetto, que pertence ao grupo Ediouro), e da própria editora da Língua, a Segmento, que promove outras publicações. Outros anúncios menos frequentes pertencem à Companhia Vale do Rio Doce, rádio Eldorado, e lançamentos culturais da Folha de São Paulo, além, é claro, das universidades privadas. 15 Jacqueline Penjon, pesquisadora, livre-docente responsável pela pós-graduação do departamento de Língua e literatura Lusófana da Sorbonne Nouvelle Paris III. 16 Pierre Rivas, brasilianista, professor de Literatura Comparada da Universidade de Paris X, Nanterre. 32 Maria Celeste Mira (2008) afirma que a publicidade influencia a revista não apenas no seu conteúdo, mas em todas as suas possibilidades, desde o formato até a escolha das cores do periódico. Essa influência decorre do poder financeiro da publicidade, já que, na maioria dos casos, a venda de revistas não paga a sua produção, tornando-a cara. Sendo assim, as propagandas possibilitam preços mais baixos e uma circulação nacional. No caso da Cult, é perceptível o interesse do jornalista Geraldo Ferraz, que promove a revista na qual é editor-chefe e colunista, transferindo potenciais consumidores ao seu maior produto, a Cult, tal como ajuda a manter uma produção da qual é colaborador. Esses tipos de anúncios revelam a que consumidor a revista se dirige, visto que, segundo Mira, o editor transforma-se em um especialista em grupos de consumidores, pois há a necessidade de compreender a que público a revista se destina, de modo que possa vendê-la a anunciantes. Com isso fica clara a relação entre revista e publicidade, já que os anunciantes sempre possuem um grupo pré-definido de consumidores que pretendem atingir. Tendo em vista essas informações sobre os anunciantes, pode-se observar, mais uma vez, a que tipo de público a revista se destina: profissionais da área de letras e interessados pela língua como forma de cultura (entendida aqui como cultura letrada, erudita), na medida em que temos entre as ofertas uma revista cultural, a Cult, BrHistória, lançamento de livros e produtos culturais como Cds. O recorte de classe não diz respeito apenas ao público, mas também aos seus produtores que, muitas vezes, compartilham o mesmo universo cultural e sabem como agradar aos compradores de suas revistas. (MIRA, 2008, p. 116). Vale ressaltar que, quando a editora busca um grupo mais específico de leitores e anunciantes, lança edições especiais de temática variada, como “Linguagem e psicanálise”, “Linguagem e futebol”, “Literatura e vestibular”, entre vários outros títulos. Uma vez que, quanto mais segmentado é o público, mais instável é o mercado, pois, apesar do público dessas revistas ser interessado no tema, a demanda pode durar pouco, desaparecendo na mesma velocidade em que apareceram (MIRA, 2008). 33 Caracterizada a revista, faz-se necessário observar em que especialização do jornalismo ela se insere. O jornalismo cultural tem como marco inicial a fundação, em 1711, da revista diária inglesa The Spectator. Nesta, Richard Steele (1672-1720) e Joseph Addison (1672-1719), fundadores da revista, tinham como finalidade levar para os clubes e assembleias, casas de chá e cafés a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e faculdades, tendo em vista a ideia de que o conhecimento era divertido e não mais a atividade sisuda e estática, quase sacerdotal, que os doutos pregavam e praticavam. Segundo Daniel Piza (2003) e Jorge Rivera (2003), essa revista inglesa tratava de tudo: livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, além de política, estando relacionada à cidade. A The Spectator possuía como público-alvo o homem urbano, preocupado com as novidades da moda, das artes, dos costumes. Sendo assim, Piza e Rivera afirmam que o jornalismo cultural, produto ligado à avaliação de ideias, artes e valores, tem início no século XVIII com a consolidação da imprensa inventada por Johannes Gutemberg em 1450, e do humanismo renascentista que se espalhara da Itália para toda a Europa. O jornalismo europeu se torna tão influente na modernidade quanto as revoluções políticas, descobertas científicas e a educação liberal. A Inglaterra será a matriz dessa influência, pois vivia um clima de liberdade de expressão na vida pública, que não existia em outras localidades. Nesse período, além de Steele e Addison, William Hazlitt escreveu para o The Examiner, Charles Lamb, para o London Magazine, e Samuel Johnson, para o The Rambler. O jornalismo cultural não se resumiu à Inglaterra e à França. Na Alemanha, G. E. Lessing (1729-1781) ganhou fama no século XVIII como crítico de teatro e literatura. No século XIX, foi a vez de Heinrich Heine (1797 1856), que, além de crítico, era poeta. Nos EUA, a figura maior da crítica, no século XIX, Edgar Allan Poe (1809-1849), tinha o sustento ligado à sua produção para revistas e jornais e não aos seus contos e poemas. Estes só seriam respeitados em decorrência das traduções feitas na França por Charles Baudelaire. Na segunda metade do século XIX, o jornalismo se multiplicava nos EUA à medida que o país crescia e sua cultura se consolidava. Outro escritor que também trabalhou como crítico em periódicos foi Henry James. 34 Seu famoso ensaio “A arte de ficção” foi publicado pela Longman`s Magazine em 1884. Apesar do prestígio conseguido pelo jornalismo cultural e a presença de escritores nas redações, Silviano Santiago (2004) afirma que houve uma desliteraturização da grande imprensa entre o fim do século XIX e início do XX. O cosmopolitanismo e, em particular, o imperialismo, passou a ocupar o espaço nobre dos jornais e revistas – antes preenchido pela literatura –, alimentando a curiosidade burguesa sobre o mundo. Surge, então, a figura do correspondente no exterior. Este será responsável pelas fotografias e relatos exóticos proporcionados pelo mistério das regiões e povos desconhecidos, rivalizando assim com os textos literários. Vale destacar que, apesar dessa perda de espaço, os escritores e críticos continuaram a manter um diálogo intenso com o público letrado, divulgando os novos valores estéticos, proporcionando o enriquecimento do debate de ideias e obras. Outro fator, segundo Silviano Santiago, que contribuiu para a desliteraturização foram as novas formas artísticas proporcionadas pelo desenvolvimento tecnológico que concorrem com a literatura pelo espaço dentro do jornal. Uma marca desse fator foi a migração das histórias de folhetins do jornal. Primeiro, para o cinema, depois para o rádio e, por fim, para a televisão. No Brasil, segundo Piza, o jornalismo cultural iniciaria e ganharia força no final do século XIX e, assim como em todo Ocidente, possui a característica de ter escritores nas suas redações. Machado de Assis (1839-1908) seria um dos principais responsáveis por esse início, ao começar a carreira como crítico de teatro e polemista literário. Outro escritor, e o grande crítico do período, José Veríssimo (1857-1916), foi o editor da Revista Brasileira, que marcou época. Sérgio Gadini (2003), no entanto, defende um marco anterior ao afirmado por Piza, assim como aponta os anos 1930 como início do efetivo crescimento do jornalismo cultural no Brasil. Como se sabe, esse processo só vai acontecer no Brasil – ainda que de forma lenta, devido ao alto índice de analfabetismo, baixa concentração urbana, dentre outros fatores – a partir do século XIX, tendo como marco a vinda da família real em 1808. Na 35 prática, em termos urbanos e públicos, só vai ser possível falar em consumo e crítica cultural algumas décadas mais tarde. Ou, para ser mais exato, a partir das últimas décadas daquele século. E, de modo mais significativo, a partir dos anos 1930. (GADINI, 2003, p. 217) Jorge Rivera (2003) segue um caminho semelhante e complementar ao de Gadini ao afirmar que esse crescimento, nas primeiras décadas do século XX, está relacionado ao surgimento das vanguardas artísticas que publicaram várias revistas – Klaxon, Antropofágica, Terra Roxa, Estética, Diretrizes, entre outras – com suas propostas estéticas e ideológicas. Até o início do século XX, o jornalismo era feito de escasso noticiário, muito artigo político e debate sobre livros e arte. Com a modernização da sociedade, a imprensa também mudou. O jornalismo passou a se basear na objetividade, no relato de fatos e nas reportagens, enquanto o jornalismo cultural deixou as conversações sofisticadas de Addison e Steele e as resenhas incisivas de Krauss, Shaw e Émile Zola para se ater às críticas mais breves, às entrevistas e reportagens. Nesse contexto aparece o novo sustentáculo do jornalismo cultural, as revistas, incluindo-se na categoria os tabloides literários semanais ou quinzenais. Estude os “ismos” todos lançados nas três primeiras décadas do século (XX) e você terá de estudar as revistas em que eles foram formulados e debatidos. Assim foi com o surrealismo francês, o futurismo russo, o imagismo americano: a expansão das vanguardas estava diretamente ligada à expansão da imprensa, dos recursos gráficos, do público urbano ávido por novidades. (PIZA, 2003, p. 19) No Brasil, essa tendência esteve presente através da revista Klaxon, que, nesse período, veiculava as ideias do modernismo paulista. Esse jornalismo cultural praticado no início do século XX era mais incisivo e informativo, menos moralista e meditativo. Entretanto, continua a exercer uma enorme influência, chegando a “servir de referência não apenas para leitores, mas também para artistas e intelectuais de outras áreas” (PIZA, 2003, p. 20). O jornalismo cultural no Brasil do século XX percorre uma história semelhante à dos países da Europa ocidental e dos EUA. Depois da geração 36 que possuía nomes como Machado de Assis e José Veríssimo, as revistas e jornais vão abrigar em suas redações o crítico profissional e informativo. Essa nova conjuntura não impede que muitos escritores passem primeiro pela crítica nos periódicos antes se tornarem autores consagrados, entre esses, Lima Barreto. Outro grande nome da crítica no país foi Mário de Andrade. Suas críticas sobre música publicadas no Diário de S. Paulo, nos anos 30 do século XX, por exemplo, têm um valor mais jornalístico que literário. O auge do jornalismo cultural no Brasil, segundo Daniel Piza, dura 20 anos, dos anos 40 aos 60 do século passado. O fim desse período está ligado ao surgimento, em maior quantidade, das faculdades de comunicação no país, na medida em que os profissionais formados nesses novos cursos universitários ocuparão os espaços nas redações, limitando, dessa maneira, o exercício da atividade jornalística pelos profissionais oriundos de outras áreas. No período áureo do jornalismo cultural houve dois grandes nomes: Otto Maria Carpeaux (1900-1978) e Álvaro Lins (1912-1970). Esses dois críticos alavancaram o jornalismo cultural com a combinação de jornalismo com enciclopedismo. Ambos trabalharam no Correio da Manhã, que tinha como redatores Graciliano Ramos e Aurélio Buarque de Holanda, além do poeta Carlos Drummond de Andrade como colunista. Tal momento do jornalismo cultural brasileiro estaria ligado ao surgimento do suplemento literário e à presença de uma geração de intelectuais sem formação universitária, como é o caso do Carpeaux, Álvaro Lins, Sérgio Milliet – esses críticos não utilizavam uma linguagem técnica, o que facilitava o diálogo com o público em geral – e de escritores como Mário de Andrade, José Lins do Rego e Oswald de Andrade. Com o suplemento, como afirma Silviano Santiago (2004), a literatura passou a ser o algo a mais que fortalece semanalmente os jornais, com matérias densas, opinativas, analíticas, reflexivas, que tentam preencher de maneira mais profunda e inteligente o lazer de fim de semana do leitor apressado do dia-a-dia. Conforme Silviano Santiago, O suplemento tem sua raiz fincada no calendário burguês: a notícia que transmite a ação ocupa o leitor burguês durante os dias de trabalho, enquanto a matéria literária e/ou artística que reclama o tempo da contemplação o envolve durante os dias de lazer. (SANTIAGO, 2004, p. 163). 37 Entretanto, essa característica de ser um espaço especializado que pode ser descartado sem prejuízo do todo, uma vez que é suplementar, não afeta o diálogo entre o crítico e o público, pelo menos nesse período. Os críticos continuaram a ter prestígio formando opiniões e sendo responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma obra ou autor. No final dos anos 1950, o Jornal do Brasil (JB), Última Hora e Diário Carioca estabeleceram outro padrão editorial e gráfico. Enquanto o Correio da Manhã se pautava na opinião, o JB, que começou o processo de modernização em 1956, priorizou o visual e a reportagem, sendo responsável por solidificar o lide no jornalismo brasileiro. O JB cria logo em seguida o Caderno B, que se tornaria o precursor do moderno jornalismo cultural brasileiro. Também em 1956 foi criado, agora em São Paulo, o Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, que reuniu intelectuais que já militavam no jornalismo cultural, como Antonio Cândido, Paulo Emilio Salles Gomes, Lourival Gomes Machado. Ao longo das décadas surgiram outras publicações culturais no país como Senhor (final dos anos de 1950), o Pasquim (final de 1960), Opinião (anos 1970). Nos anos 1980 a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo consolidam os seus cadernos culturais Ilustrada e Caderno 2, respectivamente. A primeira se enveredava pela polêmica e por assuntos mais ligados à cultura jovem internacional, além de se ater a reportagens que apresentavam tendências de comportamento. Já o Caderno 2 conseguia inserir em uma mesma publicação literatura, música pop, arte, teatro e cinema americano. Uma característica do jornalismo cultural dos anos 1980 é a presença de assuntos da cultura de massa. Na contemporaneidade, segundo Piza, o jornalismo cultural vem se expandindo para os livros, por meio de coletâneas de ensaios e críticas, além de biografias e por meio da internet, através dos fóruns e revistas digitais. Entretanto, em vários países há um sentimento de “crise” desse tipo de jornalismo, seja pela perda da influência – não definem tanto o sucesso ou o fracasso de uma obra – ou pela falta de engajamento dos intelectuais no debate cultural fora das paisagens contemporâneas da literatura. Sobre a perda de influência, Silviano Santiago (2004) afirma que está diretamente relacionada a uma mudança nas instâncias de legitimação. Se 38 antes bastava o parecer favorável dos críticos, seja um impressionista, seja um acadêmico, hoje a primeira instância está localizada no público, isto é, no mercado. Uma evidência dessa mudança é a existência e a importância dada à lista dos livros mais vendidos. Outro ponto importante na explicação da “crise” do jornalismo cultural, pelo menos no que diz respeito à literatura, é o fim da crítica de rodapé. Esta, como já foi observada, nutria-se de grande prestígio junto ao público, mas foi questionada, segundo Cláudia Nina (2007), pelos primeiros formandos das faculdades de Letras no início de 1940. Esse questionamento aprofundará a separação entre literatura e imprensa no século XX. A “cisão” foi exigida pelos professores universitários, com formação nas grandes teorias e metodologias de leitura do século 20 (formalismo russo, estilística, new criticism, estruturalismo, etc), inconformados que estavam com o “impressionismo” (quer dizer: com a superficialidade) do ensaio e da crítica literária escritos por intelectuais sem formação acadêmica e disciplinar. (SANTIAGO, 2004, p.162) Afrânio Coutinho, professor e crítico literário baiano, influenciado pelo trabalho de René Wellek e pelo new criticism, foi um dos principais críticos da “análise impressionista” existentes nas redações. Autor da seção Correntes cruzadas, publicado no suplemento literário do Diário de Notícias, de 1948 a 1966, Coutinho defendia que a crítica literária veiculada nos jornais deveria fazer uso de uma metodologia de análise e não se pautar no tom subjetivo e personalista tão típico da crítica de rodapé. Esta era praticada pelos homens de letras, de erudição, que privilegiavam as impressões que a obra produzia, e não os seus aspectos formais, como pretendia o critico literário baiano. A entrada dos profissionais formados nas universidades de Letras nas redações trouxe, principalmente na década de 60 do século XX, uma linguagem técnica, muitas vezes hermética, dificultando a interação com o público não especialista (NINA, 2007). Tal situação abriu caminho para a ascensão dos releases e da agenda cultural, nos anos de 1970 e 1980, nos cadernos de cultura. As matérias tornam-se superficiais, voltadas para os lançamentos do mercado editorial. 39 Nesse sentido, Silviano Santiago (2004) defende uma aproximação dos acadêmicos com o público via jornalismo cultural, de modo a criar uma crítica literária participante, enriquecendo, assim, o debate cotidiano de ideias. No entanto, essa defesa, como o próprio autor levanta, traz consigo alguns problemas. Entre eles, a perda do rigor científico, mas o uso dos jargões acadêmicos afasta o público mais geral. Essa aproximação clamada por Santiago ocorre no jornalismo cultural feito pela revista Língua Portuguesa, até porque, como é uma publicação voltada para o público, em grande parte, universitário, há uma busca, por parte dessa comunidade de receptores, pelo conhecimento, seja ele instituinte ou instituído. Em contrapartida, a existência de acadêmicos no interior da revista não materializa a preocupação que Piza (2003) e Santiago (2004) nutrem do uso de uma linguagem mais técnica, uma vez que a maior parte do público alvo (área de letras) compreende o vocabulário técnico utilizado. Tal situação demarca uma tentativa, por parte da Língua Portuguesa, de viabilizar um saber especializado. O campo do jornalismo cultural não é uniforme, os seus conceitos se misturam, dificultando a sua compreensão, como bem afirma Jorge Rivera no seu livro El periodismo cultural. Em primeiro lugar, afirma o autor, porque o termo, jornalismo cultural, refere-se aos sentidos stricto e lato da produção jornalística e cultural; em segundo, por relacionar jornalismo cultural à cultura letrada, erudita, ou ilustrada (adjetivo, aliás, que nomeia o caderno de cultura da Folha de S. Paulo, chamada de Ilustrada); em terceiro, por ser considerado um espaço de debate intelectual, sendo, assim, fora do campo jornalístico. Portanto, para Rivera (2003), o jornalismo cultural situa-se em uma zona heterogênea, tanto de meios quanto de produtos, e aborda os bens simbólicos – campo das belas artes, letras, cultura popular e as ciências sociais e humanas –, sob diversos propósitos: analisar, divulgar, entreter, tendo sempre em vista a produção, circulação e o consumo desses bens. Desta forma, a sua área de atuação é ampla, sob o ponto de vista formal, de suportes e de conteúdo. Diferente da definição de Jorge Rivera, Sérgio Luiz Gadini busca abandonar as generalizações que o conceito de cultura pode oferecer. Para 40 tanto, centra o seu conceito nas categorias de conteúdo do jornalismo cultural: literatura, música, cinema, teatro, artes plásticas etc. Compreende-se por Jornalismo Cultural os mais diversos produtos e discursos midiáticos orientados pelas características tradicionais do jornalismo (atualidade, universalidade, interesse, proximidade, difusão, objetividade, clareza, dinâmica, singularidade, etc) que ao pautar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, refletem/projetam (outros) modos de pensar e viver dos receptores, efetuando assim uma forma de produção singular do conhecimento humano no meio social onde o mesmo é produzido, circula e é consumido. (GADINI, 2004, p. 1). Entretanto, ao se prender às seções do jornalismo cultural e à prática jornalística, Gadini peca ao deixar de investigar, de modo mais incisivo, o objeto de que fala essa especialização do jornalismo, no caso, a cultura, posição oposta à abordagem de Jorge Rivera. Para o pesquisador argentino, a evolução do campo do jornalismo cultural combinou-se a duas concepções de cultura: a antropológica e a ilustrada, o que a faz oscilar, como já mencionado, entre o sentido restrito e um mais geral. Numa visão antropológica, cultura compreende todo o conhecimento de um povo, seus costumes, suas tradições. Através desse prisma, o crítico e ensaísta Alfredo Bosi (2003, p. 319) afirma a cultura como "conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada formação social". Entretanto, como afirma Rivera, o recorte feito pelo jornalismo cultural, via de regra, também aborda a cultura como sinônimo de ilustração, educação, refinamento e conhecimento estético, aproximando-se, dessa maneira, do projeto iluminista de difundir o pensamento intelectual, o saber e bens culturais produzidos a partir do pensamento romântico do século. Sendo assim, Rivera (2003) compreende o jornalismo cultural como um campo em que coexistem essas duas concepções de cultura. Em A ideia de cultura (2005), Terry Eagleton analisa a etimologia da palavra cultura e suas mudanças através do tempo. O sentido da palavra mudou, assim como seu uso. Já foi empregado para se referir ao cultivo na agricultura, pois “um de seus significados originais é ‘lavoura’ ou ‘cultivo agrícola” (EAGLETON, 2005, p. 9), assim como, com o decorrer do tempo, passou a se referir ao cultivo de aspectos cognitivos. O que era considerado 41 um termo concreto passou a ser uma abstração relacionada às questões do intelecto. Nesse caso, cultura seria aquilo que nos rodeia e usamos para cultivar nossos conhecimentos. Cultura, então, é o verso inconsciente cujo anverso é a vida civilizada, as crenças e predileções tomadas como certas que têm de estar vagamente presentes para que sejamos, de alguma forma, capazes de agir. Ela é aquilo que surge instintivamente, algo profundamente arraigado na carne em vez de concebido na mente. (EAGLETON, 2005, p. 46) Para o autor, não refletimos sobre as próprias crenças ou costumes, apenas agimos balizadas pela cultura que se encontra internalizada, incorporada, o que faz com que pareça “natural”. Nesse caso, não poderíamos racionalizar sobre a cultura. Essa preferência por uma identidade cultural em vez de outra é irracional. (...) O racismo e o chauvinismo, que procuram justificar essa preferência com base na superioridade de uma identidade cultural sobre outra, são apenas tentativas espúrias de racionalizá-las. (EAGLETON, 2005, p. 89) Dessa forma, só identificamos outras culturas como tais porque não a vivenciamos, não estamos inseridos nela, uma vez que a nossa cultura está internalizada. De forma mais clara, não consideramos que vivemos em uma cultura, pois essa é inerente à nossa existência. Vale lembrar que “todas as culturas estão envolvidas umas com as outras; nenhuma é isolada e pura, todas são híbridas, heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas e não monolíticas” (EAGLETON, 2005, p. 28). Sendo assim, para Eagleton, aceitamos esse Outro a partir do momento em que negociamos a contradição, evitando enxergá-lo como homogeneizado: “Toda cultura, portanto, tem um ponto cego interno em que ela falha em apreender ou estar em harmonia consigo mesma.” (EAGLETON, 2005, p. 139). Quando entendemos esse aspecto, conseguimos apreender melhor essa cultura. E são os sujeitos que não estão inseridos em uma cultura que conseguem enxergá-la a partir de um excedente de visão. Quando estamos inseridos em uma dada cultura, a propensão é ver tudo como norma. Na maioria das vezes não questionamos porque existimos, agimos de certa forma 42 e não de outra. Além do que, muitas vezes nem percebemos a razão dos nossos modos de agir. Tal percepção só ocorre na medida em que comparamos o nosso modo de existir com outros. A ideia de cultura proposta por Eagleton ajuda a entender o nível de autoconsciência na revista Língua Portuguesa, isto é, nela os modos de viver, agir e pensar veiculados pelo periódico são tomados como naturais ao não serem postos em confronto com outras possibilidades. Mas como isso seria possível? Em relação ao objeto dessa pesquisa uma matéria comparando a literatura escrita com a oral serviria para repensar a literatura como a arte da palavra escrita e como autor. Quem seria o autor nos contos orais? Como determinar a origem de uma narrativa oral? Como uma narrativa não possui um autor, uma assinatura? Indagações não possíveis ao observarmos apenas a cultura veiculada na Língua, já que o autor e a origem são tomados como “óbvias” dentro do modo de vida difundido no periódico. Nesse caso, outras possibilidades narrativas lançariam novos questionamentos para as produções textuais que são abordadas pela revista, auxiliando, dessa maneira, na compreensão e alargamento dos próprios costumes e práticas. Voltando à definição de jornalismo cultural proposta por Rivera, essa, ao invés de restringir a área de atuação, amplia. Enquanto as outras editorias buscam a informação, a descrição, o contraditório, os fatos, nas publicações de cultura o tema, a matéria recebe um viés interpretativo, opinativo, analítico, crítico, em que é importante o sujeito que escreve, não havendo, portanto, a imposição do discurso de objetividade. Assim, o jornalismo cultural pode ser visto como uma especialização, fruto da necessidade da imprensa em atender a um público segmentado, que se interessa por temas da cultura tratados com mais profundidade do que se costuma observar no jornalismo diário. Ressaltese que essa abordagem vai muito além da divulgação dos produtos das chamadas sete artes ou da veiculação do entretenimento. É a comunhão entre as acepções de cultura, pois, como afirma Rivera (2003), que essa especialização jornalística consegue lidar bem com as produções simbólicas populares, eruditas e de massa. A Língua Portuguesa materializa essa organização. Diferente de publicações como Cult e Bravo – esta divide as seções da revista de modo próximo às categorias de conteúdo propostas por Gadini –, que apresentam um 43 sentido stricto de cultura, considerando o conteúdo das matérias e o público alvo, Língua Portuguesa busca uma visão mais abrangente, isto é, antropológica e erudita. Tal afirmação é possível observando, entre outros índices, as capas e os temas das suas matérias. Enquanto a capa da revista nº 3, de 2005, traz o consagrado escritor José Saramago, que está inserido na cultura erudita, a capa da publicação nº 16, de 2007, traz o compositor de rap Gabriel Pensador, que ganha destaque. É importante salientar que uma publicação cultural necessariamente não precisa falar de todos os aspectos da cultura, pois, como afirmam Piza, Gadini e Rivera, cada publicação tem seu público alvo e deve se concentrar em se comunicar com ele, sem deixar de lado sua função educacional, isto é, em tentar contribuir com a formação e aumento do repertório do leitor. O recorte temático de uma publicação cultural, como é a Língua Portuguesa, depende da abrangência do projeto editorial. Nesse sentido, Rivera hierarquiza os graus de especialização. A cultura superior se caracteriza, de modo geral, por repertórios restritos de caráter linguístico, histórico, artístico, filosófico, entre outros, que não se propõem à divulgação, mas a uma abordagem acadêmica, uma investigação teórica alicerçada pelo conhecimento científico ou o exame de uma obra canônica. Na cultura tida como baixa, as ofertas temáticas são mais limitadas: crônicas esportivas, pornografia, literatura macabra. A cultura média, talvez a zona mais expansiva da invenção da imprensa – é a que oferece, em troca, maiores possibilidades de heterogeneidade e misturas. Condicionada pela exemplaridade modelar da cultura superior, é responsável pela intensa massa de adaptações, textos de divulgação, revistas, projetos editoriais, coleções fasciculares e outros artefatos destinados a reconhecer, sintetizar e difundir os patrimônios do conhecimento nas esferas mais variadas, e daí a frondosidade potencial de seus repertórios temáticos, que atravessam, sem sentimento de culpa, as culturas clássicas, as vanguardas, a atualidade, os meios massivos, as literaturas marginais, as ciências políticas, as questões substanciais das ciências "duras", etc. etc (RIVERA, 2003, p. 29-30). Tendo em vista a estratificação temática proposta por Jorge Rivera, podemos inserir Língua Portuguesa na categoria de cultura média, uma vez que não se propõe a discutir novas teses nem examinar uma obra de arte 44 exaustivamente, mas, como afirma em seu primeiro editorial, ser um veículo de aperfeiçoamento intelectual, de discussão da língua, mediando o contato do leitor com o conhecimento científico. Sendo assim, essa revista tem a pretensão de “reconhecer, sintetizar e difundir os patrimônios do conhecimento” produzidos pelos estudos acadêmicos da área de Letras. Com isso, consegue caminhar pelas culturas clássicas, vanguardas, produtos de massa, ressaltando, é claro, que o conhecimento acadêmico vinculado na revista é o instituído. Portanto, o público a que se destina não é o dos especialistas, mas o “médio”, aquele que possui certo conhecimento geral, não aprofundado e que não teria habilidade nem interesse de compreender uma publicação que se destina à cultura superior, seja pela falta de conhecimento, seja pela ausência de domínio dos jargões acadêmicos. 45 2. LENDO A LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA Na revista Língua Portuguesa, em diferentes seções, três perspectivas orientam um entendimento de literatura. Pela primeira, a literatura é concebida, metonimicamente, como parte da língua, do idioma de um povo. Tudo que diz respeito à literatura diz respeito à língua, pois esta é o material com o qual o artista cria sua arte e, afinal, é uma revista sobre língua. Tal visão se estende na vinculação da literatura à ideia de nação. Pela segunda, prevalece uma visão imanentista das produções literárias ao se explorarem nas análises aspectos supostamente intrínsecos à obra ou relacionados ao processo de escrita. Em terceiro, a literatura centrada no escritor, figura que na revista atua como força centrípeta, uma vez que é responsável pela concepção da estrutura da obra, assim como é o que “melhor” domina a língua. Dessa forma, no processo de figuração da literatura, Língua Portuguesa incorpora tais perspectivas, que não se encontram estanques, imiscíveis entre si, podem estar entrelaçadas. É importante salientar que a literatura não se encontra entre as folhas dessa revista por causa dos escritores ou por ser a narrativa primordial da nação, mas porque o meio pelo qual ela se expressa é a língua. Uma coisa é o porquê de a literatura e a figura do escritor serem veiculados, outra é a figuração central da literatura. São questões diferentes. Ao estampar um escritor na capa, o periódico ativa referências não linguísticas que permeiam o imaginário, a memória do leitor, como temas, obras, passagens. Contudo, tal ativação faz parte da estratégia, por parte da revista, de sedução dos leitores, que buscam, sobretudo, informações sobre a língua portuguesa. Na Língua Portuguesa, a principal figuração encontra-se na concepção de literatura centrada no autor. Tal afirmação é possível ao se constatar algumas características desse periódico: o escritor é apresentado ao público como figura identitária da revista, é o ícone do uso do idioma; a entrevista, ou matéria de capa não versa só sobre o idioma, havendo questões de ordem temática e, principalmente, da história de vida do entrevistado; a seção Frases é a única que não tange discussões sobre o idioma, sendo os enunciados escolhidos mediante a importância de quem as pronunciou, logo, do autor; a presença forte da ideia de gênio. O foco no autor se confirma, basicamente, 46 através de cinco seções: Figuras da Linguagem, Frases, Versão brasileira, Obra aberta e Técnica. A origem da palavra literatura remete ao vocábulo latino litteratura, que, por sua vez, tem origem no radical littera, que significa saber oriundo da arte de escrever. Na Europa, a palavra literatura, até o século XVIII, remetia ao conhecimento, ao saber, às artes e ciências em geral. Quando se queria designar as produções textuais que hoje são classificadas como literatura, utilizavam-se palavras como “verso”, “poesia” e “prosa” (COMPAGNON, 2006; SOUZA, 2009; TODOROV, 1980). O sentido atual da palavra literatura é bem recente, data do século XIX, e em outras línguas, como em muitas africanas, não há um termo genérico para designar todas as produções literárias. Entretanto, segundo Tzvetan Todorov (1980), uma noção pode existir sem que “lhe corresponda nenhuma palavra precisa do vocabulário” (p. 12). Tal relação, segundo esse pesquisador, lança dúvida ao caráter “natural” da literatura. Em O demônio da teoria (2006), Antoine Compagnon observa que, qualquer que seja a abordagem sobre a literatura, esta sempre se posiciona em uma dicotomia: o texto como documento – visão histórica e extraliterária – ou texto como fato da língua – visão linguística e literária, a arte da linguagem. Porém, segundo o autor, nenhuma dessas abordagens consegue definir o que é o texto literário: “emprega-se, frequentemente, o adjetivo literário, assim como o substantivo literatura, como se ele não levantasse problemas, como se se acreditasse haver um consenso sobre o que é literário e o que não é” (p. 29). Para Todorov, a certeza de que a entidade literatura existe vem da experiência, uma vez que a estudamos na escola, na universidade e nas livrarias há um local reservado para ela. Sendo assim, a entidade literatura “funciona ao nível das relações intersubjetivas e sociais” (TODOROV, 1980, p.12). Esse fato apenas demonstra que em uma sociedade, em uma cultura, há um elemento identificável ao qual nos referimos com a palavra literatura. Por outro lado, tais elementos identificáveis como literatura não possuem uma natureza comum. Buscando entender a construção de conceitos sobre literatura, Todorov divide as possibilidades de conceituação em dois eixos: funcional, apreendida na experiência cotidiana, produto das relações sociais, e são numerosas, e a estrutural, concernente à “natureza”, à “essência” que os elementos 47 identificáveis como literatura possuem. Vale ressaltar que a entidade funcional não corresponde necessariamente à estrutural e se aproxima muito, no que tange à sua natureza, ao conceito de representação social proposto por Serge Moscovici, uma vez que é produzida socialmente e funciona na relação entre sujeitos. Todorov (1980) se debruça com maior vigor sobre a entidade estrutural da literatura, isto é, o que diz que é e não o que ela faz. Sendo assim, examina os dois tipos mais frequentes de soluções propostos para a questão da “essência” da literatura, ou, como denomina o autor, a entidade estrutural da literatura. A primeira definição estrutural, adotada desde a Antiguidade, com variações de termos ao longo dos anos, diz respeito ao caráter ficcional da literatura. Entretanto, Todorov questiona se essa definição não está substituindo uma consequência daquilo que é a literatura por sua definição. Nada é preciso mudar em sua composição, mas apenas dizer que não estamos interessados em sua verdade e que a lemos ‘como’ literatura. Pode-se impor uma leitura ‘literária’ a qualquer texto: a questão da verdade não será colocada porque o texto é literário. (TODOROV, 1980, p. 14). Nesse caso, a ficção seria mais uma propriedade da literatura do que sua definição. E ainda assim, uma propriedade que não se observa em todo texto tido como literário. Utiliza-se a palavra ficção para o romance, a novela, o drama, mas não para a poesia. Esta não é fictícia nem não-fictícia, uma vez que a poesia nada conta, nem designa evento algum, não evoca qualquer representação exterior, mas formula impressões, meditações, bastando-se a si mesma. Portanto, se tudo aquilo que se denomina de literatura não é obrigatoriamente ficcional, o inverso também ocorre, nem toda ficção é literatura (TODOROV, 1980). Terry Eagleton (2006) problematiza diferentes noções e conceitos de literatura e defende a tese de que tais conceitos nunca são metafísicos, mas funcionais, servem a uma determinada época, a determinados interesses. Entre os conceitos discutidos está o de ficção, e, neste caso, o autor chega à mesma conclusão que Todorov: ficção não serve como conceito ontológico de literatura. Para tal, questiona a distinção entre “fato” e “ficção”, observando que 48 a palavra “novel” foi usada na língua inglesa entre o fim do século XVI e início do XVII tanto para os acontecimentos reais como para os fictícios e que as notícias de jornais poderiam ser consideradas fatos. A segregação que atualmente se faz entre essas categorias não era aplicada nesse período. Portanto, a definição de literatura está relacionada ao modo como um leitor se porta diante de um livro e não à natureza daquilo que é lido (EAGLETON, 2006). Então, para ser estrutural, segundo Todorov (1980), o termo imitação tem seu sentido ampliado, o que o torna vago, exigindo, assim, um complemento, uma especificação: a imitação deve ser artística. Surge, portanto, a segunda grande definição de literatura: “é a linguagem nãoinstrumental, cujo valor está nela mesma, ou como diz Novalis, uma expressão pela expressão” (TODOROV, 1980, p. 15). Tal definição surge no século XVIII, ligada à noção de belo, aqui entendido como realização de si, sendo defendida pelos românticos alemães e se tornará, segundo Todorov (1980), a base das primeiras tentativas modernas para criar uma ciência da literatura. Seja no Formalismo Russo ou no New Criticism americano, é sempre do mesmo postulado que se parte. É a função poética que enfatiza a própria mensagem. Ainda hoje, é a definição dominante, mesmo que sua formulação varie. (p.16). Entretanto, para Tzvetan Todorov (1980), essa conceitualização de literatura não merece ser qualificada como estrutural, pois busca o que a poesia deve fazer e não o que é. Esse enfoque funcional foi completado por um ponto de vista estrutural: o caráter sistêmico, isto é, o termo belo foi substituído por forma, que, por sua vez, deu lugar ao termo estrutura. A literatura, então, seria um sistema que chama a atenção para si própria, tornando-se autotélica. Todorov faz duas críticas a essa noção de literatura. A primeira refere-se à estrutura: a linguagem literária não é a única sistemática, outros domínios também possuem uma organização rigorosa, inclusive até mesmo o emprego de mecanismos idênticos, como rima e polissemia. A outra crítica versa sobre o fato de que nem todo romance tem como finalidade a linguagem. Esta proposta serve para determinados projetos estéticos, como o de James Joyce ou o do 49 nouveau roman. Em contrapartida, a estética do realismo busca representar objetos, eventos, ações, personagens. A linguagem, nessa estética, portanto, chama a atenção para o mundo representado e não para si mesma. Corroborando com as críticas proferidas por Todorov sobre a concepção de literatura como forma peculiar da linguagem, Eagleton (2006) afirma que pensar a literatura, tal como fizeram os formalistas russos, é reduzi-la, em sua totalidade, à poesia. As consequências estruturais desses enfoques funcionais são a tendência ao sistema e a valorização de todos os recursos simbólicos do signo. Observando a relação dos dois elementos que compõem o conceito de literatura analisado, Todorov (1980) afirma que não há uma implicação lógica entre ficção e autotelismo. Essas foram engatadas sem serem relacionadas; dão conta de muitas obras qualificadas como literárias, mas não de todas, e a relação entre elas é de afinidade e não de implicação, o que mantém o termo vago e impreciso. Além disso, afirma que o contraste entre linguagem literária e não-literária não é válido, uma vez que a não-literária não é homogênea, cada discurso possui o seu sistema, tese defendida também por Terry Eagleton (2006). Em sua busca por um conceito estrutural de literatura, Todorov deixa de lado um aspecto importante: o julgamento de valor. Para Eagleton (2006), o julgamento tem relação direta com o que se considera literatura. Não há obra ou tradição literária que seja valiosa em si, uma vez que a valoração ocorre em situações específicas, à luz de determinados objetivos, de acordo com certos critérios. Portanto, mudando-se os pressupostos com os quais se julga uma obra, muda-se a hierarquia, o seu posicionamento dentro de uma cultura ou mesmo a sua classificação como obra literária ou não. Vale ressaltar que tais critérios modificam-se no tempo e no espaço. Diferentes períodos históricos constroem “diferentes” obras, de acordo com seus próprios interesses. “Todas as obras literárias, em outras palavras, são “reescritas”, mesmo que inconscientemente, pelas sociedades que as leem; na verdade, não há releitura de uma obra que não seja também uma ‘reescritura’” (EAGLETON, 2006, p. 19). Essa é uma das causas pela qual a classificação de qualquer objeto cultural como literatura torna-se instável. Desse modo, a literatura, para o autor, seria um tipo de escrita altamente valorizada, não resultante de uma essência, 50 mas do sistema de juízo de valor de uma determinada sociedade. Tal conceito explica a falta de características comuns entre os vários tipos de textos que se encontram dentro do que chamamos literatura. Para Eagleton, esse sistema de valores, em grande parte inconsciente, que informa e evidencia as afirmações fatuais, é uma parcela da ideologia. Eagleton entende por ideologia a “maneira pela qual aquilo que dizemos e no que acreditamos se relaciona com a estrutura do poder e com as relações de poder da sociedade em que vivemos” (2006, p. 22); como sendo as formas de sentir, avaliar, acreditar e perceber, que de algum modo, se relacionam com a reprodução e manutenção do poder social. Segue um caminho semelhante o crítico literário Roberto Reis em seu estudo sobre o cânone. Para Reis, o conceito de literatura é ideológico e tem cumprido uma clara função social: no século XIX foi empregado para legitimar o indivíduo e a burguesia, e mais tarde, valorizar certo tipo de escrita, praticada pelas elites letradas. Um texto não é literário porque possua atributos exclusivos que o distinguem de outro texto, mas porque os leitores (entre eles incluídos os críticos), por inúmeras razões, o veem como tal. Assim dimensionada, a literatura se converte numa forma de práxis discursiva e social, não apenas representando mas também criando a realidade. (REIS, 1992, p. 72). Portanto, apesar da literatura não ser uma categoria “objetiva”, como demonstram Todorov, Eagleton e Reis, também não é subjetiva, pois o conceito de literatura não tem relação com os interesses individuais, mas com julgamentos de valor. Esses juízos têm raízes em ideologias sociais e se referem aos critérios pelos quais certos grupos sociais exercem e conservam o poder sobre outros, sendo assim, intersubjetiva. Língua Portuguesa confirma a ausência de um conceito objetivo da literatura ao acolher visões diferentes acerca dessa prática de escrita, reafirmando, dessa maneira, o caráter privilegiado da escrita literária, o seu prestígio. Basicamente, para o periódico a literatura se define por ser uma literatura não-pragmática; numa operação metonímica, a literatura é o autor e sua obra; e ainda, representa a nação. Na Língua Portuguesa a ideia de literatura como uma produção textual que representa a nação circula na capa do periódico, em alguns editoriais ou pode se fazer presente, no entendimento da revista, em obras que foram 51 escolhidas para análise na seção Obra Aberta. Segundo Zilá Bernd (2011), a literatura teve um papel exponencial no projeto de construção da identidade nacional por ser um texto privilegiado, na medida em que pode conter outros textos, como o filosófico, científico, o histórico etc. Certamente nem todos os textos literários serão chancelados para compor o cânone brasileiro. Mas quando a literatura se torna nacional? Para Luiz Costa Lima (1996), os termos literatura (na acepção moderna) e Estado-Nação são historicamente distintos. No século XVI já estava constituído o dispositivo político, simbólico e jurídico que sustenta e justifica o poder do Estado. No entanto, a literatura, em seu sentido moderno, só se configura nas décadas finais do século XVIII. Contudo, esse hiato não impediu os Estados nacionais europeus, que disputavam a hegemonia no continente, de se apropriarem e utilizarem a literatura como arma antes do fim do século XVIII. Sendo assim, o Estado se apodera da literatura antes mesmo dela “se apresentar como o território próprio e por excelência do sujeito individual” (LIMA, 1996, p. 33). As consequências dessa apropriação são variadas e extensas, uma delas, afirma Lima (1996), diz respeito ao controle do imaginário. Tal controle seria feito através de uma legislação específica referente à literatura. Isto é, havia uma política poética que legislava partindo de categorias como tempo, uso da linguagem, o privilégio de certos recursos em detrimento de outros, a obediência aos limites da verossimilhança. Com o advento do romantismo, surge uma nova proposta poética – que, em sua origem, é revolucionária –, constituída basicamente de dois critérios: o sujeito criador e o não-pragmatismo da arte. Entretanto, afirma Costa Lima (1996), no romantismo normalizado tais critérios serão controlados. “O romantismo normalizado pode ser definido como aquele que ajusta a ideia de expressão individual ao espírito do povo, nele incluindo o poeta, cuja obra refletiria o estágio de civilização alcançado por seu país” (p. 35). Logo, o escritor era tomado como parte do todo ao qual pertencia e cujo modo de ser refletiria a identidade da nação, assegurando, dessa maneira, as condições de prestígio da literatura nacional. A partir desse momento, e ao longo do século XIX, a literatura se torna veículo pelo qual se educa e se forma o indivíduo. “O Estado-nação que se 52 preza exibe entre seus títulos um elenco de escritores, difundido por antologias e apreciações biográfico-interpretativas. É uma das tarefas do Estado a propagação da literatura enquanto nacional” (LIMA, 1996, p. 35). Observa-se, desse modo, o uso da literatura, pelo Estado, como um dos mecanismos de perpetuação de uma identidade nacional pautada na obra e no autor. Segundo Benedict Anderson, a nação é uma comunidade política imaginada – e imaginada como implicitamente limitada e soberana. Ela é imaginada porque nem mesmo os membros das menores nações jamais conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem os encontrarão, nem sequer ouvirão falar deles, embora na mente de cada um esteja viva a imagem de sua comunhão. (ANDERSON, 1989, p. 14). Portanto, as comunidades imaginadas constituem-se a partir do instante em que há uma identificação, uma vinculação imaginada entre os indivíduos que não se conhecem e que estão inseridos em uma dada época e espaço. Essa vinculação ocorre utilizando uma série de artifícios, como monumentos, elaborando mitos de origem, agrupando línguas vulgares em torno de uma única língua escrita, a literatura, entre outros. Todos esses mecanismos foram utilizados, segundo o autor, para criar uma consciência nacional nos séculos XVIII e XIX. Essa identidade nacional é elaborada a partir de narrativas, como afirma Zilá Bernd (2011). Definir-se é narrar. Uma coletividade, mesmo as imaginadas, ou um indivíduo se definiria utilizando histórias que ela narra a si mesmo sobre si. Um aspecto importante levantado por Anderson (1997) é a necessidade do narrar produzida pelo esquecimento de momentos significativos, isto é, o que não pode ser lembrado necessita ser contado. Vale ressaltar que, diferente dos indivíduos, as nações não possuem um ciclo de início, meio e fim. Tal ausência deixa transparecer a importância do discurso histórico, da biografia da nação, uma vez que o início e o fim da narrativa são arbitrários, dependem, assim, do momento inaugural eleito pelo historiador. Este o escolhe a partir dos seus interesses e valores. Dessa forma, defende Bernd, a identidade é indissolúvel da narrativa e consequentemente da literatura. Tomando por base as reflexões de Bernd, Lima e Anderson, pode-se observar a importância do discurso literário na construção da identidade 53 nacional, assim como as relações de poder na relação entre literatura e consciência nacional. No entanto, não basta narrar a nação recorrendo à literatura. Faz-se necessário legitimar essa literatura através de uma narração. Assim, a história da literatura como narração da biografia dos escritores e/ou da literatura nacional cumpre sua função legitimadora, justificando a importância e necessidade da literatura na consolidação da identidade cultural da nação. Todavia, é quase impossível abordar todos os escritores pertencentes a uma comunidade imaginada e inseri-los na narrativa historiográfica. Neste momento surge o cânone nacional, que será preenchido, como afirma Compagnon (2006), por escritores que “melhor” encarnam o espírito da nação, ideia muito presente em Língua Portuguesa. Na edição número 8 dessa revista, de junho de 2006, o escritor e compositor Chico Buarque é apresentado da seguinte maneira pelo editorial: “ele integra a geração que, nos anos 60, fez da afirmação nacional e da contestação à norma um índice de identidade criativa. Ele é ‘popular culto’ por excelência: uma obra para poucos fez dele celebridade da expressão brasileira” (p. 8). Sendo assim, o escritor é produto dessa comunidade imaginada e não só refletiria uma identidade nacional como a legitimaria ao afirmar a sua capacidade criativa. Tal fato o alçaria à condição de escritor canonizado. Para a revista, Chico Buarque é porta-voz da expressão brasileira ao narrar a nação, o que pode ser contestado, uma vez que esse compositor questionou de modo contundente uma concepção de nacional forjado pela ditadura militar. Ademais, no excerto do editorial uma implicação chama a atenção: o sucesso como escritor nacional estaria condicionado ao público a que se destina a obra, em outras palavras, em ser uma produção cultural direcionada a um grupo social, posto que Luiz Costa Pereira Júnior afirma ser sua arte destinada a poucos. Segundo Roberto Reis (1992), o conceito de cânon implica um princípio de seleção e, por consequência, de exclusão, não sendo possível, assim, se desvincular da questão do poder. Os que selecionam estão investidos de autoridade para tal, farão de acordo com seus valores, seus interesses de classe, grupo social ou cultural. Vale ressaltar que a utilização dessa autoridade ocorre em espaços institucionais, como escolas e universidades. O 54 cânone, portanto, seria um patrimônio da humanidade ou da nação, cujo valor é indiscutível e, por isso, deveria ser preservado para as gerações futuras. Todavia, como afirma Reis, não há critério de valoração que não esteja impregnado de relações de poder. Nesse caso, a revista, ao declarar que o escritor em questão produz uma obra destinada a um determinado segmento cultural, estimula e apoia uma visão de arte elitista, baseada na segregação, na arte para poucos. O conhecimento literário, assim, é visto como patrimônio e privilégio de um seleto grupo, operando, dessa forma, em uma razão cíclica em que o capital cultural se movimenta sempre dentro do mesmo conjunto, ou melhor, produz-se um sistema em que os produtos literários, sua apreciação, posse e fruição são universalizados, naturalizados como criação da elite cultural e a ela se destinam (BOURDIEU, 1994). Historicamente, a literatura é utilizada como veículo de transmissão cultural, sendo também uma das principais instituições de reforço das fronteiras culturais e barreiras sociais, criando privilégios e silenciamentos em uma sociedade. Entre as formas de divulgação de obras literárias estão os jornais, suplementos literários, currículos escolares e universitários, prêmios literários 17 e adaptações para outras mídias. Ao analisar a lista dos clássicos universais, nacionais e as críticas literárias que circulam no jornalismo cultural, constata-se a exclusão de produções textuais de diversos grupos étnicos, sociais e sexuais na composição do cânone literário nacional. Tal exclusão é observada na Língua Portuguesa. Das 26 matérias de capas, apenas três se referem a escritoras – Clarice Lispector, Nelida Piñon e Lígia Fagundes Telles –, o que corresponde a 11,5% do total. E constata-se, embora não se ignorem questões históricas que barraram as mulheres da esfera pública, que essas escritoras foram canonizadas pelas instâncias de sagração por trabalharem com temas ou estéticas valorizadas pelo grupo social, cultural que possui autoridade para legitimá-las. Dessa forma, o “cânone reflete os interesses e valores de classe” (REIS, 1992, p.77), a estrutura social e o projeto de identidade nacional elaborado pelas elites. 17 A referência a prêmios ganhos pelos escritores é uma constante em Língua Portuguesa, até para escritores que originalmente não pertencem ao cânone, como é o caso do rapper Gabriel, o pensador. A inserção desse autor na capa, locus do autor canonizado, é legitimada através do Jabuti – premiação promovida pela Câmara Brasileira do Livro e recebida pelo autor pela obra infantil, O garoto chamado Roberto, em agosto de 2006. A edição com o rapper foi às bancas em fevereiro de 2007. 55 Ao reiterar o cânone oficial e, por conseguinte, a identidade nacional proposta e defendida pelo grupo social hegemônico, Língua Portuguesa exerce uma função sacralizante, isto é, “unificadora, tendendo sempre ao mesmo, ao monologismo, ou seja, à construção de uma identidade de tipo etnocêntrica, que circunscreve a realidade a um único quadro de referências” (BERND, 2011, p. 20). As singularidades regionais, quando exaltadas na revista, não ameaçam a comunidade nacional; pelo contrário, constituem uma forma de riqueza do país e, por isso, merecedoras de enaltecimentos. Na edição número 15, publicada em 2007, ao abordar o romance Menino de engenho de José Lins do Rego, na seção Obra Aberta, a revista procura exaltar o regionalismo sempre em consonância com a valorização da nação. Publicado em 1932, Menino de Engenho é o romance de estréia de José Lins do Rego (1901-1957) e um dos mais importantes exemplos do regionalismo brasileiro do século 20. A transparência da linguagem desse relato autobiográfico de uma infância no Engenho Santa Rosa, em plena Zona da Mata nordestina, torna dispensável muitos esclarecimentos de vocabulário; no encontro do narrador com uma prima da cidade, é a arte do “não dizer”, levada com extrema sutileza por José Lins, o aspecto mais notável a comentar. Não podemos esquecer, é claro, da enorme contribuição dada ao país pela cultura nordestina. Principalmente na literatura. (LP, nº15, 2007, p. 34). Na análise do trecho do romance, a revista reitera essa relação entre o local e o nacional. O poder selvagem do cangaceiro, matador de onças, capaz de transformar-se em bicho, inverte-se agora: como era comum no Nordeste brasileiro, o bandido detém em suas mãos a administração da lei, da ordem e da justiça. O contraste entre civilização urbana e os costumes rudes do engenho, entre proibições e desejo, é resolvido magicamente na fantasia do menino, e surge como uma das mais delicadas declarações de amor da literatura brasileira. (LP, nº 15, 2007, p. 35). 56 Ao circunscrever a literatura em um único quadro de referências, pela lógica da exclusão, e relacionar o escritor à ideia de nação18, a revista ativa uma memória coletiva. Essa é produzida e legitimada, nesse caso, na universidade, local originário, tanto de quem assina as matérias (docentes universitários), quanto de quem as lê (público formado e em formação nas faculdades de Letras). Desse modo, tanto o periódico quanto o público leitor possui um quadro de referências semelhante na medida em que esse é produzido e legitimado no mesmo espaço. Compartilham, dessa maneira, dos mesmos valores e pressupostos, operando assim dentro de uma lógica cíclica. Tal lógica tem como consequência o silenciamento da alteridade, assim como das literaturas denominadas emergentes. Essas “novas” literaturas buscam representar uma memória coletiva ocultada pelo monologismo da historiografia oficial e, no estudo em questão, da revista Língua Portuguesa. Nesse sentido, Zilá Bernd afirma que as literaturas dos grupos discriminados “funcionam como o elemento que vem preencher os vazios da memória coletiva e fornecer os pontos de ancoramento do sentimento de identidade, essencial ao ato de autoafirmação das comunidades ameaçadas pelo rolo compressor da assimilação” (2011, p. 15). Portanto, a revista, ao adotar as práticas da ideologia humanista ainda cultivada em ambiente universitário, reitera a literatura produzida e consumida por um grupo social, tornando-a mais uma vez significante privilegiado da autoridade cultural. Outro ponto a assinalar é que a manutenção, pela Língua Portuguesa, da literatura como fonte essencial da narrativa nacional atende aos interesses dos grupos sociais dominantes, quando a história, a indeterminação, o presente provam o contrário, isto é, sabe-se que com a publicação de Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre, e da massificação do rádio, na Era Vargas, a imagem e o meio de propagação e veiculação da identidade nacional se deslocam da literatura para a obra de Freyre (o país passa a se narrar como uma democracia racial. Utilizando, principalmente, Casa Grande e Senzala e não mais apenas as obras literárias) e o rádio. Portanto, a literatura deixa de ser a produtora hegemônica dessa narrativa, assim como o meio pelo 18 Na edição de nº 26 de 2007, Vinícius de Moraes é apresentado como ícone da literatura brasileira. Na edição nº 24, Guimarães Rosa é considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. 57 qual ela se expressa – a palavra escrita – dá lugar à “oralidade” do rádio e, atualmente, às narrativas televisivas. A literatura enquanto linguagem não-pragmática é outra figuração veiculada da revista. Apresenta-se já na capa, ao resumir a atividade literária ao ato de escrever: “Nélida Piñon, A sedução da palavra: Mais aclamada autora do país mostra como a criação literária pode surgir dos desafios do idioma” (LP, nº 7, 2006); visão que se apresenta nos editoriais, nas matérias, nas análises. Portanto, vale ressaltar, a literatura, para a revista, é palavra, não é representação ou um retrato das relações sociais, ou meio para discussão existencial, humana. É verbo, como na chamada da edição nº 5, de 2006: “o verbo GULLAR”; ou na apresentação do poeta Vinícius de Moraes: “Reinventar a língua. Um grande poeta não quer menos que isso. E cada poema – mesmo que não aparente – tem como horizonte essa reinvenção” (LP, nº 26, 2007, p. 38). Essa concepção autotélica inicia-se no século XVIII com a estética iluminista, encarnada em seus diversos aspectos por Shaftesbury, Giambattista Vico, Alexander Baumgarten, Gotthold Lessing, Immanuel Kant, Benjamin Constant, que deslocou o centro de gravidade da imitação à beleza, afirmando a autonomia da arte (TODOROV, 2007). Essa independência é construída a partir da concepção do belo como um fim em si mesmo, sendo que a definição do belo encontrou a sua forma final na obra Crítica da faculdade de julgar (1790), do filósofo Immanuel Kant. O sociólogo Pierre Bourdieu (1994) constata que há várias definições do belo, mas todas são variantes da proposta de Kant, que afirma que a função da arte é não possuir função. Entretanto, diferente do que possa parecer, a estética iluminista, segundo Todorov (2007), apesar de defender a autonomia da arte, nunca ignorou a relação que liga as obras ao real: a arte ajuda a conhecer e agir sobre o mundo. A poesia, no caso, revelaria a individualidade de cada coisa; é concebida como um conhecimento sensível a todos. A mudança na relação obra/mundo tem, segundo Todorov (2007), ligação com as transformações ocorridas pela sociedade europeia da época. “O artista deixa progressivamente de produzir suas obras mediante a encomenda de um mecenas, destinando-as então, ao público que as adquire: é 58 o público quem passa a ter as chaves de seu sucesso” (TODOROV, 2007, p. 53). Essa perspectiva abandona o ponto de vista do criador como centro das discussões estéticas, – uma vez que do Renascimento até o século XVII o artista era comparado a Deus, pois ambos criam mundos. No caso do artista, um microcosmo –, para adotar o receptor que só tem um único interesse: contemplar belos objetos. Isso possibilitou organizar as artes, que até então estavam ligadas cada uma à sua prática de origem, em torno de uma mesma categoria: a contemplação desinteressada. Toda arte, a partir desse momento, passa a ser definida como aspiração ao belo, privilegiando, assim, a percepção em detrimento da criação. A transformação social de que trata Todorov é explorada de forma mais ampla por Pierre Bourdieu. O pensador afirma que a autonomia do campo artístico, ocorrida no século XIX, está intimamente ligada à alteração do entendimento da engrenagem que envolve a produção, circulação e o consumo do material artístico, assim como pela transferência da criação artística da coisa representada para a própria obra. Nesse sentido, conforme Bourdieu, contribuíram muito os projetos estéticos de Baudelaire, Flaubert e Manet, em busca de uma poética da arte pura. Essa busca, segundo o autor, procura libertar o fazer artístico das instâncias de legitimidades externas. A literatura, a partir de então, passa a ser lida pelos profissionais – professores, críticos e escritores – através de um pressuposto básico: o interesse pelas proezas técnicas de seus criadores. Tal pressuposto criou um fosso: de um lado, a literatura de massa, e do outro, a artística. Fazer sucesso comercial torna-se sinônimo de pouca arte, provocando o silêncio e o desprezo da crítica especializada. Essa ideia, segundo Compagnon (2006), trouxe um aspecto formalista, muito mais familiar hoje do que o conceito de belo. A abordagem formal tem como pilar central a separação da singularidade da língua literária em relação ao uso comum. Há numerosas maneiras de se apreender essa dicotomia: a linguagem literária é mais conotativa, e a cotidiana, mais denotativa; a cotidiana, mais espontânea, enquanto a literária, mais sistematizada, e assim sucessivamente. Portanto, a concepção de literatura pelo prisma formalista se define pelo uso do material linguístico sem um fim prático, auto-referencial. É a 59 arte verbal. Essa mudança de perspectiva também é analisada por Michel Foucault, em As palavras e as coisas (2000). Segundo Foucault, a literatura, do romantismo a Mallarmé, fecha-se em uma intransitividade radical, e a única lei é afirmar sua árdua existência e o seu conteúdo é a própria forma, a aplicação de certas propriedades da linguagem. Os formalistas, entre os quais estavam Vítor Chkolvski, Roman Jakobson, Osip Brik, Yuri Tynyanov, Boris Eichenbaum e Boris Tomashevski, surgiram na Rússia antes da revolução de 1917. Suas ideias ganharam repercussão durante a década de 20 do século passado, até serem silenciadas pelo regime stalinista que se iniciava. Rejeitaram as doutrinas simbolistas que haviam dominado a crítica literária até aquele momento. Para isso, utilizaram um método científico que foi posto sobre a realidade material do texto, isto é, só a materialidade da linguagem literária importava. À crítica caberia, portanto, apenas compreender e explicar como os textos literários funcionavam na prática. A literatura, para esses teóricos, era uma forma particular de organização da linguagem e não sociologia ou psicologia. Sendo assim, tinha suas leis específicas, seus mecanismos e estruturas que deveriam ser estudados em si mesmos e não reduzidos a outra coisa qualquer (EAGLETON, 2006). A propriedade distintiva do texto literário foi denominada, pelos formalistas russos, de literariedade. Em 1919 Jakobson afirmaria o seguinte: “O objeto da ciência literária não é a literatura, mas a literariedade, ou seja, o que faz de uma determinada obra uma obra literária” (JAKOBSON apud COMPAGNON p. 41). Assim, os formalistas russos tentavam tornar o estudo literário autônomo em relação ao historicismo e ao psicologismo através do delineamento do seu objeto. Soma-se a isso o fato de se oporem à definição de literatura como documento, representação, expressão. Segundo Viktor Chklovski (1973), em A arte como procedimento, publicado originalmente em 1917, a literariedade é uma propriedade assentada no critério de desfamiliarização, ou estranhamento, isto é, a literatura reforma a sensibilidade linguística dos leitores através de procedimentos que desorganizam as formas internalizadas e habituais da sua percepção. Com isso, ocorrerá o processo que o pesquisador alemão Hans Robert Jauss, em A história da literatura com provocação à teoria literária (1994), chamou de 60 ampliação do horizonte de expectativa do leitor. Portanto, a essência da literatura, para os formalistas, estaria fundamentada em invariantes formais passíveis de análise (COMPAGNON p.41). Essa abordagem, apoiada pela linguística e pelo estruturalismo, fecha o estudo literário na questão verbal do texto (EAGLETON, 2006). A visão imanente e a concepção de literatura proposta pelos formalistas são encontradas na revista Língua Portuguesa nas seções Obra Aberta e Técnica, bem como nas entrevistas com os autores. Nessa última, o foco é sempre a língua, os usos ou mecanismos linguísticos empregados pelos autores ao compor uma obra. Essa concepção da literatura fica demarcada no trecho abaixo retirado da matéria de capa sobre Vinícius de Moraes, na qual afirma-se categoricamente que o destino da poesia é a forma, em outros termos, o uso peculiar da linguagem. Reinventar a língua. Um grande poeta não quer menos que isso. E cada poema – mesmo que não aparente – tem como horizonte essa reinvenção. Para tanto, há que se operar dentro da linguagem. O destino da poesia é a forma. (LP, nº 26, 2007, p. 38). Desse modo, ocorre uma separação, mesmo que tácita, entre prosa e poesia, tal como observa Todorov (1980), na medida em que não é a literatura que está condenada à forma, mas apenas uma de suas possibilidades textuais, o poema. Tal separação ganha novos contornos na matéria Caminhos até a poesia, da seção Técnica (edição de nº 26 de 2007), em que se afirma que a “poesia, em termos gerais, vai mais fundo que a prosa, formalmente” (nº 26 de 2007, p. 52). A diferenciação entre poesia e prosa, nesse caso, é balizada pela questão formal, reafirmando, de certa maneira, não haver aspectos estruturais unos na literatura. Voltando à citação extraída da matéria sobre Vinícius de Moraes, pode-se afirmar que a originalidade, a singularidade, não está em uma nova maneira de se conceber um tema já exaurido ou na inserção de um assunto não tão comum ao universo literário, mas essencialmente na reinvenção da linguagem. Nesse aspecto, reside a grandiosidade do poeta. Afinal, afirma o texto, todo poeta, ainda que inconscientemente, busca a reinvenção da língua. 61 O conceito de literatura proposto pelos formalistas não abarca todas as produções textuais ditas literárias, uma vez que os textos em prosa do realismo não buscam o estranhamento, assim como as narrativas de Jorge Amado ou de Lima Barreto não se afastam da linguagem cotidiana. Sem dúvida, é possível afirmar que tais exemplos podem ser inseridos em uma perspectiva formal, desde que a ausência de marca seja ela uma marca, isto é, que a desfamiliarização seja a familiaridade. Entretanto, essa inserção, esse estranhamento ocorre na diacronia de um gênero e não da relação dicotômica, dentro de uma sincronia, entre a linguagem literária e a cotidiana. O conceito de literariedade contempla um tipo de produção textual, mas não de toda a produção literária. Nesse caso, percebe-se que alguns dos escritores veiculados na revista são aqueles que seguem uma herança da modernidade estética: a consciência da linguagem. A palavra, para esses escritores, é um fim em si mesmo, como se pode depreender das entrevistas. Na edição nº 7 de 2006, em sua entrevista Nélida Piñon afirma que a paixão pelo idioma é essencial ao sucesso na literatura (p. 13). O mesmo acontece nas “chamadas” de capa em que a literatura é vinculada à figura do escritor e à língua: “O idioma de Drummond. No aniversário de vinte anos da morte do poeta, um balanço das palavras que só o escritor criou” (nº 23, 2007); “A sedução da palavra. Mais aclamada autora do país mostra como a criação literária pode surgir dos desafios do idioma” (nº 7. 2006); “Lygia Fagundes Telles. Em texto exclusivo, escritora discute as motivações que levam os autores a criar histórias e manipular o idioma” (nº 22, 2007); “O verbo de Gullar. Poeta conjuga novo livro e impulso de pensar um idioma que vê ameaçado pelo mau ensino” (nº 5, 2006). Sendo assim, a revista não expõe na vitrine só o autor consagrado, legitimado, que representa a nação, mas sobretudo um fazer literário restrito à forma, relacionado à língua. Destaquem-se autores que são matéria de capa, mas não seguem essa estética moderna, como o cartunista Ziraldo, o músico Antônio Nóbrega, o sociólogo Gilberto Freyre, o escritor Paulo Coelho ou o rapper Gabriel, o pensador. Entretanto, são sempre “vendidos”, postos na vitrine, tendo a estética moderna como parâmetro, uma vez que o enfoque da “chamada” na capa é sempre o trabalho com a linguagem, com a língua: “O moderno carnaval da linguagem. Antônio Nóbrega lança Cd e show em que pesquisa a 62 influência da palavra no frevo e diz que só manifestações populares são capazes de tirar o pó da cultura brasileira” (LP, nº 15, 2007); na edição nº16, de 2007: “Poesia da fala urbana. Premiado com um jabuti em literatura infantil, Gabriel O pensador descreve os malabarismos do próximo CD para adaptar sua linguagem de rapper às crianças”; na edição nº 25 de 2007: “Gilberto Freyre. Exposição no museu da língua Portuguesa revela a importância da linguagem de um dos maiores estudiosos da cultura e da sociedade brasileira; na edição nº10 de 2006: “Afinal, ele escreve bem? O que torna o texto de Paulo Coelho estimado, enquanto outros do mesmo gênero caem na vala comum? Os segredos retóricos de um autor popular que quer prestígio intelectual”. Assim, a reiteração da relação entre o fazer literário pautado no culto à forma e à língua, presente nas “chamadas”, é um índice que denuncia parte do sistema inconsciente de juízos de valor. A abordagem da literatura enquanto língua é uma política do periódico. No editorial publicado na revista Língua Portuguesa nº 18, 2007, o editor-chefe Luiz Costa Pereira Júnior afirma: Em literatura, dizia Manuel Bandeira, a poesia está nas palavras, se faz com palavras e não com ideias e sentimento, embora seja a força do sentimento ou a tensão do espírito que promovem determinadas combinações de palavras “onde há carga de poesia”. A poética cultural – não apenas a literária – se instaura quando toda explicação sobre uma obra deve ser buscada nela mesma, sem necessidade de interpretações fora dos seus limites. (LP, nº 18, 2007, p. 5) Portanto, o caráter autotélico, o estudo imanente é defendido como princípio editorial pela revista, uma vez que esta se propõe a realizar o que o editor-chefe chamou de poética cultural. Essa abordagem não ocorre só em relação à literatura, mas a todos os produtos culturais, como no caso dos quadrinhos. Afinal, “sua existência talvez passe longe da vista, mas sua riqueza de possibilidade já tem sua tradição, não só em nosso idioma. É uma estruturação de signos a ser testada por poetas, professores e estudantes de português” (nº 18, 2007, p. 5). Logo, o aspecto formal é um pressuposto básico no momento de valoração de uma obra pela revista, sendo aplicada independente do suporte ou do projeto estético do artista. 63 Como dito anteriormente, a abordagem da literatura em seu aspecto formal, na revista, não se restringe ao discurso sobre a escrita do autor. Um exemplo de análise imanentista encontra-se na edição nº 23, de 2007, cuja matéria de capa é Carlos Drummond de Andrade. Nela reproduz-se uma análise do poema Áporo19, de autoria desse poeta, feita originalmente por Décio Pignatari em Contracomunicação, livro publicado em 1971. Eis a interpretação de Pignatari: Múltiplos sentidos. No poema, as marcações em negrito mostram as aliterações (repetições de som) de consoantes fricativas, a acentuar a ideia de um inseto sendo formado; as marcações sublinhadas mostram uma trilha de consoantes oclusivas, que fortalecem a sinonímia da palavra-título com a orquídea. Com isso, Drummond materializou o percurso de sentido do inseto e o da orquídea que convivem na palavra áporo. (LP, nº 23, 2007, p. 49) Nessa análise, ocorre uma aplicação do método formal, produzido na área da linguística, ao estudo da literatura, orientado pelo estruturalismo, muito em voga nos anos 1970. Dessa maneira, preocupa-se com as estruturas da linguagem e não com o que ela de fato poderia dizer. Tal possibilidade de produção de sentido ficaria a cargo da análise externa do “conteúdo literário”, podendo haver, em tal perspectiva, a possibilidade e a tendência de se recorrer à sociologia e à psicologia, por exemplo. Na análise do poema, encontra-se o uso de jargões técnicos do campo da linguística – consoantes fricativas e consoantes oclusivas –, produzidos por um ramo específico da linguística: a fonética. Esta estuda os fatos físicos que caracterizam, linguisticamente, os sons da fala humana (CAGLIARI, 2002). Portanto, a análise do poema fica restrita a constatações técnicas baseadas no uso dos conceitos elaborados na área dos estudos de língua. Ademais, essas constatações técnicas, como afirmam Rallo (2005) e Todorov (2007), devem ocorrer em função de um sentido. Para a autora, há um 19 Um inseto cava/ cava sem alarme/ perfurando a terra/ sem achar escape./ Que fazer, exausto,/ em país bloqueado,/ enlace de noite/ raiz e minério?/ Eis que o labirinto/(oh razão, mistério)/ presto se desata:/Em verde, sozinha,/ antieuclidiana,/ uma orquídea forma-se. 64 salto metodológico e lógico entre a interpretação e a descrição formal. Esta, por mais objetiva, precisa e neutra que seja não diz nada enquanto não se coloca em jogo uma interpretação global do texto em questão, o que não ocorre na análise imanentista veiculada na revista, pois deixa o texto engessado e separado da vida. No comentário do poema Áporo, afirma-se que as possibilidades de significado para a palavra áporo servem de pretexto para compor um “poema de grande riqueza” (nº 23, 2007, p. 49). Nesse caso, o conteúdo do poema é apenas uma motivação da forma, uma ocasião para um determinado exercício formal. Em A literatura em perigo (2007), Todorov afirma que esse tipo de análise reduz a literatura ao absurdo, posto que, ao invés de analisar uma obra sobre diversos métodos, estuda várias obras sob o mesmo método, no caso, o formal. Esse foco analítico em aspectos formais do texto artístico legitima o conceito de literatura como uso peculiar da língua, uma vez que os pressupostos pelos quais se analisa uma obra cria uma hierarquia. Esquecese, assim, que o sentido da obra é mais importante que o método, pois este tem que ajudar naquele. Além disso, o leitor lê as “obras literárias na procura de encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para neles descobrir uma beleza que enriqueça a sua existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo” (TODOROV, 2007, p.33). E não como um exercício formal que demonstra a destreza da construção engenhosa do autor. A representação da literatura reduzida à língua não permite que os leitores da revista tenham uma visão amplificada das possibilidades de ser da literatura, assim como não a percebe como forma de conhecimento. Ignoram, assim, o que Roland Barthes postula: A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer que a 65 literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente realista: ela é realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédico, a literatura faz girar saberes, não fixa, não fetichiza, nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. (BARTHES, 2007, p. 17-18) Portanto, o autor defende a ideia de que a literatura possui, não só um, mas muitos saberes, tendo assim relação com o mundo exterior à obra, com o mundo do leitor, algo que não é representado na revista Língua Portuguesa que, presa a uma concepção restrita de língua, perde de vista a sua dimensão transgressora. 66 3. COMPONDO NA LÍNGUA UM RETRATO DO AUTOR. O autor possui um lugar privilegiado na Língua Portuguesa. Sua imagem é utilizada como vitrine, um mecanismo de sedução do público-alvo. Sendo assim, ocupa um lugar similar ao que ocupa na acepção moderna de literatura, uma vez que esta é, entre outras coisas, os grandes escritores (COMPAGNON, 2006). Na revista Língua Portuguesa o escritor ganha vulto na seção Figura da linguagem, espaço em que ocorrem as entrevistas, lugar onde o sujeito da escrita literária enuncia o eu. A promoção da imagem pública do homem de letras inicia-se no século XIX com a institucionalização da literatura. Nesse período histórico, também se inicia a produção de ritos de autenticação como entrevistas, encontros com escritores, na busca por difundir a República das Letras através da imprensa, das academias, dos concursos e das correspondências literárias, marcando assim uma centralidade no homem de letras, naquele que escreveu uma obra literária. Nessa divulgação encontra-se, inclusive, o interesse pela vida ordinária do autor. “Como é seu dia-a-dia?” (LP, nº9, 2006, p. 13), “você foi ao Rio, para ficar, com 20 anos. Teve resistência da família?” (LP, nº5, 2006, p. 13), são perguntas recorrentes nas entrevistas produzidas na Língua Portuguesa. Tais indagações visam conceber o escritor como reles mortal para logo em seguida provar a singularidade da vocação, isto é, na mesma entrevista mostra-se o lado prosaico da vida do escritor e o processo criativo que demarca a sua diferenciação em relação aos outros seres da mesma espécie. Tal segregação é perceptível em questionamentos como “se com você passam enganos, imagine com quem atua no sufoco da imprensa.” (LP, nº5, 2006, p. 15) e “algumas de suas construções de seus textos são incomuns. Sua busca da forma ideal exige esforço ou é natural?” ( LP, nº9, 2006, p. 14). Roland Barthes (2001), no texto O escritor em férias, defende que essa abordagem não busca desmistificar o escritor, mas o contrário. “Sem dúvida que participar, através de confidências, da vida cotidiana de uma raça selecionada pelo gênio pode parecer comovente e mesmo lisonjeiro para o simples leitor” (2001, p. 25), mas esses fatos sociais, cotidianos, não esclarecem a natureza da inspiração “mas, 67 muito pelo contrário, é a singularidade mítica de sua condição que o escritor acusa nessas confidências” (BARTHES, 2001, p. 25). Desse modo, a Língua Portuguesa, através de questionamentos sobre a vida corriqueira em contraposição ao processo de escrita, reitera e promove a sacralização do trabalho do escritor. O consumo da vida do autor também estaria intimamente ligado ao modo como a literatura e as artes são veiculados pela indústria cultural, isto é, para Nestor Canclini (2003) o tratamento dado pelos meios de comunicação de massa às obras artísticas possui algumas características como a substituição da obra pela vida do artista. Tal situação induz uma parte do público a um prazer que consiste mais no consumo da imagem pública que na fruição e no prazer estético, produtos do contato direto com a obra. O artista, então, tornase uma celebridade individual. Outra característica dessa relação diz respeito à ideia de originalidade, uma vez que na sociedade contemporânea a imitação tornou-se uma tática válida na busca pela legitimação no mercado literário. Sobre essa questão Canclini afirma: Diante das imitações e competições, resta ao leitor o ritual das dedicatórias e dos autógrafos que dão ‘autenticidade’ ao livro. Em meio à venda proliferante que torna anônimo qualquer leitor, essa relação “pessoal” com o escritor simula restaurar a originalidade e a irrepetibilidade da obra e do leitor culto (2003, p.109). Nesse sentido, o discurso massivo transforma a história imediata em espetáculo, leva ao palco a vida social, convertendo qualquer afirmação do artista em um “show do enunciado”. A centralidade do autor promovida pela Língua Portuguesa gera uma narrativa biográfica que o concebe como um indivíduo de consciência plena, aquele que tem a última palavra sobre a sua produção, remontando, assim, aos velhos procedimentos da crítica biográfica tradicional. Segundo Evelina Hoisel (2006), na história dessa perspectiva de análise das produções literárias, o foco na figura do autor será percebido através de determinados aspectos: 68 [...] alguns procedimentos que sustentam o fetiche institucional da biografia, como diálogos, entrevistas – importância da voz, da palavra como ideal da presença viva – manifestações institucionais, encontro com leitores, depoimentos através do rádio. Como suas palavras, o corpo do escritor, ou melhor, suas máscaras, costumes, são objeto de reprodução selecionada, retocada, difundida. As descrições biográficas salientam a importância dos cenários e paisagens que têm ligação com aspectos da produção literária. A imagem e a vida do autor tornam-se, assim, meios para promover seus livros e a condição mesma para a explicação de seu texto. O sentido da obra está fora da sua linguagem, é anterior e exterior à sua estrutura. (HOISEL, 2006, p. 36-37) A revista Língua Portuguesa endossa essa figuração do autor, naturalizando o que é uma forma de encenação, respondendo e correspondendo, desse modo, a uma representação social, particularmente a do imaginário social fortemente letrado da cultural ocidental. Trata-se de representações partilhadas socialmente, forjadas e cristalizadas no campo instituído da literatura, no qual se construiu a figura do autor, e que foram sendo internalizadas pelos sujeitos que comungam os mesmos valores culturais e sociais. Ao tratar de mediações culturais, pontuando questões sobre a relação do escritor de gêneros massivos ou “gêneros de autor” com o mercado editorial, Jesús Martín-Barbero (1997) traz uma informação que confirma os processos de representação social da figura do autor. Na história do gênero folhetim, em seu início, para “a maior parte do público do folhetim, o autor importava tão pouco que ‘as pessoas achavam que eram os entregadores [dos folhetins] que escreviam os romances” (p. 127). Segundo Serge Moscovici (2003), as representações sociais são formas de conhecimento prático socialmente elaborado e compartilhado que colaboram com a construção de uma realidade comum. Portanto, orientam a comunicação e compreensão do mundo em que vivemos. As representações se manifestam como elementos cognitivos – conceitos, teorias, imagens, categorias – e são entendidos a partir do seu contexto de produção, isto é, levando em consideração as funções ideológicas e simbólicas a que servem e das formas de comunicação em que circulam. Moscovici estudou as formas de representação da psicanálise pelos parisienses e procurou compreender como conhecimentos plurais contribuem 69 para reforçar a identidade dos grupos, influenciando as suas práticas, pois é em função das representações que se movem as coletividades e os indivíduos.20 A representação de um objeto não se reduz a sua reprodução, pois na construção da representação o novo é remodelado a algo familiar, logo, o objeto é modificado. O novo passa a ser o conhecido, confirmando ideias, crenças, enquanto o desconhecido produz desconforto. Portanto, o ato de reapresentação é um mecanismo pelo qual se transforma o distante em algo próximo e palpável. Aqui se fazem necessárias duas considerações. A primeira diz respeito à relação indivíduo e sociedade. Essa relação é baseada no equilíbrio, em um caráter integrador entre os elementos, isto é, situa o indivíduo no processo histórico ao tempo em que este é dotado de subjetividade. Sendo assim, foge ao determinismo social e ao voluntarismo puro que vê o sujeito como possuidor de uma liberdade absoluta. A segunda consideração diz respeito a essa subjetividade que, ao ser posta como parte da representação, abre espaço para a questão do afeto, ou seja, as representações não são apenas cognitivas, mas carregam questões emotivas. Para Moscovici (2003), as representações sociais possuem duas funções. A primeira é a de convencionalizar pessoas, objetos ou acontecimentos (com os quais interage) que encontram, conferindo-lhe uma forma definitiva, acabada, localizando-os em uma determinada categoria e paulatinamente colocam-nos como modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo. A sua segunda função refere-se ao seu caráter prescritivo, impõe-se sobre o indivíduo, tendo em vista que, antes de nascermos, já existe uma estrutura presente, uma tradição que decreta o que deve ser pensado. 20 Segundo Robert Farr (1995), a teoria das Representações Sociais é uma forma sociológica da psicologia social e foi concebida originalmente por Serge Moscovici em La psychanalyse: son image et son public- etude sur la representation sociale de la psychanalyse, publicado em 1961. A noção de representação social proposta por Moscovici é originária do conceito de representação coletiva de Émile Durkheim. Nesta, o sociólogo francês enfatiza a primazia e a especificidade do pensamento social sobre o individual, sendo que a representação coletiva não resulta da soma das representações individuais que compõem uma sociedade. Vale ressaltar que Moscovici (2003) não trabalha seguindo estritamente o conceito proposto por Durkheim, tendo em vista que, para o autor romeno, este é estático e possui excessos de formas intelectuais, ou seja, quase tudo é considerado representação, qualquer emoção, ideia, crença presente na sociedade. Em contraposição, Moscovici defende a ideia de que as representações sociais devem ser estudadas como formas de conhecimento prático, cotidiano, que orientam o comportamento e possibilitam a comunicação. 70 Sendo assim, apesar das representações serem partilhadas socialmente, penetrem e influenciem a mente de cada indivíduo, são repensadas, re-presentadas. Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação presente. (MOSCOVICI, 2003, p. 37) Vale ressaltar que, apesar de serem ideias, as representações sociais possuem autonomia, exercem pressões e assumem uma posição de realidade inquestionável a serem confrontadas. Apresentado o conceito de Representações Sociais, faz-se necessário observar o processo que as gera: a ancoragem e a objetivação (Moscovici, 2003). A ancoragem é o processo de classificar, de nomear alguma coisa, ancorando ideias novas, reduzindo-as a categorias e imagens comuns, procurando inseri-las em um contexto habitual. Na perspectiva de Moscovici, essas ideias novas, além de estranhas, são ameaçadoras. Já o processo de objetivação torna algo abstrato em quase concreto; une o não familiar à realidade; transforma o que está na mente em algo material, isto é, que exista no mundo físico, que seja tangível. Esse processo é responsável pela cristalização de uma representação e constitui-se em três etapas: a descontextualização da informação pelos critérios culturais e normativos; a produção de uma estrutura que reproduz de maneira figurada uma estrutura conceitual e, por fim, a naturalização que transforma as imagens em elementos da realidade. Em relação a uma representação social sobre o autor, já alcançado esse processo de objetivação, tem-se na contemporaneidade novas formas de manter a sua naturalização, e a revista Língua Portuguesa contribui para tal processo ao criar espaço exclusivo para a figura do autor, particularmente na seção Figuras da Linguagem, reservada a entrevistas com escritores da literatura brasileira. 71 Na busca por compreender o gênero entrevista, no processo contemporâneo de constituição de subjetividades, Leonor Arfuch (2010) recorre aos estudos de Mikhail Bakhtin sobre os gêneros discursivos21. Partindo desse dispositivo teórico, a autora afirma que a entrevista “é um gênero discursivo secundário, complexo, mas cuja dinâmica intersubjetiva, em diversos contextos, opera com certa semelhança em relação à conversa, ou seja, aos gêneros primários” (ARFUCH, 2010, p. 160). Vale lembrar que, embora se trate de uma instância de competências compartilhadas pelos interlocutores, a indagação será exercida pelo entrevistador, que está habilitado, no contexto, para exercer tal ato. Essa irreversibilidade das posições enunciativas, ao que diz respeito o direito de perguntar, pressupõe uma distinção normativa das posições. Tal estrutura comunicativa, junto com a padronização temática e de procedimentos, torna a entrevista um gênero extremamente ritualizado, apesar de ser edificado sobre valores como espontaneidade e fluidez. Na entrevista midiática, a interrogação adquire mais um contorno, pois é constitutiva da função social da imprensa o interrogar, o questionar, o inquirir. Portanto, não só é autorizado, como se é obrigado a perguntar. No caso da revista Língua Portuguesa, o entrevistador é a voz do periódico, na medida em que o editor-chefe, Luiz Pereira Jr., é o responsável por conduzir o jogo dialógico. Além desse binômio entrevistador/entrevistado, inclui-se, mesmo que imaginariamente, um terceiro no diálogo, no caso, o público-alvo. Será para esse destinatário que se construirá a figura do herói ou heroína. No contexto atual, a entrevista, defende Leonor Arfuch (2010), concentra várias funções e valores biográficos, pode se tornar, concomitantemente, autobiografia, testemunho, biografia, confissão e história de vida. Como é ancorada na palavra dita, traz uma sensação de “retrato fiel”, na medida em que é atestada pela voz, no caso da Língua Portuguesa, do autor. Nesse sentido, a entrevista faz o caminho inverso da autobiografia, isto é, vai do público ao universo privado, uma vez que o sujeito que enuncia o eu já 21 Segundo Bakhtin, os gêneros discursivos são formas relativamente estáveis de enunciados produzidos nas esferas da atividade humana de acordo com o contexto específico dessas atividades; sendo assim, são sócio-historicamente determinadas. Portanto, cada esfera da atividade humana produz seus próprios gêneros. Os gêneros são divididos em primários: produzidos nas situações corriqueiras da comunicação, sendo predominantemente orais; e os gêneros secundários: mais presos a contextos comunicacionais mais específicos existindo um predomínio da escrita. (BAKHTIN, 2003) 72 conquistou notoriedade por outros meios. Arfuch ainda considera a entrevista como a mais moderna dentro da autobiografia consagrada, pois é a mais recente na genealogia, além de ser contemporânea da modernidade/modernização. Desse modo, afirma a autora, a entrevista está intimamente ligada ao capitalismo, à lógica do mercado e da legitimação do espaço público através das palavras autorizadas de figuras consagradas tanto do campo social, quanto do político e artístico. Tais características proporcionam à entrevista ser peçachave da visibilidade democrática, assim como da uniformidade, visto que a modelização de condutas é um dos fundamentos da ordem social. No decorrer de sua existência, a entrevista foi deixando o efeito proximidade e se transformando em efeito celebridade, ou seja, em ritual obrigatório de consagração de todo tipo de figuras, não estando mais recluso às grandes personalidades políticas, literárias, científicas. O efeito celebridade torna manifesta a relação implicada entre lei de mercado e modelização como desejo de identificação, em que pessoas investidas desse valor passam a obter categoria de símbolo. Mesmo não sendo habitualmente considerado um texto canônico entre os produzidos no gênero biográfico, a entrevista possui a característica de educação, isto é, caminha “em direção a uma conclusão suscetível de ser apropriada em termos de aprendizagem” (ARFUCH, 2010, p. 153). Vale lembrar que no jogo dialético entre entrevistado e entrevistador, o sujeito que enuncia o eu contribuirá, mesmo sem se propor a tal tarefa, para o acervo comum. Enquanto gênero biográfico a entrevista possui traços específicos: a ilusão do pertencimento; imediaticidade do sujeito em sua corporeidade, mesmo havendo a distância da palavra gráfica; a vibração de uma réplica marcada pela afetividade; o acesso à vivência, mesmo quando o assunto não é a vida. Em se tratando da Língua Portuguesa, a marca da corporeidade é a fotografia do entrevistado. Ela está na capa, no sumário, no cabeçalho da entrevista. Não é só o autor que fala, ele se presentifica na imagem, está in loco. Essa valoração da presença pretende restituir, segundo Arfuch, o aurático, o original. Isso posto, assistimos ao acontecimento do sujeito que 73 enuncia o eu, mesmo sem acreditar no que ele afirma, pois esse dizer está para além do querer dizer. Nesse sentido, a vida é narrada como um personagem. Portanto, a série de entrevistas feitas para a capa da revista Língua Portuguesa apresenta várias identidades e posições sujeito e, dessa maneira, possibilidades existenciais, modelos de autor. Dentro desse mosaico, percebe-se a recorrência de certos assuntos, temas peculiares ao gênero biográfico, a exemplo de a vida como caminho, como trajetória. Tal assunto pode ser observado na pergunta feita ao poeta Ferreira Gullar: “Você começou estudando gramática. É preciso isso para escrever bem?” (LP, nº 5, 2006, p. 11); e na indagação feita pela revista ao escritor e cartunista Ziraldo: “o que mudou de quando escrevia para crianças de quatro décadas atrás em relação às da era do game?” (LP, nº 6, 2006, p. 14). Outro tema recorrente é o da vida como viagem temporal e suas estações obrigatórias (infância, juventude, maturidade e morte), o que se pode notar em alguns exemplos, como na pergunta feita a Ferreira Gullar: “Quando garoto, você não ganhou a nota máxima numa redação porque a professora anotou dois erros. Quais?” (LP, nº 5, 2006, p. 11); e na resposta dada pelo escritor Carlos Heitor Cony sobre a questão da finitude do ser: “Temo a morte por causa do ritual, caixão, cremação, enterro, o lado teatral da morte. Não por causa do processo, da fatalidade biológica. Temo sofrer confusão mental, perder a lucidez. Meu patrimônio é minha lucidez (LP, nº 16, 2007, p. 14). A vida como herança familiar, outro assunto característico do gênero biográfico, também percorre de forma insistente as narrativas, exercendo a posição institucional, como na apresentação do escritor João Ubaldo Ribeiro feita pela revista. O pai tratava com severidade. Ainda na infância, o obrigava a ler e copiar sermões do Padre Vieira. Mesmo assim, adora Vieira e o Padre Manuel Bernandes. As exigências paternas não prejudicaram o gosto pela leitura. Leu tudo quanto podia na biblioteca, que se alastrava pela casa, serpentando até pela cozinha e o banheiro. No começo da adolescência, já havia lido os clássicos mundiais. (LP, nº 9, 2006, p. 11). 74 E atuando na posição do sujeito que dramatiza e narra a sua história como no caso do escritor Ariano Suassuna ao responder à indagação acerca da chegada dos livros à sua vida. Veja, meu pai era um grande leitor, bem como meus irmãos mais velhos. Enquanto eu, minha mãe e minhas duas irmãs ficávamos no sertão (fazenda Achaun, em Sousa, Paraíba), meus irmãos moravam no Recife. Quando passavam férias sempre me levavam livros. Nessa época, ganhei de presente de minha mãe as obras de Monteiro Lobato. (LP, nº 21, 2007, p. 16). Nesse jogo dialógico entre entrevistado e entrevistador, vai se tecendo a trama entre a vida do autor e sua obra e se edificando um modelo no qual o entrevistado é posto como símbolo de um fazer literário e defensor do idioma. E nesse falar sobre os livros, as questões da autoria se articulam, com ênfase na vida pessoal. Por isso, de forma geral, nas entrevistas pede-se que o autor preste contas da unidade de texto posta sob seu nome; pede-se-lhe que revele, ou ao menos sustente, o sentido oculto que os atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida pessoal e suas experiências vividas, com a história real que os viu nascer. O autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real. (FOUCAULT, 1996, p. 27-28) Esse prestar contas, esse decifrar o universo da ficção via voz do autor pode ser observado ao longo das entrevistas produzidas pela Língua Portuguesa, como no caso abaixo: LP – As personagens de Benjamim têm nomes estranhíssimos: Catana Beatriz, Benjamim Zambraia, Ariela Mazé, Zorza, Grango, Alejandro Sgaratti, Dr. Camposceleste, Catagalo, Geovan, Gâmblo. São apelidos de jogadores do time do seu time, o Politheama? Chico Buarque – Não, são nomes e sobrenomes reais, do meu time do botão. (LP, nº 8, 2006, p. 17) Ao não se contentar com a resposta irônica oferecida pelo entrevistado, a voz institucional volta a indagar sobre a relação vida e criação, buscando sempre a relação vida/obra. 75 LP - Por que Budapeste, cidade que você não conhecia? Não pensou numa cidade fictícia para ambientar a história? Chico Buarque – Por causa da língua, que eu conhecia um pouco, umas 20 palavras e um time de futebol. Cheguei a escrever sobre um país imaginário, com uma língua inventada. Inventei umas palavras, mas não dava certo, a coisa não andava. Então me lembrei das palavras húngaras. (LP, nº 8, 2006, p. 17) Percebe-se a tentativa, por parte do entrevistador, de relacionar a obra, o fazer literário à vida factual do escritor. No caso da entrevista com Chico Buarque, como se o escritor, para escrever uma narrativa ambientada em uma cidade, tivesse que a ter vivido. Nesse caso, o que seriam dos romances históricos? Percebem-se, então, pressupostos e valores da crítica tradicional, forjados no século XIX, na abordagem da literatura pela Língua Portuguesa, por marcar uma centralidade no autor. Nas páginas da revista, os autores são a imagem central do fazer literário, o que endossa o prestígio pessoal do indivíduo, passando o escritor a ter uma autoridade e valor verificados não só nas entrevistas como nos manuais de história literária, os quais são muito utilizados por parte do público-alvo da revista, os professores da educação básica. É importante notar que a tríade entrevistador-entrevistado-destinatário compartilham, segundo Arfuch, dos mesmos valores. Dessa forma, o entrevistador elabora a pergunta, tendo em vista aquilo que ele imagina que seria de interesse do seu público-alvo. Esse indagar sobre a existência, sobre a vida, não é aleatório. A entrevista, segundo Arfuch, opera uma seleção hierárquica de seus entrevistados, cobrindo todas as posições de autoridade da sociedade, de modo que não só produz a visibilidade dessas posições como o seu reforço, pois as confirma, conferindo-lhes, assim, uma legitimidade. E na medida em que tais posições são materializadas por sujeitos, que as adquiriram por virtude ou mérito, as narrativas oferecidas à leitura se transformam em modelizadoras. Não é a toa que toda entrevista da Língua Portuguesa se inicia com uma narrativa que informa os prêmios e os méritos dos seus entrevistados, legitimando-os a ocuparem aquele espaço. Portanto, não é a revista que cria os pressupostos pelos quais é erigida a hierarquia no campo da literatura, mas 76 apenas a reforça e a reproduz, ao dar voz e visibilidade aos autores que ocupam a posição de autoridade no fazer literário. Vale considerar que o modelo de escritor re-encenado pela revista é baseado na estética moderna, isto é, o artífice tem consciência do objeto do seu trabalho, no caso, o idioma, valorizando-o e promovendo-o. Esses pressupostos podem ser encontrados ao longo das entrevistas no indagar feito pela voz institucional sobre a estrutura narrativa ou nas falas do autor, em que o entrevistador aborda um determinado aspecto do idioma. Nesse caso, o escritor não só é um promovedor da língua como seu defensor. LP– Como deu valor à força da língua portuguesa? Ariano Suassuna – Quando era jovem, muita gente me dizia que o português não era língua forte, ao contrário do inglês. Eu precisava muito da musicalidade da língua, até porque queria escrever teatro. Precisava de uma língua com ritmo e plástica musical porque o teatro precisa disso. Acontece que comecei a ler autores estrangeiros. O meu inglês é fraco, dá para a revista Time, mas Shakespeare, não. Então, li em inglês Otelo com a ajuda de cópia traduzida. Em dado momento, Otelo cheio de cólera, diz: “Blood, blood, blood”. Quando olhei a tradução, “Sangue, sangue, sangue...”, eu disse: é, o português é mais fraco. Mas, veja, era um erro meu de interpretação. O original tinha sido escrito por um grande poeta. Se fosse brasileiro, não poria “sangue”, mas uma palavra que tivesse a mesma força que senti com o inglês dele. Fiquei na dúvida até ler Vieira: Sermão da Quarta-Feira de Cinzas (1670). Ali percebi o português como grande língua. Eu até poderia ser mau dramaturgo, porque era ruim mesmo, mas não por causa da língua. (LP, nº 21, 2007, p. 17). No trecho acima, constata-se um traço comum nas entrevistas: a relação entre a obra e a vida do escritor, particularmente, da relação entre o objeto pelo qual a obra será construída e a vida do sujeito que a fabricará. As perguntas acerca do modo pelo qual o idioma entrou na vida do autor são comuns, reiterando sempre o papel de defensor e divulgador do idioma que o escritor tem. “O que acha da incorporação de estrangeirismos por nossa língua?” (LP, nº 20, 2007, p. 14); “O que representa uma obra ser feita originalmente em português e não em outra língua”? (LP, nº 3, 2005, p. 19). Diferente de Arfuch, que aborda a biografia como uma tipologia, um gênero, Evelina Hoisel (2006) considera que a biografia e o drama são marcas da escritura literária. Essa perspectiva parte da concepção de linguagem como cenário, no qual diferentes forças deixam a sua marca e onde podem ser 77 apreendidas, lidas na inscrição dos seus traços. A biografia, portanto, não é um gênero historiográfico, assim como o drama não é uma tipologia de formas literárias, mas forças que atuam, que acionam a produção dos signos na cena da escritura, onde o sujeito se representa. Dessa forma, a escritura literária é, por excelência, biográfica, vida grafada e expressa dramaticamente na linguagem. Sendo assim, antes de se constituir como gênero historiográfico ou tipologia literária, a “biografia é marca indissociável, está presente na cena da escritura onde o sujeito se dramatiza, e cuja a dramatização é apreendida no palco da própria linguagem, no espaço do livro” (HOISEL, 2006, p. 11). Isso posto, há um vínculo indissociável entre produtor e sua produção, independente de ser essa uma obra artística ou científica. A escritura biográfica, portanto, independe de um conteúdo anterior, prévio, exterior à materialidade textual, que descortina a vida do seu produtor, uma vez que não há sentido fora dos signos, não há referente que, para ser representado, não passe pela linguagem e não seja forjado pela textura sígnica, em que se marca uma ideologia, uma ética, uma biografia, entre outras. A relação entre a obra e o autor é mais complexa que a simples projeção do eu, ela está no próprio texto, nas pausas, na pontuação, no ritmo, na escolha de cada palavra ou uso de uma estrutura sintática. Está no estilo. “É através do estilo, suplemento da origem impossível de ser resgatada na sua referencialidade, que o escritor assinala sua presença, esboça o seu gosto, contorna e delineia sua face no claro-escuro dos signos, no preto e branco da página.” (HOISEL, 2006, p. 14). Vale ressaltar que a escritura biográfica, tal como conceitua Hoisel, situa-se no nível das potencialidades não realizadas da história do sujeito, enquanto a biografia, entendida como gênero historiográfico, apreende apenas uma parte da história do indivíduo, sendo que essa parcela é um fragmento de uma história mais ampla e não aparente. No entanto, esse caráter biográfico da escritura literária, na revista, é centrado no escritor e não nas marcas existentes no texto. É o escritor, figura centrípeta na Língua Portuguesa, que descortina as marcas. LP – Graciliano Ramos dizia que escrever era sofrido, e é preciso torcer, retorcer e enxugar palavras como as lavadeiras dos rios... 78 Ariano Suassuna – Para ele deveria ser mesmo, porque era muito conciso; eu não sou. Sou prolixo, falastrão, mas volto muito ao texto. Eu não diria retorcer, mas gosto de esculpir. Procuro sempre a expressão, não a sobriedade. Procuro usar palavras que sejam necessárias para expressar uma paixão. Sou um escritor apaixonado, não sou frio, não. Preciso, inclusive, de adjetivos. Já vi muita gente elogiando Graciliano porque não usa adjetivos, e reclamando de mim. Uso sim. Um dos mestres que mais admiro no Brasil, Euclides da Cunha, usava muito. A linhagem de Machado de Assis tem certo preconceito com adjetivo, e Graciliano era dessa linhagem. Sou da outra, da de Euclides da Cunha. (LP, nº 21, 2007, p. 18) Percebe-se no trecho acima que a poética contida nos textos literários é revelada pelo produtor, pelo escritor. Ariano Suassuna apreende o seu estilo, sua biografia dentro de uma genealogia nacional da escritura literária. É o próprio autor que insere a sua obra na história da literatura nacional, em uma tradição, recompondo o sistema de raízes. Portanto, apesar do estilo não deixar de ser uma marca da estrutura sígnica, ela passa a ser apreendida pelo olhar do produtor, reiterando, assim, o lugar privilegiado que o escritor tem sobre a obra. Nesse caso, na Língua Portuguesa, a entrevista como gênero biográfico não canônico não difere muito da biografia como marca, pelo menos no que diz respeito à abordagem. É sempre a voz do produtor que ora afirma a relação entre vida e obra, ora a vida grafada no texto. Dessa maneira, a entrevista torna-se meio para promover seus livros e plataforma para explicar seu texto, seu estilo, como se o sentido da obra e as marcas estilísticas estivessem fora da linguagem, sendo exterior e anterior à sua estrutura. Essa forma de compreender o autor e a literatura tem sua base na crítica tradicional, cuja explicação da obra se encontra no lado de quem produz. Antoine Compagnon (2006) compreende que a relação entre autor e texto pode ser dividida em duas correntes: a antiga (a história literária) e a moderna (nova crítica22). A antiga relacionava o sentido com a intenção do autor e circulava na filologia, no positivismo e no historicismo. A ideia moderna, propagada pelo formalismo russo, pelo new criticism e pelo estruturalismo francês, critica a relação entre intenção autoral e sentido da obra. Sendo assim, enquanto a 22 Aqui compreendida, basicamente, como as propostas de Michel Foucault com o texto O que é um autor?, lançado em 1969, e a de Roland Barthes com A morte do autor, publicado em 1968. 79 primeira corrente procura a explicação da obra no autor, a segunda procura no texto uma explicação, independente da intenção do autor, buscando assim, a independência dos estudos literários em relação à história e à psicologia. A intenção do autor é critério pedagógico e tradicional para estabelecer o sentido literário. A explicação do texto tem como fim essa intencionalidade. Se a intenção reside no autor, afirma Compagnon, não há porque interpretar o texto, já que seu sentido encontra-se exterior à estrutura textual. Logo, a crítica literária é inútil. Além disso, a própria teoria literária torna-se desnecessária, uma vez que o sentido é intencional, histórico, objetivo. Essas duas correntes percorrem a revista de forma dicotômica, mas com a centralidade no autor. Na seção Técnica e Obra Aberta, “prevalece” a metodologia anti-humanista das ciências do texto, enquanto na Figuras da Linguagem o sujeito mantém monopólio sobre o texto. Vale ressaltar o fato de que mesmo em seções onde teoricamente os métodos de análise textual, que são usados também como base para as dicas de criação literária, seriam dominantes, elas dialogam de alguma forma com a figura do autor e sua relação com o texto. Enquanto na seção Figuras da Linguagem há um predomínio do modelo romântico do autor/gênio, nas seções Técnicas e Obra Aberta o autor é visto como modelo do gênio clássico. A seção Obra Aberta, assim como Figuras da Linguagem, inicia com uma breve narrativa biográfica, como se pode observar: “Nelson Rodrigues (1912-1980) foi o mais importante dramaturgo brasileiro. Filho de jornalista, desde cedo trabalhou na imprensa: começou aos 13 anos como repórter policial” (LP, nº 8, 2006, p. 34). Ao longo da análise, a relação entre autor e texto é incessantemente reiterada: “com elegância, Nelson Rodrigues junta duas conjunções sinônimas na frase”; “como no registro oral, Nelson Rodrigues sempre que pode traz o tempo do verbo para o presente”; e o mais sintomático: “O tom do cronista é o de uma conversa, na qual os leitores estivessem como que cara a cara diante do autor” (p. 34-35). Na edição nº 16, 2007, ao analisar o poema Pasárgada do modernista Manuel Bandeira, lê-se o seguinte: “Manuel Bandeira não teve filhos; a “inconsequência” de sua aventura na vida se transfere a outro lugar, onde pode haver uma nora” (p. 35). Nesse caso, o eu-lírico, sujeito da enunciação, é reduzido ao eu biográfico de história factual, onde o sujeito psicológico se 80 transfere, como a análise diz, para o poema. Vale lembrar que não se está negando aqui a possibilidade do poema autobiográfico, o que se questiona é a utilização da vida do autor como base para a interpretação, pois dessa maneira reitera-se a primazia do sujeito empírico em relação aos sentidos possíveis do texto. Logo, o autor torna-se centro da literatura e de qualquer tentativa de compreensão da obra literária. Há outro ponto a se destacar nessa análise proposta pela Língua Portuguesa. Na apresentação do texto, espaço em que geralmente ocorre a narrativa biográfica na seção Obra Aberta, encontra-se o poema reduzido a uma análise puramente textual, de tal forma que toda a sua compreensão é possível apenas pelo aspecto sonoro: “A clareza sonora de vou-me embora para Pasárgada apresenta o conteúdo do poema de modo imediato, que toda interpretação parece supérflua” (p. 34). Nesse caso, o exemplo assinala uma característica dessa seção: a coexistência das duas correntes. Em uma mesma crítica busca-se a análise pautada na vida do autor e a que exclui o sujeito, isto é, o único meio para a interpretação é o texto. Essa coexistência imiscível é bem demarcada, uma vez que, ao se referir ao autor, usa-se o seu nome civil, enquanto que, ao referir-se ao sujeito da enunciação, busca-se o vocábulo ligado à atividade da escrita: poeta ou escritor. Essa aparente harmonia não-tensiva, mesmo sendo teorias opostas e excludentes tanto em relação aos pressupostos teóricos utilizados e aos conceitos propostos quanto em relação aos objetivos, só é possível pois a representação social, segundo Serge Moscovici (2003), remodela o objeto representado em algo familiar, confirmando ideias, crenças. A crítica tradicional deixa de ser hegemônica nos estudos literários a partir das teorias pós-estruturalistas da segunda metade do século XX. Entre os principais escritos dessa crítica está A morte do autor, de Roland Barthes. Nesse texto o autor denuncia a corrente tradicional, prisioneira do princípio de causalidade que postula a explicação da obra na origem – autor, contexto histórico etc. O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas das revistas, e na própria consciência dos literatos, preocupados em juntar, graças ao seu diário intimo, a sua pessoa e a sua obra; a imagem da literatura que podemos 81 encontrar na cultura corrente é tiranicamente centrada no autor, na sua pessoa, na sua história, nos seus gostos, nas suas paixões; a crítica consiste ainda, a maior parte das vezes, em dizer que a obra de Baudelaire é o falhanço do homem Baudelaire, que a de Van Gogh é a sua loucura, a de Tchaikowski o seu vício: a explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua “confidência”. (BARTHES, 1987, p. 49-50) Dessa forma, A morte do autor busca deslocar o sujeito criador, que é visto pela crítica tradicional e pela revista Língua Portuguesa como o indivíduo que precede a obra e a produz de acordo com seus anseios, desejos e intenções. Barthes, no desenrolar do ensaio, vai distinguir o autor – ser que alimenta o livro, pois o antecede – do scriptor – aquele que surge ao mesmo tempo que o seu texto; estando indissociável do texto, nem precederia ou excederia a sua escrita. (BARTHES, 1987). O scriptor, nesse caso, seria um articulador de escritas, uma vez que se concebe o texto, na contemporaneidade, como espaço capaz de contemplar escritas variadas e múltiplas. Sobre essa questão Barthes afirma: um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; é apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo campo todos os traços que constituem o escrito. (BARTHES, 1987, p. 53) Sendo assim, para Barthes a morte do autor resultará no nascimento do leitor. Vale lembrar que nas entrevistas a relação autor-texto é indagada, explicitada pelo entrevistador e entrevistado, o que não ocorre na relação textoleitor. Essa força centrípeta, que é o autor na revista Língua Portuguesa, promove a exclusão da demanda da literatura, o leitor. Repete-se, então, mais uma característica da estrutura dos manuais de história literária. Tal apagamento causa estranheza na medida em que a revista, tendo como objetivo descortinar aspectos do idioma, desconsidera o papel do leitor 82 na produção de sentido e significado da obra. Segundo Hoisel, “o espaço da escritura é um espaço agônico, onde o escritor e o leitor se encontram na aventura conflituosa de experimentar os limites da linguagem”. (HOISEL, 2006, p. 15). No entanto, a presença soberana da voz autoral na revista Língua Portuguesa não permite ao leitor participar do jogo do texto. Sobre a relação entre texto e leitor é de fundamental importância a contribuição de Wolfgang Iser (1996). Segundo o autor, os textos são compostos por espaços vazios que serão preenchidos pelo leitor mediante a projeção. No entanto, ao acionar apenas as projeções, independente do texto, o leitor fracassará na interação. A comunicação só galgará êxito se o texto sujeitar o leitor a uma mudança de suas representações projetivas comuns. Voltando para a relação autor e texto, uma pergunta se faz necessária: o que vem a ser o autor? O autor, segundo Roland Barthes (1987), é uma personagem moderna erigida pelo racionalismo francês e pelo empirismo inglês. No positivismo inicia-se a tirania do autor, isto é, a crítica positivista utilizará mecanismos autobiográficos e biográficos através dos quais institui a voz autoral como uma consciência absoluta, plena, a única capaz de revelar o “real” e “verdadeiro” sentido do texto. Nesse caso, pressupõe-se uma transparência entre o sentido que o autor declara como tendo sido a sua intenção e aquilo que se inscreve no signo literário. Para Michel Foucault (2002), a noção do autor representa o momento essencial da individualização na história das ideias, das literaturas, dos conhecimentos. Mesmo quando se elabora a história de um conceito, de um gênero literário, essas elaborações estão em segundo plano em relação à primeira unidade, que é o autor e a obra. Nesse sentido, os textos começaram a ter autores na medida em que os discursos se tornaram transgressores e, com isso, passíveis de punições. Na antiguidade clássica, por exemplo, os textos, que hoje estão reunidos sob o nome de literatura, circulavam e eram valorizados sem se questionar quem os tinha escrito, quem eram os seus autores. A sua autenticidade ocorria pela sua antiguidade. A noção de autor constitui o momento crucial da individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, e também na história da filosofia, e das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito, de um gênero literário 83 ou de um tipo de filosofia, acredito que não se deixa de considerar tais unidades como escansões relativamente fracas, secundárias e sobrepostas em relação à primeira unidade, sólida e fundamental que é a do autor e da obra. (FOUCAULT, 2002, p. 267). Para o filósofo, a função-autor, dispensada nos discursos científicos por estes possuírem um sistema que lhes confere legitimidade, se mantém viva nos discursos literários. Vale ressaltar que tal função não existe simplesmente da relação entre o texto e o sujeito criador, mas se constitui como uma “característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 2002, p. 246). Ou seja, indica o modo pelo qual o discurso deve ser recebido, assim como confere certo estatuto dentro de determinada cultura. Portanto, o que faz de um sujeito autor é o fato de, por meio do seu nome, caracterizarmos, delimitarmos e recortamos os textos que lhe são atribuídos. Sendo assim, a utilização da figura do autor em capa das revistas – aqui compreendido também o nome do escritor que é estampado na capa em letras cujo tamanho só é menor do que o título da revista – promove no leitor uma antecipação de possíveis temas e obras que a edição irá abordar, assim como se utiliza do estatuto do escritor na sociedade – aqui se percebe uma ideia de literatura vinculada a “grandes escritores”, – na sociedade para alavancar as vendas e seduzir o público alvo. Aqui se faz necessário um breve histórico da construção da figura do artista no ocidente. Na Idade Média, por exemplo, não se conhecia o conceito de personalidade artística, nem os conceitos que se relacionam a ele, como individualidade, criação artística, genialidade, originalidade. Nesse período histórico, a função do artista consistia em copiar, em imitar – de uma maneira eternamente condenada à imperfeição – a beleza divina. Portanto, como seu trabalho não consistia em criar, mas em imitar, as obras medievais eram frequentemente anônimas. Só no fim da Idade Média a criação artística começa a se subjetivizar. A fonte, a origem da forma artística desloca-se do objeto criado para o sujeito criador. Entretanto, esse subjetivismo desenvolvido ao longo do Renascimento não deve ser confundido com sua forma moderna, haja vista que na renascença 84 o artista aprecia o seu trabalho, é consciente de que outro a não saberia fazer melhor, nem mesmo tão bem como ele a fez; tem ciúmes dos seus rivais, etc. Resumindo, tem consciência da força que a sua personalidade representa. (MUKAROVSKY, 1997, p. 276) Mas não pensa a sua obra como produto da sua personalidade, das suas disposições e características. A obra para o artista deste período é um produto da vontade consciente e da habilidade. Sendo assim, o valor da obra não está na expressão da personalidade do criador, mas na captação da ordem e constituição da natureza, não tem ligação com o gosto pessoal. Antes, é uma apreciação objetivamente verificável: a imitação, a representação. A mudança radical, segundo o teórico tcheco Jan Mukarovsky, ocorre no romantismo, que culmina na noção de gênio original: “O gênio não é já uma personalidade que cria mediante uma vontade consciente, orientada para a realidade exterior, que descobre e transforma. O gênio é a espontaneidade criadora”. (MUKAROVSKY, 1997, p. 276-277). A obra surge de maneira inesperada, como expressão autêntica da personalidade do autor, como cópia da sua constituição psíquica. Portanto, o objeto criado nasce não porque o artista quer, mas algo misterioso dentro de si se impõe e o leva a criar. Para Pedro Süssekind (2008), há duas concepções de gênio elaboradas pela tradição artística no ocidente. A primeira – modelo classicista – está associada ao domínio de uma técnica apurada, uma obra sem erros, muito equilibrada e alcançada através do árduo trabalho. O talento, apesar de ser considerado um dom natural, era visto muito mais como uma capacidade mecânica que leva à perfeição pela obediência às regras da arte. A segunda, produzida no romantismo, defende a espontaneidade na criação e a liberdade, assim como a transgressão das regras em nome da intensidade do efeito causado pelas obras de arte. Essa concepção romântica do gênio, inicialmente elaborada no primeiro romantismo alemão, opõe a liberdade do poeta ao aprisionamento imposto pelas normas tradicionais da criação artística. Possibilita à noção de gênio associar-se à ideia de originalidade, de singularidade e não mais de engenho, do domínio de uma técnica apurada. Na revista Língua Portuguesa, as duas maneiras de conceber o gênio, abordadas anteriormente, estão intimamente ligadas aos modelos de autor 85 construídos pela revista. Vale ressaltar que os dois modelos de genialidade coexistem, mas não tal como foram concebidos no seu contexto histórico de produção. O gênio clássico geralmente aparece quando o foco são as obras literárias, o texto, ou o estilo de um autor, o romântico, nas matérias sobre o escritor. Sendo assim, o modelo clássico surge vinculado à estrutura textual; é sustentado como uma questão técnica. Assim, se se seguir os mestres – que ganharam esse status por dominarem uma técnica –, um indivíduo pode se tornar um escritor competente. Quando o enfoque é o autor, esse é representado pela aura do gênio romântico, que não se curva perante as regras preestabelecidas, é possuidor de uma singularidade, de uma originalidade. A valorização do domínio da técnica de escrita pode ser observada na seção dedicada exclusivamente a ela – Técnica. Na revista Língua Portuguesa, número 13 de 2006, a seção em questão, escrita por Geraldo Galvão Ferraz, trata da técnica do suspense, isto é, como “criar clima para manter o público atento a uma história” (LP, nº13, 2006, p. 44). Na matéria há afirmações como: “autores mais competentes sabem a medida exata do que oferecem, capítulo após capítulo, para o leitor” (LP, nº13, 2006, p. 46). Isso nos leva a constatar que a criação, nesse caso, está vinculada à competência, ao domínio da exata medida e não a uma capacidade inerente, que flui e que se impõe como uma força criadora. Afinal, um gênio tal como é concebido pelo romantismo não necessita de regras ou técnica, o talento basta. Essa exata medida pode ser vista e aprendida com os escritores que dominam a técnica, no caso da matéria aqui analisada, com a escritora inglesa Agatha Christie. É clássico o caso do livro de Agatha Christie O Assassinato de Roger Ackroyd, em que o suspense é levado até o último parágrafo. É verdade que se trata de uma desonestidade da chamada Rainha do Crime para com a curiosidade do leitor, pois ela omite uma informação essencial, mas se trata de um policial exemplar, apesar disso. (LP, nº13, 2006, p. 46) Pode-se questionar o fato de que a escritora é citada exatamente por ser a que proporciona regra à arte, nos dizeres de Kant, ou que a técnica proposta na matéria não é suficiente para classificar uma obra como genial. Entretanto, observa-se que, ao longo do texto, as noções de singularidade, de 86 originalidade, não aparecem. No caso da escritora inglesa, a noção de cânone é empregada no sentido clássico, uma vez que o “cânone clássico eram obras modelos destinadas a serem imitadas de maneira fecunda” (COMPAGNON, 2006, p.33,). Portanto, a autora é apresentada como modelo a ser seguido em termos de técnica, o que se pode depreender no último parágrafo do texto: “Nada complicado, mas tremendamente eficaz (...). Siga o mestre...” (nº 13, 2006, p.46). Soma-se a esse fato o emprego, na matéria, de palavras que remetem à razão – “exata”, “saber”, “competência”, “eficaz” – em oposição ao ideal do gênio original mergulhado no caos criativo, voltado para dentro de si. Nesse caso, o artista é convidado a se voltar para o texto e ao que se propõe a fazer do texto. O uso da conjunção adversativa “apesar disso”, no comentário ao romance O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie, demarca uma crítica ao rompimento das regras do gênero suspense propostas na matéria. O romance é visto como exemplar, porém com a ressalva de que a escritora se excedeu, levou ao limite o suspense, não buscando o equilíbrio tão importante e laureado nos manuais estéticos do classicismo francês e do Renascimento italiano. O que seria valorado como algo essencial à grandiosidade do texto literário, conforme a estética moderna, singularidade perante as outras obras do mesmo gênero, é visto como algo negativo, que não se deve almejar. Nesse caso, o efeito é menos importante que o equilíbrio. O modelo clássico de genialidade e de escrita se apresenta também na seção Técnica da edição de número 23, ano de 2007. Aconselha-se o contato com os escritores renomados, tidos como autoridade no gênero, que dominam a técnica da construção de uma narrativa de ficção científica, de modo que o novo escritor, ou postulante a, possa compreender as engrenagens desse tipo de ficção. O título desse trecho da matéria reitera tal aspecto: A busca de referências. Um bom conselho para se escrever ficção científica é ler bastante. Se você for do tipo que se liga em ciência, é bom ler autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Robert Heinlein. Eles, muitas vezes, se dedicavam mais à especulação científica do que à ficção. Mas seus livros, por mais esquemáticos que sejam em termos literários, não deixam de ser interessantes e muito esclarecedores para novos autores. 87 Já Ray Bradbury, Ursula K. Leguin, J. G. Ballard e Phillip k. Dick são mais criativos do que preocupados em estabelecer sólidas regras científicas para suas invenções. (LP, nº 23, 2007, p. 37) Sendo assim, novamente a figura do autor é relacionada ao indivíduo que domina uma técnica apurada, o conhecedor do engenho textual literário. A matéria segue a prescrever as etapas de construção, uma orientação típica do caráter normativo das poéticas clássicas. Há regras para a construção de um ET ou mesmo para produzir o choque pelo estranhamento. Aqui poderse-ia pensar em dica. Entretanto, como visto na análise do trecho da revista Língua Portuguesa que discute O Assassinato de Roger Ackroyd, os autores que vão além das “dicas” são questionados, mesmo na situação de autormodelo, pois não a seguiram. Mas o ponto que chama a atenção, por tentar mostrar como escrever sem necessitar da tão falada inspiração, segue abaixo: Ter ideias para escrever um texto de ficção científica é praticamente o mesmo processo de qualquer peça de ficção. Não se precisa ter um ponto de partida complexo ou profundo. Pode ser, por exemplo, um personagem que surge dentro da cabeça, um cenário, uma noção científica. Um bom auxiliar é fazer a pergunta “e se?” (LP, nº 23, 2007, p. 36). Ainda: Outra fonte de boas histórias de ficção científica são velhas histórias recontadas, desde contos infantis a obras de outros gêneros literários. Podem ser usados até mesmo textos de não-ficção, que dão ideias a partir de explicações científicas que possam ser extrapoladas. Ou as fontes que deem compreensão geral da ciência. (LP, nº 23, 2007, p. 36). Percebe-se nas citações acima que a inspiração não se encontra ligada à força subjetiva interior ou à imaginação, brotando quando menos se espera, mas que o texto, ou a ideia primeira, surge de uma busca no mundo exterior, até de forma mecânica, como um trabalho de busca intelectual e preconcebido. Na seção Técnica da revista nº 26 de 2007, a crítica contra a ideia de inspiração é mais visível. Na matéria intitulada Caminhos até a poesia afirmase, em seu subtítulo, que, “como a prosa, poema trata de qualquer tema e não 88 depende de inspiração (p. 52)”. Esse tom permanece no corpo da matéria. No primeiro parágrafo, a visão romântica acerca do poeta é atacada: com a cabeça nas nuvens, descabelado, mulherengo, tuberculoso, o poeta herda, até hoje, a imagem estereotipada que vem do romantismo, mostrando-o como um ser de exceção, que é guiado por algo tão impalpável quanto a inspiração. Mas, na verdade, o poeta é um escritor como outro qualquer e escrever poesia não é privilégio de ETs, de ninguém. (LP, nº 26 de 2007, p. 53) A seção Técnica tem como característica primordial a prescrição, cumprindo, muitas vezes, o papel de manual de criação, em que qualquer indivíduo interessado na arte literária poderá compreender os mecanismos pelos quais os textos são produzidos e vir a se tornar escritor. Dessa forma, a seção valoriza um modelo de autor pautado na relação, consciência do signo e domínio da linguagem. Tal modelo não se encontra enclausurado na seção Técnica. Faz-se presente em algumas entrevistas com escritores, como pudemos observar, uma vez que o modelo central de escritor, proposto pela revista, reside exatamente na consciência do signo como estrutura da sua arte, em que se concebe o ato de escrever como uma construção engenhosa. Entretanto, é necessário chamar a atenção para o fato de que esse modelo clássico de genialidade não é representado em Língua Portuguesa tal como foi concebido em seu contexto original. Isso ocorre, entre outras coisas, porque a representação de um objeto, segundo Moscovici (2003), não se reduz à sua reprodução. Na sua elaboração, o novo é remodelado a algo familiar, portanto, o objeto é modificado. O objeto representado, nesse caso, o modelo clássico e sua concepção de gênio e escrita, é assentado em parâmetros de uma poética normativa, baseada na autoridade dos escritores da Antiguidade para classificar os gêneros artísticos e, por conseguinte, definir o que era adequado a cada tipo de composição literária. A representação veiculada na revista substitui os escritores da Antiguidade pelos modernos, mas o parâmetro normativo se mantém, inclusive esses autores são, como já se destacou, alçados à posição de autoridades que prescreverão as normas de cada tipo de composição. Dessa forma, o objeto é remodelado a algo familiar, nesse caso, ao formalismo, 89 ao autotelismo hegemônico nos estudos literários a partir do século XX. Sendo assim, a ênfase nos aspectos técnicos, estruturais da criação visa inserir a ideia clássica de escritor e criação a uma estética moderna que supervaloriza a estrutura textual. Já o gênio original, como foi afirmado anteriormente, percorre as páginas da revista mais entrelaçado na figura do autor. A estrutura do texto, as regras do tecer literário deixam de ser o foco. A inspiração, a singularidade, a originalidade tornam-se valores importantes. Aqui, a ideia embrionária de uma obra não nasce de uma busca externa, consciente, o escritor a possui internamente, latente em seu ser. A inspiração é subjetiva, como se pode observar no trecho da entrevista concedida pelo escritor José Saramago à Língua Portuguesa. Revista: Ítalo Calvino disse certa vez que compunha livros a partir da sugestão de uma única cena. Os seus lhe ocorrem de maneira similar? Saramago: Os meus romances nascem de uma ideia, quase sempre súbita, repentina, algumas vezes traz já o título consigo, outras não. (LP, nº3, 2005, p. 18) Na indagação feita, não fica explícita uma suposta origem da inspiração, pois o entrevistador não esclarece como surge a sugestão da qual parte Calvino para escrever seus romances. Essa ausência de posicionamento do periódico em relação à inspiração tende a deixar o entrevistado mais livre, buscando a opinião do autor sobre determinado assunto. No entanto, o entrevistado demarca sua opinião sobre a inspiração ao afirmar que a ideia nasce de forma súbita, repentina. Essa forma de pensar o processo criativo do qual fala e adere o escritor português José Saramago tem sua origem na concepção de gênio proposta pelos pré-românticos alemães e sistematizada por Immanuel Kant em Crítica da Faculdade de Julgar, publicado originalmente em 1790. Tal concepção é comentada por Mukarovski (1997): “A obra aparece de repente, como a expressão autêntica da personalidade do autor, como réplica material da sua constituição psíquica: é um processo tão espontâneo como a formação de uma pérola”. (p. 277). O artista não procura a natureza, mas encontra-a em si próprio; ele próprio é a força natural e, portanto, a imagem da natureza, que fala a partir 90 dele, através de sua obra, que, por tais razões, é autêntica e não apenas um testemunho dado pelos sentidos na sua representação mecânica. Por esse entendimento, Kant afirma que o gênio é o talento (dom natural) que dá a regra à arte. E como o talento, como faculdade inata produtiva do artista, pertence à natureza, poder-se-ia dizer que gênio é a disposição natural do espírito (engenho) mediante a qual a natureza dá regra à arte. (KANT, 2009, p. 157). Portanto, as regras da arte não podem ser apreendidas intelectualmente. A arte bela é expressa através do gênio original (KANT, 2009). Por isso, o artista no Romantismo se sente singular e enxerga o isolamento como um privilégio ou como uma maldição (MUKAROVSKI, 1997). Esta representação social do artista circula até hoje em nossa sociedade, afinal, quem nunca ouviu a frase: “ele pode. Ele é artista”? Essa regra servirá de ajuizamento para as outras obras, pois, segundo Kant, toda arte pressupõe parâmetros que precisam previamente ser estabelecidos para que se possa qualificar um produto de artístico. Todavia, tal regra não encontra fundamento em um conceito. A chamada arte bela não pode inventar por si mesma a regra. Esta é dada pela natureza através do gênio. Disso resultam, segundo o autor, alguns princípios como a “originalidade precisa ser a qualidade primeira”; “essa obra servirá como cânon, como regra para julgar”; “o gênio não pode escrever por si mesmo, nem indicar cientificamente como obtém seu produto”; “mediante o gênio a natureza dá a regra não para a ciência, mas para a arte” (KANT, 2009, p. 158). No Renascimento, Leonardo da Vinci afirmava que se deve levar em consideração a opinião de qualquer pessoa porque cada homem, mesmo sem ser artista, conhece a natureza. É importante lembrar que nesse período histórico, segundo Todorov (2007), as produções textuais que viriam a se chamar literatura ainda se relacionavam com o mundo; eram vistas como representação da natureza e não com o viés autotélico da estética moderna. Já para o ideal romântico, o artista é artista exatamente porque vê a realidade de maneira diferente das outras pessoas, à sua maneira, de forma original e singular (MUKAROVSKI, 1997; TODOROV, 2007). 91 Na entrevista concedida a Língua Portuguesa, Saramago reitera essa visão ao falar de seu processo criativo. Ao falar da escolha do tema do romance Intermitências da morte, o romancista declara: “O livro veio de uma ideia súbita, dessas que passam logo.” (LP, nº 3, 2005, p. 18). Também Ferreira Gullar, em entrevista a essa revista comunga da mesma visão: “meus poemas nascem do acaso, das circunstâncias da vida. São impulsos, impressões” (LP, nº 5, 2006 p.12). É importante destacar que, apesar de toda a relação apontada pela revista entre autor e obra, há momentos em que essa implicação é suspensa e criticada. Um desses poucos momentos ocorre na noção de gênio romântico veiculada na revista. Nesse sentido, Língua Portuguesa não compartilha daquilo que Mukarovski chama de estética psicologista e tem como premissa a espontaneidade criadora. Os defensores dessa estética concebem a personalidade e a obra como fenômenos paralelos e acreditam que, ao examinarem os processos psíquicos que deram origem à obra, examinam a própria arte. Com o tempo, a estética psicológica foi substituída pela estética objetivista, que declara que a relação entre personalidade do artista e a sua obra tem muitas matrizes e é indireta. Não se trata de uma relação direta, espontânea (MUKAROVSKI, 1997). Na introdução à matéria de capa, com o poeta Vinícius de Moraes (LP nº 26 de 2007), há uma crítica explícita à estética psicológica: “Ícone da literatura brasileira e da bossa nova – estilo que em 2008 completa 50 anos –, Vinícius de Moraes nunca reduziu a poesia ao ideal romântico de fazer do verso uma extensão do poeta”. (LP, nº 26, 2007, p. 38) A matéria em questão traz uma leitura interpretativa da poesia de Vinicius de Moraes e tem por foco a biografia como marca e o trabalho com as questões estruturais da sua poesia, especificamente, a reinvenção da língua e o jogo entre luz e sombra trabalhado nas metáforas criadas por esse poeta. Entretanto, a ideia de singularidade e originalidade ainda permeia a matéria, o que sai de cena nesse caso é a estética psicológica. Ainda sobre a estética psicologista, Mukarovski afirma que a tese romântica da espontaneidade criadora do artista está ultrapassada, pois, ao criar, o autor considera o receptor, e esse compreende a produção artística como uma manifestação e não uma expressão do autor. Sentimos a obra de arte como feita, intencional. Tal intencionalidade – consciente ou não – 92 pressupõe o homem; o sujeito do qual surge o produto artístico. Esse sujeito, portanto, é o próprio princípio da unidade da obra, uma vez que escolhe o tema, a concepção, foco, nomes etc. Sendo assim, o sujeito que escreve é ao mesmo tempo autor e receptor, e a obra é um signo produzido pela intencionalidade, não podendo, dessa maneira, a criação ser compreendida como espontânea, na visão de Saramago, ou a expressão da personalidade do artista, segundo os românticos. A noção de gênio original, mesmo sem a estética psicologista, mas com os seus valores de singularidade e originalidade veiculada em Língua Portuguesa, desencadeiam e sustentam uma visão de arte elitista baseada na segregação, na arte para poucos, no dom natural. Portanto, o conhecimento artístico torna-se privilégio de poucos, operando por uma lógica cíclica, em que o capital cultural se desloca para o si próprio, ou melhor, produz-se uma lógica em que os produtos artísticos, sua apreciação, fruição e posse são naturalizados e universalizados como criação da elite cultural e a ela se destinam (BOURDIEU, 1994). Para compreender melhor esse processo, é de considerável importância a contribuição do estudo de Pierre Bourdieu sobre a gênese e a estrutura do campo literário. Ao analisar a constituição do campo artístico e literário, o autor explica em As regras da arte (1994) que a autonomia do campo da arte iniciase quando declinava a dependência do patronato e ascendia as fortunas dos novos dominantes, industriais que agora conseguiam lucros nunca antes visto, apoiado no Estado e nas novas técnicas. Com suas ligações estreitas entre os mundos políticos e econômicos, as elites se apoderavam progressivamente da imprensa, cada vez mais consumida e cada vez mais lucrativa. Assim nascia um novo diálogo entre o campo artístico e literário e o campo de poder, em que “há uma verdadeira subordinação estrutural”, de acordo com Bourdieu, que se impunha de maneira muito desigual aos diferentes autores, segundo sua posição no campo, mediada ora pelo mercado ora por ligações duradouras que, por intermédio dos salões, unem parte dos escritores e artistas a certas frações da alta sociedade e contribuíam para orientar as generosidades do mecenato de Estado, através da censura, das pensões, cargos, postos e distinções honoríficas, enquanto outras instâncias de sagração, como academias, universidades, não surgiam. 93 Considerando a discussão em torno do campo artístico proposta por Bourdieu (1994), pode-se afirmar que a ideia de gênio como produtor subjetivo de regra e cânon a ser imitado perde a aura que lhe era dada, pois a posição ocupada por ele é conseqüência da luta concorrencial entre os autores que disputam status, poder, legitimidade em uma determinada área permeada por estratégias e regras pré-estabelecidas. Portanto, a manutenção dessa noção (artista como gênio criador) da acepção moderna de literatura propicia a manutenção de uma aura da atividade artística, proporcionando uma sacralização e uma segregação entre os gênios e os “meros mortais”. Os românticos, como já vimos, pensaram o autor de maneira que a instância responsável pela gênese absoluta da obra, isto é, a produção do texto, tem como origem absoluta o sujeito criador. Tal visão justifica para o leitor a estética da expressão do eu autoral. O leitor não vai encontrar uma obra qualquer, mas uma obra assinada, produzida por um espírito puro, como diria Immanuel Kant. Todavia, percebendo que, segundo Mukarovsky (1997), “cada vez se compreende melhor que o conteúdo da consciência individual é dado, até a sua maior profundidade, pelos conteúdos da consciência coletiva”, é inviável ao artista, como queria Schlegel, criar uma obra de arte do nada, ser a origem absoluta da obra, pois a consciência individual está ligada à consciência coletiva. À visão de Mukarovsky pode-se acrescentar o conceito de dialogismo proposto por Mikhail Bakhtin. Segundo Bakhtin/Volochinov (2002), toda compreensão de um texto implica uma responsividade e, por conseguinte, um juízo de valor, uma vez que o leitor concorda, discorda, total ou parcialmente, completa ou traduz. Toda compreensão é carregada de resposta. Porém, cabe aqui falar sobre a enunciação, conceito essencial na antropologia filosófica desse pensador russo. A enunciação é o resultado da interação entre dois indivíduos organizados socialmente, não existe fora de um contexto sócio-ideológico, em que cada locutor tem um local social bem definido, situacional; em outros termos, histórico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2002). O princípio constitutivo do enunciado é o dialogismo, entendido como um modo de funcionamento real da linguagem. Em um enunciado, convivem pelo menos duas vozes, e por isso, revela as duas posições: a do eu e aquela em oposição à qual ele se constrói. Sempre em um enunciado há um contrato com 94 uma das vozes da polêmica, possibilitando dessa maneira a percepção de que lugar fala o enunciador. Quando enunciamos, esperamos uma atitude responsiva, do mesmo modo que, quando somos o interlocutor em uma enunciação, somos levados a uma réplica. Sendo assim, a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas lingüísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2002, p. 123). O autor afirma a noção de dialogismo como princípio fundador da linguagem: toda linguagem é dialógica, isto é, todo enunciado é sempre um enunciado de um locutor para seu interlocutor. Logo, toda linguagem é fruto de um acontecimento social-histórico-ideológico. Outro sentido que se configura para o dialogismo é que um texto sempre responde a outro texto ou internaliza vozes de outro discurso. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas (BAKHTIN, 2002, p. 183). A subjetividade, aspecto importante do dialogismo, é construída pelo conjunto de relações sociais de que participa o sujeito. Não estando meramente submisso às estruturas sociais nem autônomo em relação à sociedade, este sujeito é um indivíduo histórico, social e ideológico, constituído pela linguagem, pelo outro. Considerando essa concepção de subjetividade proposta por Bakhtin, a ideia de autor como origem absoluta da obra de arte, proposta por Kant, perde a validade, posto que o sujeito constitui-se discursivamente, apreendendo as vozes sociais da realidade em que ele está imerso. Se o sujeito é constitutivamente dialógico, isto é, existe na relação eu/outro, que é o princípio geral do agir, como poderia haver um sujeito que seria a origem única e em si 95 mesmo da obra? Como poderia o gênio ser produto de um dom natural, se o sujeito está sempre em relação com o outro, se é através do outro que recebe um nome e descobre o nome das coisas? Considerando essas categorias conceituais propostas por Bakhtin, a ideia de gênio produzida pela modernidade estética não encontra sustentação, uma vez que é a consciência do autor – um sujeito constituído pelo dialogismo – que abarca e dá acabamento ao personagem e seu mundo, e não o dom individual e divino. Ao adotar uma noção de gênio produzida e justificada pelo modelo epistemológico moderno, que formatou o campo de produção erudita, a revista Língua Portuguesa ignora a pluralidade de linguagens, como a dos quadrinhos, da música, da literatura oral, em que a voz autoral, uma noção de gênio, é minimizada ou inexistente. Cai por terra ainda a ideia de originalidade, que sustenta noções como ruptura, gênio, vanguarda, vê-se abalada quando confrontada com o conceito de dialogismo de Bakhtin (2002), pois um texto sempre responde a outro texto, o que o impossibilita de ter uma única voz, que seria para Kant a origem absoluta da obra bela. A concepção de dialogismo de Bakhtin permite observar a construção da subjetividade e compreender que o ser humano é inacabado e incompleto, demonstrando o caratér dialógico, social, histórico e ideológico do sujeito. Sendo assim, pode-se perceber que essa concepção não sustenta uma visão essencialista do homem, nem a do gênio criador, uma vez que o sujeito é constituído pelo outro, na relação com a alteridade, tal como texto sempre responde a outro texto ou internaliza vozes de outro discurso. A concepção de campo de Bourdieu possibilita entender que os grandes escritores, os gênios, não se encontram no topo do cânon por sua capacidade divina de produzir a arte bela, mas por, de algum modo, corresponderem à lógica do campo artístico, não havendo nada de sobrenatural, e sim uma luta pela legitimidade, pelo poder. Tal poder é reiterado em Língua Portuguesa, na medida em que, com a pretensão de ser um instrumento de capacitação do profissional de Letras e um divulgador da língua, silencia quanto às possíveis discussões sobre as representações da literatura, inclusive as representações que ela própria produz. 96 4. FECHANDO AS PÁGINAS DA REVISTA Nesta dissertação, procedemos a um percurso de análise que sustentasse as discussões acerca das figurações da literatura na revista Língua Portuguesa. Inserimos esse periódico no jornalismo cultural por entender que a língua, o idioma – recorte temático dessa revista –, é um aspecto da cultura, tal como observam Rivera (2003) e Piza (2003). Dessa forma, a revista analisada foi caracterizada como pertencente ao jornalismo cultural, portanto, possuidor de certas características, como a presença de especialistas nas redações, um tratamento mais crítico e menos informativo em relação ao que se publica, embora não se possa ignorar que a revista elege alguns temas, abordando-os sem questionamentos, como verdades universais. A revista Língua Portuguesa foi selecionada para este estudo no intuito de entender modos de apropriação, disseminação e re-apresentação dos conhecimentos elaborados nas universidades pelos meios de comunicação de massa, mais especificamente, pelo jornalismo cultural. O interesse da revista pelo conhecimento instituído revela o caráter ideológico que a publicação possui, na medida em que tal discurso busca anular as diferenças, o novo, o instituinte, em prol da universalização da imagem residente na classe dominante. Essa relação de dominação se esconde na suposta neutralidade do discurso científico. E a revista cumpre uma função disciplinadora ao pôr no centro de sua argumentação a competência linguística como base para o sucesso profissional e exercício da cidadania. A abordagem da figuração da literatura na Língua Portuguesa se justifica na medida em que se destaca o caráter ideológico e a função estratégica que o jornalismo possui na sociedade atual. A saber, interfere nas nossas representações sociais, em nossos valores, práticas e modos de existir. Nesse sentido, ajuda a alargar as duas funções das representações sociais propostas por Moscovici: convencionalizar os objetos, dando-lhes uma forma definitiva, ao mesmo tempo em que as põem como modelos e prescrever, isto é, impõe seu caráter prescritivo sobre o sujeito, uma vez que, ao nascermos, entramos em contato com uma tradição que determina como devemos viver e pensar. Sendo assim, a compreensão de quais figurações a Língua Portuguesa veicula 97 pode contribuir para um maior debate sobre a disseminação do conhecimento instituinte e do caráter ideológico das abordagens tradicionais e dos conceitos de literatura. Ao analisarmos as figurações de literatura produzidas pela revista, constatamos a reiteração dos métodos tradicionais de abordagem literária, tendo como centro uma historiografia de base positivista (relação autor/obra) e ao seu redor as análises imanentes do texto. Nesse sentido, a Língua Portuguesa busca encaixar uma abordagem externa em uma interna, isto é, mesmo quando a literatura emerge em seus aspectos estruturais a figura do autor está presente de forma central. A reflexão sobre as figurações foi construída a partir de cinco seções: Figuras da Linguagem, Obra Aberta, Técnica, Frase e Versão Brasileira. Inicialmente observamos e refletimos sobre as figurações não centrais, a saber, a literatura como narrativa nacional das comunidades imaginadas e observamos a manutenção de uma perspectiva tradicional da historiografia literária, na medida em que a reiteração do cânone nacional traz consigo o apagamento das identidades culturais e suas reinterpretações da identidade nacional. Sendo assim, a revista exerce uma função sacralizante. Outra figuração periférica produzida pela revista diz respeito ao tratamento da linguagem, isto é, a literatura como arte da linguagem não-pragmática. A partir dos métodos imanentistas utilizados pelo periódico para analisar textos literários, pudemos compreender alguns aspectos do autotelismo veiculado. Esse separa a vida da arte, ao focar nos aspectos estruturais da obra, assim como não contempla outras possibilidades de escrita literária, excluindo dessa forma as produções que não possuem o tratamento específico com a linguagem como base estética. Por fim, compreendemos que o autor é a figuração central da Língua Portuguesa ao ser essa a voz que descortina os aspectos da literatura, o sujeito que enuncia o eu e explica sua obra, assim como o fazer literário no espaço central da revista, a entrevista. Concluímos que tal figuração, a literatura como autor e obra, exclui do jogo do texto o leitor, uma vez que o sentido do texto está do lado de quem produz, seja na sua voz, seja na sua vida biográfica. Tal biografia, mesmo quando abordada como marca da escritura literária, emerge via voz autoral. E dessa figuração central 98 depreendem-se dois modelos do fazer literário: o do gênio clássico, dialogando diretamente com a literatura como forma de linguagem não-pragmática, e o do gênio romântico. Percebe-se, dessa forma, uma operação metonímica, a literatura é o autor e sua obra. Dessa forma, a revista Língua Portuguesa, que se vende como uma possibilidade de capacitação do professor, atua como inibidor de possíveis mudanças no ensino e nas figurações de literatura, na medida em que reitera e promove a representação social que a literatura possui no imaginário da cultura ocidental. 99 REFERÊNCIAS ABREU, Márcia. Cultura letrada. São Paulo: Unesp, 2004. ANDERSON, Benedict. Memória e esquecimento. In: ROUANET, Maria Helena. Nacionalidade em questão. Universidade do Rio de Janeiro: IL, 1997. ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989. ARGAN, Giulo. A arte moderna. São Paulo, Companhias das Letras, 1992 ARFUCH, Leonor. O espaço Biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Trad. Paloma Vidal. Rio de janeiro: Ed. Uerj, 2010 BHABHA, Homi K. Narrando a nação. In: ROUANET, Maria Helena. Nacionalidade em questão. Universidade do Rio de Janeiro: IL, 1997. BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 2007 ______. A morte do autor. In: ______. O rumor da Língua. Lisboa, Portugal: edições 70, 1987. ______. O escritor em férias. In______. Mitologias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 23-25. BAKHTIN, M.; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. M. Lahud e Y. F. Vieira. 13ª ed. São Paulo: Hucitec, 2002. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Paulo: Martins Fontes, 2003. Trad. Paulo Bezerra. São BERND, Zilá. Literatura e identidade nacional. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas simbólicas. Trad. Fernando Tomaz. São Paulo: Perspectiva, 2004. CAGLIARI, L. C. Análise fonológica. Campinas: Mercado de Letras, 2002. CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas. Trad. Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: Edusp, 2003. CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. São Paulo: Cortez, 2011. 100 CHKLOVSKI, V. A arte como procedimento. IN: EIKHENBAUN, B. et al. Teoria da literatura; formalistas russos. Porto Alegre, Globo, 1973. COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria; literatura e senso comum. Trad. Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma Introdução. Trad. Waltensir Dutra. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. ______. A ideia de cultura. Trad. Sandra Castello Branco. 2ª ed. São Paulo: Unesp, 2000. FARR, Robert M. Representações sociais: a teoria e sua história. In: GUARESCHI, Pedrinho A.; JOVCHELOVITCH, Sandra (Orgs.). Textos em representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: Estética: Literatura e pintura, música e cinema. São Paulo: Forense universitária, 2002. ______. A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996. ______. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ______. Vigiar e punir. São Paulo: Vozes, 1997. GADINI, Sérgio Luiz. Além da informação, serviço e orientação ao consumo: o jornalismo cultural como um (quase) sinônimo de interpretação e crítica. Pauta Geral, n.5, p 211-236, 2003. GADINI, Sérgio Luiz. Grandes estruturas editoriais dos cadernos culturais: Principais Características do Jornalismo Cultural nos Diários Brasileiros. Trabalho apresentado no II Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Salvador, Novembro de 2004. HAMBURGER, Michel. A verdade da poesia. Trad. Alípio de Franca Neto. São Paulo: Cosac Naify, 2007. HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2003. HERDER, Johann Gottfried. Poesia, língua e terra natal. In: SOUZA, Roberto Acízelo (Orgs). Uma ideia moderna de literatura. Chapecó: Argos, 2011. HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780. São Paulo: Paz e Terra, 1998. HOISEL, Evelina. Grande sertão: veredas – uma escritura biográfica. Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; Academia de Letras da Bahia, 2006. 101 ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996, v. 1. ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1999, v. 2. JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: Ativa, 1994 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. São Paulo: Ícone, 2009. LIMA, Luiz Costa lima. Literatura e nação: esboço de uma releitura. In: Revista brasileira de literatura comparada. Rio de Janeiro: Abralic, 1996, p. 33-41. LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Segmento, 2005-2007. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações; comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. MEDITSCH, Eduardo. O jornalismo é uma forma de conhecimento? Media & Jornalismo, v. 1, n. 1, 2002, p. 9-22. Disponível em: <www.bocc.ubi.pt>. Acesso em: 21 jun. 2007. MELO, José Marques de. A opinião do jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985. MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: A segmentação da cultura no século XX. São Paulo: Olho d’Água/Fapesp, 2001. MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 2004. MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. MUKAROVSKY, Jan. Escritos sobre estética e semiótica da arte. Lisboa: Estampa, 1997. NINA, Cláudia. A literatura nos jornais: A crítica literária dos rodapés às resenhas. São Paulo: Summus, 2007. NOVALIS. Poesia. In: SOUZA, Roberto Acízelo (Orgs). Uma ideia moderna de literatura. Chapecó: Argos, 2011. ORTEGA Y GASSET, Jose. A desumanização da arte. São Paulo: Cortez, 2005. PELLEGRINI, Tânia. A literatura e o leitor em tempos de mídia e mercado. http://www.unicamp.br/iel/memoria/projetos/ensaios/ensaio33.html Acesso em 05.07.2010 PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2007. 102 PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto, 2003. RALLO, Élisabeth Ravoux. Métodos de crítica literária. São Paulo: Martins fontes, 2005. RIVERA, Jorge B. El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós, 2003. REIS, Roberto. Cânon. In: JOBIM. J.L. (Org). Palavras da crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992. SANTIAGO, Silviano. A crítica literária no jornal. In: O cosmopolitanismo do pobre. Belo Horizonte: editora UFMG, 2004, p. 157-167. SCALZO, Marília. Jornalismo de Revista. São Paulo: Contexto, 2008. SHUSTERMAN, Richard. Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular. São Paulo: 34, 1998. SOUSA, Jorge Pedro. Elementos do jornalismo impresso. Florianópolis: letras contemporâneas, 2005. SOUZA, Roberto Acízelo. Iniciação aos estudos literários. São Paulo: Martins fontes, 2009. ______. (Orgs). Uma ideia moderna de literatura. Chapecó: Argos, 2011. TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Trad. Caio Meira. Rio de janeiro: Difel, 2007. ______. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. VICO, Giambattista. Da metafísica poética, que nos dá a origem da poesia. In: SOUZA, Roberto Acízelo (Orgs). Uma ideia moderna de literatura. Chapecó: Argos, 2011. WHITE, Jan V. Edição e design. [S.l.]: JSN Editora . 2005. WILLIAMS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 103 ANEXOS Anexo 1 104 Anexo 2 105 Anexo 3 106 Anexo 4. 107
Download