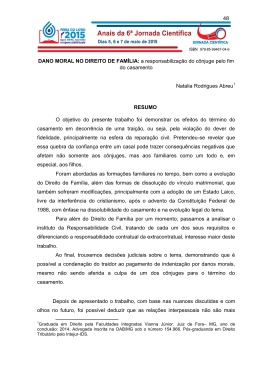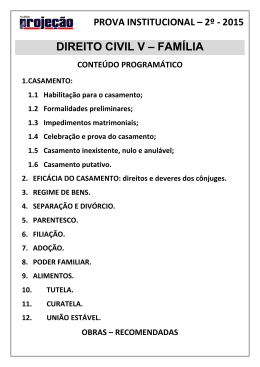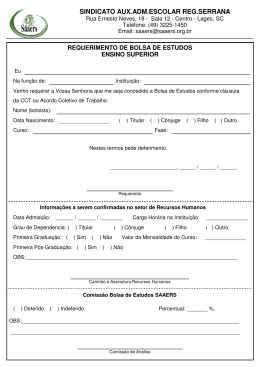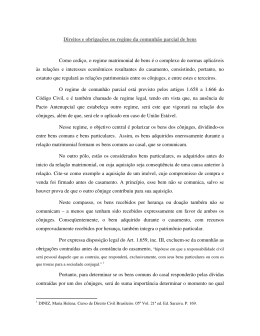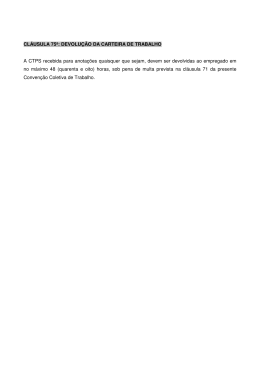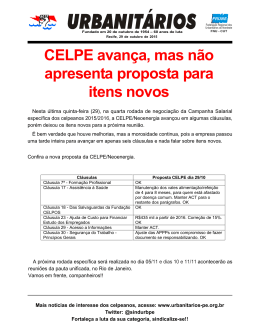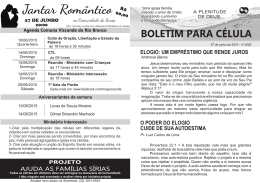ISSN 2175-2176 Revista Digital Ano VI - Número 23 Julho a Setembro de 2014 Conselho Editorial Coordenador-Geral Fernando Maximo de A. Pizarro Drummond Conselho Editorial Antonio Luiz Calmon Teixeira da Silva - BA Alexandre Brandão Martins Ferreira - RJ Claudia Lima Marques - RS Claudio Araújo Pinho - MG Ester Kosovski - RJ Geraldo Luiz Mascarenhas Prado - RJ José Ribas Vieira - RJ Luiz Dilermando de Castelo Cruz - RJ Vitor Sardas - RJ Revista Digital do Instituto dos Advogados Brasileiros / Instituto dos Advogados Brasileiros. Vol. VI, n.23 (jul. – set. 2014). Rio de Janeiro: IAB, 2014 [on-line]. Trimestral. Disponível em: http://www.iabnacional.org.br/ ISSN 2175-2176 1. Direito – Periódicos. I. Instituto dos Advogados Brasileiros. CDD 340.05 CDU 34(05) Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Daniel Aarão Reis 2 2 Sumário 4 CORRÊA, Rodrigo de Oliveira Botelho O Papel do Direito na Contenção dos Efeitos Maléficos da Corrupção nas Atividades Negociais 38 NICOLAY, Thiago O Critério do Regime de Bens para o Direito Sucessório sob a Ótica Civil-Constitucional 81 ALBUQUERQUE, Ivana Harter Cláusulas Contratuais Limitativas e Excludentes do Dever de Indenizar 127 PEREIRA, Jacqueline Lopes A Família Solidária como Proposta de Mitigação de Vulnerabilidades de Idosos, Pessoas com Deficiência e Famílias Monoparentais 166 CERQUEIRA, Fábia Larissa O Dano Moral no Casamento por Infração Grave aos Deveres Conjugais 210 SCHKRAB, Claudia de Sá Cardoso Código de Defesa do Consumidor x Convenção de Montreal: qual ordenamento jurídico aplicar para garantir os direitos dos usuários de transporte aéreo internacional 3 3 Doutrina O Papel do Direito na Contenção dos Efeitos Maléficos da Corrupção nas Atividades Negociais Rodrigo de Oliveira Botelho Corrêa1 RESUMO: Nesse trabalho estuda-se a repercussão que a corrupção gera nas atividades negociais. O foco do trabalho é o efeito que a corrupção causa aos participantes dos diversos mercados, principalmente no tocante ao aumento dos custos para se negociar e a perda de oportunidades lícitas e legítimas de negócios. O objetivo principal é verificar como o Direito pode atuar para conter os efeitos maléficos da corrupção nesse ambiente de mercado. Palavras-chave: Corrupção – Atividade Negocial – Reparação de Danos ABSTRACT: In this paper we study the impact that corruption generates in business activities. His focus is the effect that corruption causes the participants of the various markets, particularly with regard to increased costs to negotiate and the loss of lawful and legitimate business opportunities. The main goal is to see how the law can act to contain the evil effects of corruption in this market environment. Key-words: Corruption – Business Activities – Demage Repair SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1. ATIVIDADE NEGOCIAL E MERCADO 1.1 O direito comercial antes do liberalismo clássico 1.2 Os atos de comércio 1.3 A teoria da empresa 1.3.1 A teoria da empresa no Código Civil brasileiro 1.3.2 A influência da Economia sobre a teoria da empresa 2. A ATIVIDADE NEGOCIAL 2.1 A empresa como mecanismo para a redução dos custos de transação e instrumento de ganho de eficiência 3. O DANOS À ATIVIDADE NEGOCIAL GERADO PELA CORRUPÇÃO E A SUA REPARAÇÃO 3.1 A repressão à corrupção pelo 3.2. A reparação do dano provocado à atividade negocial por ato de corrupção 3.2.1 O conceito de dano material 3.2.2 Os danos emergentes 3.2.3. Os lucros cessantes 3.2.4 A perda de uma chance. Conclusão. Referências 1 4 Primeiro colocado do concurso de monografias "Aloysio Maria Teixeira" na categoria advogado 4 INTRODUÇÃO O objetivo desta monografia é o compreender o papel que o Direito exerce na contenção dos efeitos maléficos que a corrupção produz, notadamente no âmbito das atividades negociais. Os jornais estampam, para infelicidade da população, quase que diuturnamente, notícias envolvendo corrupção. São casos de suborno, nos quais os envolvidos recebem ou pretendem receber vantagens indevidas. Eles ocorrem tanto no âmbito do Poder Público, quanto na esfera privada. Além de causarem opróbrio e indignação, a corrupção produz efeitos econômicos perversos. Ela atinge o sistema de mercado – invertendo a lógica de que o preço é o principal referencial para a tomada de decisões - e viola princípios constitucionais como o da livre concorrência e da livre iniciativa. Por isso o Direito precisa atuar para evitar, corrigir ou superar esses efeitos daninhos. Especificamente quanto às atividades econômicas, que são as que mais importam para o presente estudo, a corrupção gera custos e impede oportunidades. Por impactarem um direito legítimo, que é o exercício de atividade produtiva, os custos e as chances perdidas devem ser consideradas danos e, como tais, devem ser reparados integralmente. Não basta, contudo, que o Direito assegure essa reparação. Se essa conduta afeta direitos legítimos, é indispensável que o ordenamento jurídico o tutele integralmente. Sendo assim, cumpre ao sistema jurídico desempenhar esse papel de garantir a efetividade desses direitos, o que pode ser feito de três formas: (i) repressão da conduta antijurídica por meio da previsão de sanções – que podem ser de caráter penal, administrativo e civil -; (ii) adoção de estímulos que induzam a pessoa a praticar atos que não sejam contrários à lei, e, como já mencionado, (iii) reparação integral dos danos causados pelos envolvidos no ato de corrupção. Para o cumprimento dessa tarefa deverão ser analisados os efeitos econômicos que esse tipo de conduta produz e as formas pelas quais os danos podem ser evitados, mitigados ou reparados. Este estudo, contudo, se restringirá ao exame da terceira hipótese, ou seja, a reparação integral dos danos causados pelos envolvidos no ato de corrupção. Como o estudo se limitará ao ordenamento brasileiro, é necessário relatar a evolução do tratamento jurídico dado à atividade negocial, com especial atenção à adoção da teoria da empresa pelo direito comercial e o momento atual dessa disciplina. Somente então será possível se medir a extensão dos danos aventados e compreender como o Direito pode atuar para eliminar ou mitigar os efeitos malévolos decorrentes dessa forma de atuar. 5 5 A pesquisa parte, portanto, do problema relacionado ao tratamento dado pelo direito aos efeitos produzidos pela corrupção especificamente quanto às atividades negociais, tal como a exploração de empresa. No desenvolvimento do tema, procurou-se demonstrar como a corrupção, por deturpar princípios econômicos, morais e éticos que são considerados pelo Direito, atinge expectativas e direitos legítimos, devendo ser objeto de repressão. O trabalho foi estruturado em pesquisa jurídico-teórica, de cunho bibliográfico e documental, vinculada à área de direito civil empresarial, tendo sido utilizado o método dedutivo. No capítulo 1 buscou-se situar o problema por meio de um panorama do tratamento dado à atividade negocial e à tutela do mercado. Traçou-se a linha histórica que refletiu a evolução do Direito Comercial, do seu surgimento como um direito voltado para a disciplina da classe dos comerciantes – vertente subjetivista , a guinada que sofreu com a ascensão da teoria dos atos de comércio – visão objetiva -, e, por fim, a entrada da teoria da empresa e da proteção do mercado. O capítulo 2 dedicou-se ao estudo da atividade negocial, notadamente do papel que a empresa desempenha no aumento da eficiência por meio da redução de custos. Por fim, dedicou-se o capítulo 3 à análise dos efeitos malévolos da corrupção e como o Direito deve lidar com isso. 1 ATIVIDADE NEGOCIAL E MERCADO Com o objetivo de situar o problema, analisa-se, neste capítulo, o desenvolvimento do direito comercial: a sua concepção medieval calcada na figura da pessoa do mercador; a adoção, pelo liberalismo clássico, da figura dos atos de comércio positivados; o surgimento da teoria da empresa e, finalmente, a empresa como elemento do ordenamento do mercado. Trata-se de assunto necessário para se compreender a questão debatida nesta monografia, qual seja o alcance da reparação de danos surgidos às atividades negociais decorrentes da corrupção. A trajetória do direito comercial está atrelada à prática reiterada dos mercadores e aos usos e costumes por eles adotados. A partir da necessidade de se tornar mais seguras essas relações comerciais, ele se positiva: primeiramente, nos estatutos das corporações de ofício e associações de classe; depois, nos códigos liberais e, em seguida, nos inúmeros diplomas legais que disciplinam seus institutos. 6 6 Parte-se neste capítulo da formação das instituições mercantis na Idade Média 1. Isso porque, conquanto houvesse intensa atividade comercial nas civilizações da Antiguidade, não se conhece registros da existência da figura do comerciante de profissão.2 O surgimento do direito das corporações de ofício é a primeira etapa dessa jornada até alcançar o moderno ordenamento do mercado, no qual a empresa, na condição de atividade organizada com vistas ao lucro, configura um importante elemento, notadamente para a redução dos chamados, numa tradução descuidada, de “custos de transação”, que nada mais são do que os custos institucionais relacionados ao mercado. Esse ordenamento do mercado é constituído por diversos outros ordenamentos volvidos a determinado setores, sendo o direito comercial apenas um deles. 1.1 - O DIREITO COMERCIAL ANTES DO LIBERALISMO CLÁSSICO Não é possível se afirmar, com segurança, que houve um direito comercial na mais remota antiguidade, não obstante, com o aparecimento da moeda, tenha surgido a figura do mercador, que tinha por profissão intermediar as trocas do comércio. Existiram, sim, algumas normas voltadas a disciplinar essa atividade, como o Código do Rei Hammurabi, da Babilônia, tido como uma das mais antigas normas escritas. São conhecidas, ainda, diversas regras jurídicas, regulando instituições de direito comercial marítimo, que os romanos acolheram dos fenícios, denominadas Lex Rhodia de Iactu (alijamento) ou institutos como o foenus nauticum (câmbio marítimo). Mas nenhuma dessas normas chegou a formar um corpo sistematizado, voltado para a disciplina dessa área do Direito3. O Império Romano desconhecia o direito comercial. Os estrangeiros - que eram quem geralmente praticavam mercancia - eram regidos pelo jus gentium, ao passo que os cidadãos romanos – dedicados mais às atividades rurais e ao exercício dos atributos da propriedade - observavam o jus civile, que previa normas distintas 1 2 3 Para um panorama da atividade comercial na Antiguidade, v. FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1960, pp. 14-50. Registra Alfredo Lamy Filho, citando Levin Goldschmidt: “Em verdade – repetimos – o comércio ‘mão na mão, olhos nos olhos´ sempre se praticou, e há milênios, na China ou no Egito, ou em Pompéia, em Óstia ou na Grécia. E também nos mercados, área a que todos tinham igual acesso para efetivar as trocas. Mas não há referência ao comerciante de profissão, e é nos mercados que se desenvolvem as primeiras noções dessa relação que se constitui no ‘valor das coisas’ (Temas de S.A. – Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 4). REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1, p. 8 7 7 do primeiro. Não havia, assim, um direito especial voltado para tratar das questões do comércio. A Idade Média, contudo, o conheceu. Após a queda de Roma, com o restabelecimento da ordem política, administrativa, social e econômica do ocidente, o comércio voltou a florescer, sobretudo na Itália, em cidades como Veneza, Pisa, Gênova, Milão, Bolonha e Florença. Como afirma João Eunápio Borges, o misto de direito romano e canônico que vigorava na Itália nessa época não satisfazia os interesses dos comerciantes, sobretudo em vista da hostilidade do direito canônico à usura 1. As corporações, que haviam sido formadas como reação às invasões e ao arbítrio dos senhores feudais 2, elaboraram um novo direito para os comerciantes. Destaca Waldemar Ferreira, que os “[n]egociantes, banqueiros, industriais, artejanos, quantos se sentiram atraídos por interêsses (sic) comuns, se organizaram em corporações, sujeitas a rigorosa disciplina, em que residia o segrêdo (sic) de sua força”.3 Cuida-se de um ordenamento fincado no sujeito para o qual ele era dirigido, isto é, o mercador. Ele alcançou grande importância, muito em decorrência da fragilidade da organização dos Estados. Não havia ainda uma consciência exata do papel do Estado. Nessa época “se confundem o público e o privado, o imperium e o dominum, a fazenda do príncipe e a fazenda pública”4. Os usos comerciais e os estatutos corporativos tornaram-se o direito comum de todos os comerciantes da Europa, “o jus mercati ou jus mercatorum que dominava sem contraste, em todos os portos, feiras e mercados”5. Registra João Eunápio Borges que remontam a essa época diversos institutos do direito comercial, como a matrícula dos comerciantes, a necessidade e força probante dos seus livros, as sociedades comerciais, as letras de câmbio, as operações bancárias, o seguro e a falência6. Na França, com a ascensão do Absolutismo, o direito das corporações de ofício foi sucedido por corpos de leis baixados por Luís XIV, sob a influência do seu ministro de Estado e da economia, Jean-Baptiste Colbert. A primeira dessas Ordenanças, de março de 1673, se referia ao comércio terrestre, regulando as atividades dos “negociantes, mercadores, aprendizes, agentes de bancos e corretores, livros de comércio, sociedades, letra de câmbio, notas promissórias, prisão por dívidas, moratórias, caução de bens, falências, bancarrotas, jurisdição 1 2 3 4 5 6 8 BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial Terrestre. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1976, pp. 24-25. FERREIRA, Waldemar, op. cit, p. 39. Ibidem, p. 39-40. TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro. Renovar. 1991, p. 14. BORGES, João Eunápio, op. cit, p. 27; HEINSHEIMER, Karl. Derecho Mercantil. Trad. Agustín Vicente Gella – Barcelona: Editorial Labor S. A., 1933, p. 3 BORGES, João Eunápio. Idem, p. 26. 8 comercial”. Ela é comumente chamada de “Código Savary”, em vista da contribuição dada por um comerciante que tinha esse nome. A segunda, baixada em 1681, foi a Ordenança da Marinha, que regulava vários contratos do direito marítimo1. Com as revoluções liberais, as ordenações francesas foram substituídas pelo direito dos códigos. Elas, entretanto, constituíram-se em importantes fontes de estudo para os legisladores liberais e serviram de inspiração para o Code de Commerce de 1807, que inaugurou uma nova fase do direito comercial. 1.2 - OS ATOS DE COMÉRCIO O chamado período estritamente subjetivista do direito comercial, que retrata a fase na qual ele traduzia um “direito corporativo, profissional, especial, autônomo, em relação ao direito territorial e civil, e consuetudinário”2 sofreu com certas fragilidades institucionais, notadamente pelo seu objeto, pois esse era o critério que definia a competência judiciária dos cônsules e magistrados, aos quais cabia a aplicação contenciosa do direito das corporações. Isso porque muitos aspectos da vida do comerciante não deviam ser submetidos a esse direito; eles, à ciência certa, praticavam atos da vida civil, que não se relacionavam com a atividade econômica e profissional que exerciam. Era necessário, assim, delimitar a matéria que seria submetida e esse direito especial. Começa-se, então, a delinear-se o conceito objetivo calcado sobre o ato de comércio. Esse conceito dá um passo importante com as ordenações francesas de 1673 e 1681. Todavia, foi com a Revolução Francesa, que constituiu-se na principal revolução liberal, tendo influenciado inúmeros outros movimentos dessa natureza, que ele se firmou. Seus ideais eram contrários a privilégios, como a existência de um direito corporativo especial e autônomo. Não à toa, em 14 de junho de 1791, foi editada a célebre Lei Le Chapelier, que proibiu, sob qualquer forma, a constituição e manutenção de todas as espécies de corporações de cidadãos do mesmo estado e profissão. Há de se acrescentar a esse movimento a codificação do direito privado, que foi um dos principais frutos dessa revolução. Especificamente no que tange ao direito 1 2 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 10 REQUIÃO, Rubens, op. cit., p. 11. 9 9 comercial, viu-se que o direito das corporações de ofício, calcado na figura do mercador que integrava a corporação, foi sucedido por ordenações. Estas, que tinham origem absolutista, foram substituídas por um código: o Code de Commerce de 1807. Esse código, apesar de não haver inovado muito nessa matéria, tendo conservado quase tudo o que dispunham as ordenações que o antecederam, solidificou a repressão àquele direito das corporações de ofício. Inspirado pelos aventados ideais liberais da Revolução Francesa, o Código napoleônico de 1807 repeliu privilégios. Recusou a existência de um direito classista, que não se submetia ao poder do Estado. Até porque, como já havia sido notado pelos absolutistas, aquele direito medieval não era adequado para fazer frente às necessidades de conquista de novos mercados. Principalmente, o Código Comercial francês adotou a concepção objetiva do direito comercial. Nas palavras de Paula Andréa Forgioni, “[c]om sua supressão e promulgação do Código Comercial francês, a competência especial firma-se na prática de determinados atos: os atos de comércio”1. Essa tendência orientou vários códigos editados posteriormente, como o Código Comercial espanhol de 1829; o Código Comercial português de 1833 e o Código Comercial italiano de 1865. Assim também se deu no Brasil, por meio do Regulamento n. 737 de 1850. Conquanto o Código Comercial de 1850 tenha adotado, a princípio, uma posição subjetiva, ao dispor, no seu artigo 4º, que “[n]inguém é reputado comerciante [...], sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da mercancia profissão habitual”, da mesma forma como fez o artigo 9º ao asseverar que “[o] exercício efetivo de comércio para todos os efeitos legais presume-se começar desde a data da publicação da matrícula”, o citado Regulamento, que disciplinava a “ordem do Juizo (sic) no Processo Commercial”, estabelecia quais seriam os atos de comércio ou de mercancia (artigos 19 e 20)2. 1 2 10 FORGIONI, Paula Andréa. A Evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 40. Dispunha o artigo 19 do citado Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850: “Considera-se mercancia: § 1º A compra e venda ou troca de effeitos moveis ou semoventes para os vender por grosso ou a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou para alugar o seu uso. § 2º As operações de cambio, banco e corretagem. § 3° As emprezas de fabricas; de commissões; de depositos; de expedição, consignação e transporte de mercadorias; de espectaculos publicos. § 4.° Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer contratos relativos ao cornmercio maritimo. § 5. ° A armação e expedição de navios.” Já o artigo 20, determinava que: “Serão tambem julgados em conformidade das disposições do Codigo, e pela mesma fórma de processo, ainda que não intervenha pessoa commerciante: § 1º As questões entre particulares sobre titulos de divida publica e outros quaesquer papeis de credito do Governo (art. 19 § 1º Tit. unico Codigo). § 2.° As questões de companhias e sociedades, qualquer que seja à sua natureza e objecto (art. 19 § 2º Tit. unico Codigo). § 3." As questões que derivarem de contratos de locação comprehendidos na disposição do Tit. X Parte I do Codigo, com excepção sómente das que forem relativas á locação de predios rusticos e urbanos (art. 19 § 3° Tit. unico Codigo). § 4º As questões relativas a letras de cambio, e de terra, seguros, risco, e fretamentos”. 10 Logo, conquanto já fosse possível se notar algum espaço para uma concepção subjetiva de comerciante, sua ordem legal foi calcada em preceitos de ordem objetiva. A doutrina da época, entretanto, tinha grande dificuldade de estabelecer um sentido unívoco para o objeto do direito comercial. Cada autor procurou, a seu modo, apresentar uma noção de ato de comércio ou de mercancia, já que a concepção puramente objetiva não era suficiente para retratar o fenômeno da atividade de comércio. Essa dificuldade permaneceu mesmo após a revogação do Decreto n.º 737 de 1850, ocorrida com o advento do Código de Processo Civil de 1939, uma vez que, em vista da existência de institutos próprios do comerciante – como a compra e venda mercantil -, do costume arraigado, da jurisprudência e da doutrina, essa visão objetiva do direito comercial foi preservada até o advento do Código Civil de 2002. Além das que foram apresentadas acima, há ainda mais uma característica importante desse período, que merece ser destacada. Ela diz respeito à distinção entre obrigações civis e comerciais. O Código Comercial regulava os institutos específicos do direito comercial, inclusive as obrigações. O instituto que não fosse particularmente ligado ao comércio, era disciplinado pelo direito civil. Portanto, o direito comercial era considerado um direito especial, ao passo que o direito civil o direito comum. Daí vozes da importância de Waldemar Ferreira1 sustentarem, com amparo em normas do Código Comercial, em especial o seu art. 121, a existência de um direito das obrigações comum ao direito civil e ao direito comercial. A falta de um critério mais seguro para se operar a distinção desses regimes causava muitas dúvidas, notadamente em relação ao contrato de compra e venda. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, com o Código Civil de 2002, esse problema foi resolvido. Não se pode deixar de mencionar, que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 1.572/2011, que trata do novo Código Comercial. Uma das principais características desse projeto é a de estabelecer novamente a cisão do Direito das Obrigações, por meio da adoção de regimes diferenciados entre obrigações civis e obrigações empresariais. 1 Segundo Waldemar Ferreira, haveria, de um lado, o Código Civil e, permeio, o direito das obrigações, comum a um e outro. “Êste é o que o Código Comercial de 1850 determinou, no art. 121, que as contratos em geral se aplicariam aos contratos comerciais, com consignadas” (op. cit., p. 202). de outro, o Código Comercial e, de sistema do Direito Brasileiro, desde disposições do Direito Civil para os as restrições ou modificações nêle 11 11 1.3 - TEORIA DA EMPRESA Em meio à Segunda Guerra Mundial, a Itália edita, em 1942, seu Código Civil. Esse Código unificou e uniformizou as obrigações civis e comerciais. Isso representou, em certa medida, uma inovação, em vista do que ocorrera com os códigos civis francês e alemão1, que não tratavam de matéria relativa ao direito comercial. Contudo, é importante destacar que essa não foi a primeira experiência de uniformização do direito privado. O Código de Obrigações suíço de 1911 já havia estabelecido um tratamento único para as obrigações civis e comerciais. O próprio Código Comercial brasileiro determinava a aplicação do direito civil aos contratos comerciais, desde que não houvesse conflito com as suas disposições. Nessa linha, destacam-se os artigos 121 e 428 do Código Comercial, que assim dispunham: Art. 121 - As regras e disposições do direito civil para os contratos em geral são aplicáveis aos contratos comerciais, com as modificações e restrições estabelecidas neste Código. Art. 428 - As obrigações comerciais dissolvem-se por todos os meios que o direito civil admite para a extinção e dissolução das obrigações em geral, com as modificações deste Código. Além de uniformizar o tratamento dos institutos de direito privado, o Código Civil italiano transferiu o eixo do direito comercial dos atos de comércio para a empresa. Naquele momento, a noção de empresa guardava forte orientação fascista, pois ligava o exercício dessa atividade ao atendimento do interesse da nação 2. Ele surgiu como um conceito dissociado dos valores liberais que orientaram o Code de 1 2 12 O Código Comercial alemão previa a aplicação do Código Civil em matéria comercial, quando esta não estivesse em conflito com a norma especial. Nesse sentido, afirma Karl Heinsheimer que “[e]l Derecho mercantil regula sus instituciones solamente en aquellos puntos particulares en que se separa de las normas generales del Derecho civil, o en que es preciso completar los preceptos de alquél. En consecuencia, las precricipciones del Código civil tienem también aplicación en materia comercial (art. 2 de la Ley promulgando el Código de Comercio alemán de 10 de mayo de 1897), y ello, tanto en cuanto a los principios fundamentales, que son en primer término comunes a los principios fundamentales, que son en su calidad de fuente subsidiaria para complementar el Código de Comercio en las materias reguladas por éste” (Derecho Mercantil. Trad. Agustín Vicente Gella – Barcelona: Editorial Labor S. A., 1933, p. 2). A Carta del Lavoro continha os princípios gerais do corporativismo. A partir dela, é possível se extrair a importância da empresa e a sua vinculação aos interesses da nação. Destaca-se, nessa linha, o seu artigo VII: “Lo Stato corporativo considera l'iniziativa nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. Nell'organizzazione privata dela produzione, essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità”. 12 Commerce1, notadamente pelo ambiente de forte dirigismo econômico adotado pelo governo fascista.2 O espírito corporativista orientou diversas de suas normas. 3 Com a queda do fascismo, a Carta del Lavoro e alguns artigos do Codice Civile foram revogados. Contudo, o Código Civil de 1942 continuou a ser o epicentro do direito privado e a noção de empresa se tornou neutra aos princípios corporativistas e fascistas. Já a Europa, com o fim da Segunda Guerra, iniciou um movimento de recuperação econômica. Orientados pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, os países europeus, por meio de tratados internacionais, foram construindo um novo cenário político, com vistas à superação das barreiras comerciais, o que culminou com a formação da União Europeia. Nesses tratados internacionais, como notícia Paula Andréa Forgioni, o conceito de empresa esteve presente. 4 Podem ser citados, nessa linha, o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, de 1951; o Tratado da Comunidade Econômica Europeia, de 1957; o Tratado da Comunidade Europeia, de 1992. O Tratado de Funcionamento da União Europeia, que alterou e consolidou o Tratado da Comunidade Europeia, dispõe sobre a empresa em vários de seus artigos. Atualmente, crescimento a econômico, União que Europeia tem no está engajada incentivo ao em estratégias empresário e de ao empreendedorismo seus principais pilares. Fala-se em uma “nova revolução industrial”, por meio da qual as empresas, alavancadas pelas novas tecnologias, expandiriam suas atividades, sobretudo para alcançar novos mercados 5. O Código Comercial francês seguia a linha objetiva calcado sobre os atos de comércio, o que se estrai logo do seu artigo 1º: “Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle”. 2 FORGIONI, Paula A. Op. cit., p. 67. 3 Paula A. Forgioni destaca como exemplos de normas corporativistas os artigos: 2.088 [“L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai princìpi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative”], 2.089 [“Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo 2091”] e 2.091 [“La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata. Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee”] (idem, p. 70) 4 FORGIONI, Paula Andréa, idem, pp. 82-87. 5 Segundo a o documento intitulado “Compreender as políticas da União Europeia”, “[e]m 2012, a Comissão Europeia reconduziu a iniciativa emblemática sobre política industrial «Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação económica», para se concentrar na melhor forma de tirar partido desta nova revolução industrial. O objetivo é reforçar a inovação industrial e a economia real. A iniciativa implica o alargamento das atividades empresariais para fora da União Europeia em interações mutuamente vantajosas. Trata-se de uma importante parte da política da 1 13 13 1.3.1 - A teoria da empresa no Código Civil brasileiro Após uma resistência inicial à teoria da empresa, a teoria dos atos de comércio foi paulatinamente abandonada pela doutrina.1 Decerto que, com o passar dos tempos, o objeto do direito comercial mudou. A doutrina e a jurisprudência passaram a analisar o direito comercial não com base em atos isolados e até estanques (atos de comércio por força de lei). Passou-se a dar mais importância ao dinamismo das relações comerciais, notadamente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. De certa forma, essa tendência já era observada no início do processo de codificação. O Código Comercial francês de 1807 previa que “todas as empresas de manufaturas, de comissão, de transporte por terra e água” e “todas as empresas de fornecimento, de agência, escritórios de negócios, estabelecimentos de vendas em leilão, de espetáculos públicos” eram considerados atos de comércio2. Por influência do referido Código, o Regulamento 737/1850, como visto, também utilizou o termo empresa na enumeração dos atos de comércio. Nessa época, no entanto, prevalecia a tese de que empresa era apenas uma repetição profissional de atos de comércio. Famosa era a definição de Inglez de Souza, segundo qual por empresa devemos entender uma repetição de atos, uma organização de serviços, em que se explore o trabalho alheio, material ou intelectual. A intromissão assim se dá, aqui, entre o produtor do trabalho e o consumidor do resultado do trabalho, com o intuito de lucro3. Esse, contudo, não foi o conceito que vingou. A doutrina passou a adotar, entre os vários perfis desse fenômeno poliédrico, consoante a clássica definição de Alberto Asquini4, o subjetivo, calcado, por sua vez, na teoria econômica da empresa, que a considera a atividade organizada e explorada por um empresário. Como referências da doutrina de vanguarda que contribuiu para essa evolução da teoria dos atos de comércio para a teoria da empresa, citam-se as seguintes obras: Limitação da responsabilidade do comerciante individual, de 1956, tese de cátedra de Sylvio Marcondes Machado; A preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio, de 1959, tese de cátedra de Rubens Requião na 1 2 3 4 14 União para ajudar as empresas europeias a encontrar novos mercados e melhorar a sua competitividade, ou seja, a sua capacidade para competirem eficazmente nos mercados mundiais” (http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pt/enterprise_pt.pdf, acessado em 26/11/2013). FORGIONI, Paula A., op. cit., p. 58. REQUIÃO, Rubens, op. cit., p. 51. REQUIÃO, Rubens, idem, p. 56. ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. RDM 104, pp. 109-126, trad. Fábio Konder Comparato, do original Profili dell’impresa, in Rivista del Diritto Commerciale, 1943, v. 41, I. 14 Universidade Federal do Paraná; Teoria do estabelecimento comercial, de 1969, tese de cátedra na Universidade de São Paulo de Oscar Barreto Filho; A teoria jurídica da empresa, de 1985, de Waldírio Bulgarelli.1 A jurisprudência também avançou sobre o tema, contribuindo para a consolidação da teoria da empresa no Brasil. Como anota Paula Andréa Forgioni, em pelo menos três grandes questões, as discussões jurisdicionais evoluíram com base na visão de empresa: a) na construção do instituto da dissolução parcial; b) no delineamento das hipóteses de exclusão de sócios; e c) na preservação do ente produtivo que se encontra em dificuldades econômicas. 2 Após esse longo caminho, em 2002, a teoria dos atos de comércio cede derradeiramente lugar à teoria da empresa. Com a sanção do Código Civil de 2002, passa-se a vigorar oficialmente a teoria da empresa. O Código Civil não chega a conceituar diretamente empresa. Ele o faz quando trata do empresário. Segundo o seu artigo 966, “[c]onsidera-se empresário quem “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços”. Partindo-se dessa definição, e considerando que empresário exerce empresa, conclui-se que empresa é a “atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços”. Como esclarece Sylvio Marcondes Machado, o Código Civil, tomando a empresa em seu perfil subjetivo, conceitua o empresário por traços definidos em três condições: a) exercício de atividade econômica e, por isso, destinada à criação de riqueza, pela produção de bens ou de serviços para a circulação, ou pela circulação dos bens ou dos serviços produzidos; b) atividade organizada, através da coordenação dos fatores de produção – trabalho, natureza e capital – em medida e proporção variáveis, conforma a natureza e o objeto da empresa; c) exercício praticado de modo habitual e sistemático, ou seja, profissionalmente, o que implica dizer, em nome próprio e com ânimo de lucro. Dessa ampla conceituação exclui, entretanto, quem exerce profissão intelectual, mesmo com o concurso de auxiliares ou colaboradores, por entender que, não obstante produzir serviços, como o fazem os chamados profissionais liberais, ou bens, como o fazem os artistas, o esforço criador se 1 2 Em um caminho intermediário entre a teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa, cita-se a teoria das profissões mercantis, defendida com maestria por João Eunápio Borges. Segundo o professor catedrático de direito comercial da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, “o art. 19 do regul. 737, completando o art. 4º do Código, enumera as profissões que considera mercancia. Vale dizer, o art. 19 do regul. 737 não tem o mesmo alcance do art. 632 do Código francês, que enumera atos de comércio. Mas como o Código alemão de 1897, nossa lei fez, em 1850, a enumeração das profissões mercantis”. E prossegue o mencionado professor, “do mesmo modo que constituindo mercancia a prática profissional de ato de compra e venda para a revenda, não é, porém, ato de comércio a mesma operação isoladamente considerada, a qual falta o requisito do art. 191 do Código, também não será ato de comércio uma operação bancária, um ato de comissão ou qualquer dos enumerados nos demais parágrafos daquele art. 19, sem que o mesmo se integre, através da repetição profissional dos mesmos, numa mercancia. E esta é caracterizada pela “organização da empresa criada especialmente para aqueles negócios”, como ensina o próprio Carvalho de Mendonça, em relação às operações bancárias, numa lição que, [...], é aproveitável para todos os atos compreendidos no art. 19 do regul. n. 737, e da qual aquele eminente comercialista não tirou todas as consequências que dele decorrem necessariamente” (op. cit. p 110). FORGIONI, Paula A. Op. cit., p. 91. 15 15 implanta na própria mente do autor, de onde resultam, exclusiva e diretamente, o bem ou o serviço, sem interferência exterior de fatores de produção, cuja eventual ocorrência é, dada a natureza do objeto alcançado, meramente acidental1 A mudança de objeto do direito comercial alterou de forma substancial sua teoria geral. Quem outrora era considerado comerciante, pelo simples fato de praticar, profissionalmente, ato de comércio por força de lei, pode hoje não ser considerado empresário. Para tanto, a pessoa, seja física ou jurídica, deve explorar atividade economicamente organizada, não bastando a simples prática isolada de ato de comércio. Aliás, a definição de empresa não é pacífica na doutrina nacional. A distinção entre sociedade simples e empresária ainda é motivo de divergências. Noves fora as hipóteses que o Código Civil estabelece o regime societário, independentemente do objeto social, como é o caso das sociedades por ações, que sempre serão empresárias, e das cooperativas, que sempre serão sociedades simples, existem dúvidas conspícuas sobre quais seriam os critérios para se definir uma sociedade como simples ou empresária. As dúvidas aumentam ainda mais, quando se discute o que seria o chamado “elemento de empresa”, a que se refere o parágrafo único do art. 966 do Código Civil2. 1.3.2. A influência da Economia sobre a teoria da empresa Um dos objetivos desta monografia é examinar a relação entre a Economia e o Direito, notadamente no campo do direito comercial, para que se alcance uma MARCONDES, Sylvio. Problemas de direito mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970, p.140-141 O parágrafo único do art. 966 do Código Civil dispõe que “[n]ão se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa” (grifei). O que seria afinal esse “elemento de empresa”. A doutrina se divide em pelo menos duas correntes. Há quem defenda que basta que a atividade intelectual seja organizada, para ela ser considerada empresária. Outros sustentam que a organização por si só não seria suficiente. Para que fosse considerada empresa, a atividade intelectual teria de produzir bens ou serviços que fossem comercializados indistintamente, sem caráter pessoal. Sobre o tema, remeta-se a VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: teoria geral, 4ª ed. ver., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 135-141. O Conselho de Justiça Federal aprovou, na III Jornada de Direito Civil, três enunciados sobre o tema: “193 – Art. 966: O exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa”; “194 – Art. 966: Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores da produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”; “195 – Art. 966: A expressão “elemento de empresa” demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já afirmou a natureza empresarial de sociedade limitada de médicos (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 555.624. Relator: Ministro Franciulli Neto, Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2004. Revista do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, v. 184, p. 196). 1 2 16 16 solução para a questão dos danos provocados pela corrupção. Logo, é necessário se examinar se a Economia exerce influência sobre o fenômeno da empresa. Antes mesmo da adoção dessa teoria pelo Código Civil italiano, importantes estudos sobre o papel da empresa foram desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos. Em 1932, Adolf Berle e Gardiner Means, por meio da obra The modern corporation and private property, demonstraram que na sociedade anônima, separam-se propriedade e poder de controle e que este, em companhias com o capital muito pulverizado, acaba sendo exercido pelos administradores, o chamado controle gerencial; e que essa separação pode proporcionar um grande aumento da riqueza, na medida em que possibilita a aplicação de capitais em empreendimentos bem estruturados e organizados, que visam ao lucro. Em 1937, Ronald Coase publicou o artigo The nature of the firm. Nele o aventado economista analisa o papel da empresa. Em resumo simplificador, ele afirma que a razão de ser das empresas é a de aumentar a eficiência econômica, por meio da redução daquilo que ele denominou de custos de transação 1. Para estudar as consequências dessa revelação acerca dos custos de transação e do papel da empresa como forma de aumentar a eficiência das trocas no mercado, surgiu a chamada Nova Economia Institucional, liderada pelo economista Oliver Willianson. Essa escola econômica desenvolveu estudos relacionados ao funcionamento do mercado, a partir de institutos como o contrato, da empresa e sua forma de organização, dos já referidos custos de transação, dos direitos de propriedade etc. Pari passu, outra escola doutrinária de cunho liberal neoclássico, a chamada Escola de Chicago, desenvolveu estudos que se notabilizaram pelas críticas à intervenção do Estado na economia. Suas ideias influenciaram o surgimento de escola, encabeçada por Richard Posner, que propunha a análise do Direito à luz da Economia. Daí ter recebido o nome de escola da Análise Econômica do Direito. Essa escola da Análise Econômica do Direito sofre críticas incisivas pelo fato de prestigiar a eficiência econômica à justiça.2 Essas doutrinas econômicas deram um novo colorido à teoria da empresa. A partir desses estudos, o seu centro foi deslocado da atividade economicamente organizada para a sua função no mercado. Em outras palavras, a partir dessas construções, a visão interna da empresa, ou seja, de sua organização, perdeu prestígio. Ela deixou der ser considerada o fator mais relevante a seu respeito, pois, segundo essa visão, o que de fato importa é o papel que a empresa desempenha no mercado. 1 2 Os custos de transação serão analisados no capítulo 3. Cita-se, à guisa de ilustração, a lúcida crítica apresentada por Ronald Dworkin à Análise Econômica do Direito. Cf. O Império do Direito – São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 333-376. 17 17 O direito comercial evidentemente se ocupa das relações internas da empresa, tanto que as disciplina normativamente. Mas a sua preocupação principal é a relação que a empresa, como objeto de direito, mantém com o mercado. Essa preocupação é tamanha, que ele edificou um sistema próprio para ela. Prevendo, inclusive, como no caso da empresa individual de responsabilidade limita, a personificação dessa atividade, passando a tratar a empresa como sujeito de direito, que está em permanente interação com o mercado (Código Civil, art. 44, VI). 2. A ATIVIDADE NEGOCIAL Vive-se num mundo de fatos. Fatos reais ou, como ficou mais nítido recentemente, virtuais, que compõem a vida mundana. O Direito se ocupa dos fatos que resultam em consequências jurídicas. Esses acontecimentos são de duas ordens: os fatos jurídicos stricto sensu e os atos jurídicos. Os fatos jurídicos stricto sensu são aqueles acontecimentos da natureza, que têm repercussão jurídica. A chuva torrencial, o terremoto, a erupção de um vulcão que provocam danos a pessoas; a passagem do tempo, que constitui medida para contagem de prazo; o nascimento da cria de uma vaca de propriedade de um pecuarista são exemplos de acontecimentos da natureza que geram consequências para o direito. Os atos jurídicos dizem respeito à atuação do homem. São os acontecimentos que têm como origem a sua conduta nos mais variados campos de atuação humana: das artes à política, do ócio ao comércio. Os atos jurídicos envolvem a realização da vontade. São atos que têm por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Quando ele contém, além disso, uma declaração de vontade dirigida no sentido de obtenção de um resultado, diz-se, então, estar-se diante de um negócio jurídico ou ato negocial. O negócio jurídico é espécie do gênero fato jurídico, que, além daquele, possui as seguintes outras espécies: fato jurídico stricto sensu e ato de realização da vontade ou ato jurídico. Sem desprezar as demais, o negócio jurídico é a mais importante espécie de fato jurídico. Tanto assim, que o Código Civil de 2002, ao contrário do anterior, tratou apenas dessa espécie de fato jurídico. Isso não significa que o direito deixou de se ocupar das outras espécies, como os fatos jurídicos stricto sensu e os atos jurídicos de realização de vontade. Estes continuam a ser disciplinados pelo ordenamento. O Código Civil apenas deixou de normatizá-los em uma seção específica, preferindo tratar diretamente do negócio jurídico. Mas existem normas 18 18 que versam sobre fatos jurídicos que não sejam negócios jurídicos, como o art. 147, que dispõe sobre dolo, o art. 191, que se refere à prescrição, o art. 212, que trata de prova. Aliás, o próprio Livro III do Código Civil tem como título “Dos Fatos Jurídicos”. A consequência mais importante dos negócios jurídicos é a obrigação. E, nesse particular, houve o novel Código Civil de acolher grande mudança, com ainda mais relevo. Ele enveredou pela unificação do direito das obrigações. Ainda que isso não representasse, bem dizer, uma novidade, pois, como visto no capítulo 2, o Código Comercial já fazia remissão, no seu art. 121, à aplicação das regras do Código Civil aos contratos comerciais. Essa atitude do Código Civil de 2002 colocou uma pá de cal sobre o assunto. Assim, o Código Civil se tornou o diploma de regência das obrigações de direito privado. E mais. Logo em seguida ao Livro dos Direitos das Obrigações, o Código trata do Direito de Empresa, fato também novo no Brasil. Essa nomenclatura definitivamente não é feliz. Isso porque o Livro II da Parte Especial do Código Civil não foi concebido para tratar exclusivamente de empresa. Ele foi elaborado para disciplinar o fenômeno social caracterizado pela prática reiterada de negócios jurídicos interdependentes, que são celebrados de forma organizada, estável e com finalidade comum, por um mesmo sujeito. Seria a atividade desempenhada por aquela pessoa – física ou jurídica - que se dedica ao exercício de uma atividade econômica, seja uma atividade empresária ou não. As palavras de Sylvio Marcondes, autor dessa parte do anteprojeto do aventado Código Civil, deixam essa concepção muita clara, bastando-as por si só, prescindo de maiores esclarecimentos: Ora, não obstante serem os atos negociais facultados a todas as pessoas e, por essa razão, cabíveis num direito objetivo comum, é certo que a sua prática, quando continuadamente reiterada, de modo organizado e estável, por um mesmo sujeito, que busca uma finalidade unitária e permanente, cria, em torno desta, uma série de relações interdependentes que, conjugando o exercício coordenado dos atos, o transubstancia em atividade. E, assim como, partindo do conceito de negócio jurídico, o anteprojeto parcial erige um sistema de atos, cabe assentar-se, no anteprojeto geral, os postulados normativos do exercício da atividade. Atos negociais e, portanto, atividade negocial. Atividade que se manifesta economicamente na empresa e se exprime juridicamente na titularidade do empresário e no modo ou nas condições de seu exercício1. Atividade negocial. Este era o título do Livro II da Parte Especial constante do anteprojeto elaborado pela comissão de juristas constituída, em 1969, pelos juristas José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim, Sylvio Marcondes, Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, Herbert Chamoun e Torquato Castro, e presidida por 1 MARCONDES, Sylvio. Problemas de direito mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970, p. 136. 19 19 Miguel Reale. Durante a tramitação do projeto de lei, esse título sofreu duas alterações. Primeiro, ele foi substituído por “atividade empresarial” e, depois, por “direito de empresa”, nomenclatura com a qual ele foi aprovado e sancionado. O título original, contudo, traduz justamente o fenômeno, que provém do direito das obrigações, mas que foi erigido a uma categoria diferenciada, sujeita a um regime legal distinto1, e que é consentâneo ao exercício de atividade econômica por uma pessoa. A rigor, tanto faz se essa atividade econômica é exercida por pessoa física ou jurídica, ou se ela é ou não uma empresa. O aventado Livro II da Parte Especial do Código Civil não trata apenas de sociedade, nem só de empresário, nem, muito menos, se restringe às sociedades empresárias. Ele trata da atividade negocial, como foi muito bem definido por Sylvio Marcondes na lição acima reproduzida. E essa atividade envolve as atividades econômicas de natureza intelectual, aquelas que não contam com organização empresarial e, evidentemente, as empresas. Com razão está, assim, Luiz Gastão Barros de Paes Leães, ao afirmar que o nomen iuris ‘atividade negocial’, fixada no anteprojeto, seria de maior rigor científico, na abrangência das matérias tratadas no tópico em questão, do que a denominação ‘atividade empresarial’ e ‘direito de empresa’, que foram, por fim, sufragradas no Código, já que ali não se trata apenas do exercício da atividade profissional praticado por empresários e sociedades empresárias2. Conquanto este estudo parta da noção de atividade negocial para traçar suas conclusões, é necessário alertar que a empresa é o principal ponto da pesquisa. Isso porque, sem desprezar as demais atividades econômicas, fato é que ela tem maior relevância para o direito comercial. Além disso, em vista de sua organização, ela se constitui em um importante instrumento para redução de custos e para o incremento das relações econômicas, contribuindo, destarte, para a eficiência dos mercados. 2.1 A EMPRESA COMO MECANISMO PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO E INSTRUMENTO PARA GANHO DE EFICIÊNCIA Com exceção dos contratos de execução imediata, no qual as prestações são satisfeitas imediata e concomitantemente, a realização de um negócio jurídico envolve riscos. Os preços podem oscilar de tal maneira que impeça a conclusão ou continuação do negócio a não ser que as bases contratuais originais sejam alteradas; existe o risco de a parte contrária não adimplir a sua obrigação ou de 1 2 20 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito de empresa no novo Código Civil brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, n. 128. p. 12. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros, op. cit, p. 12. 20 atrasar o seu cumprimento. Não se pode deixar de considerar o risco de uma falha humana ou tecnológica ou mesmo de fatores não previstos que, de alguma maneira, atrasem ou impeçam o cumprimento de obrigações. Há o risco legal, ou seja, aquele que decorre da inadequação do arcabouço legal ou regulamentar ou de falhas na formalização dos negócios, que os tornem questionáveis, inseguros ou mesmo inexequíveis. Conquanto a atividade negocial, que tem na celebração de negócios jurídicos uma constante, conviva diariamente com esses riscos, eles a atrapalham. Os economistas neoclássicos indicam que os agentes econômicos buscam maximizar o bem-estar, por meio de trocas que lhes sejam vantajosas. Se existe risco de essa troca não lhe proporcionar o aumento de bem-estar esperado, o indivíduo poderá não se sentir encorajado para concluir o negócio e, assim, desistir de fazê-lo. Em outras palavras, o agente econômico tem aversão ao risco 1. Consequentemente, ele se configura em um elemento que afeta a eficiência do mercado na concepção parentiana. O direito comercial lida com eles desde o seu nascimento. Vários institutos jurídicos surgiram justamente com a missão de reduzir, mitigar ou mesmo eliminar esses riscos. O contrato de seguro e as sociedades com sócios de responsabilidade limitada são os exemplos mais reluzentes. Não à toa economistas como Douglas North e Kenneth J. Arrow consideram que o principal papel das instituições é o de reduzir a incerteza por meio do estabelecimento de uma ordem estável, que permita a interação entre os homens. A solução para parte desses riscos é a sua transferência negociada que ocorre no âmbito do mercado. É o caso do contrato de seguro. Em troca do recebimento de um prêmio, o segurador assume riscos que seriam do segurado. Também é o caso dos chamados derivativos. “Um derivativo constitui um contrato, ou mesmo dois contratos conexos, ou um título, cujo valor, em princípio, resulta da cotação de tais ações, que constituem, no elíptico jargão do artigo 2º, VIII, da Lei 6.385/76, os ‘ativos financeiros’2. Há riscos, contudo, que dificilmente poderão ser atenuados por meio de transferências negociadas no âmbito do mercado. Isso porque nem sempre o preço será uma referência exata para a tomada de decisões. Pelo modelo neoclássico de mercado, o preço tem a função de exprimir a qualificação dada pelo mercado a determinado bem. Nem sempre, contudo, o preço 1 2 Otávio Yazbec conceitua aversão ao risco como “a postura que faz com que os agentes econômicos, precisando definir seus planos de atuação, optem por aqueles nos quais exista um maior grau de certeza ou, olhando a questão pelo outro lado, uma menor possibilidade de perdas” (Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 24). EIZIRIK, Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 112. 21 21 reproduz perfeitamente essa avaliação. Há casos que influenciam o preço, notadamente em vista da transferência de custos por mecanismos extramercado. As chamadas falhas de mercado são geralmente supridas pela regulação. Assim, o Estado interveria na economia por meio da instituição de tributos com finalidade extrafiscal, mediante a outorga de subvenções ou subsídios, pela edição de atos normativos de cunho regulatório e pela criação de infraestrutura. Entre essas falhas, chama atenção os custos de transação. Estes, que configuram o preço pela adesão a instituições e suas normas, são geralmente supridos pelo controle dos fatores de produção. Isso porque eles decorrem justamente de falhas institucionais, da burocracia e, sobretudo, das assimetrias de informação. São os casos, por exemplo, dos chamados moral hazard ou risco moral e da seleção adversa. O primeiro se refere à insuficiência de informação e da dificuldade de se acompanhar e de se fiscalizar a execução de contratos. O contraente pode não revelar certas informações que, ao longo da execução do contrato, podem se mostrar relevantes. Seria o caso do vendedor de um estabelecimento empresarial que deixa de comunicar ao comprador a existência de uma dívida trabalhista ou tributária que afete aquela universalidade de bens. Essa conduta, evidentemente, seria ilícita. O segundo diz respeito às assimetrias de informação que afetam o mercado como um todo. O exemplo bem didático é aquele dado por George A. Akerlof no artigo intitulado The Market for Lemons: Qualitiy Uncertainty and the Market Mechanism (1970). Nesse artigo, o economista se refere ao mercado de carros usados, apontando a dificuldade dos compradores para aferir as reais condições em que se encontram o bem, ou seja, se o automóvel está um bom estado ou se apresentam defeitos (os chamados lemons, gíria norte-americana que designa os carros usados em más condições). Em vista dessa dificuldade, os compradores não aceitariam pagar um preço mais alto por aqueles bens. Consequentemente, os proprietários de carros em boas condições ficariam desencorajados a vender seus bens enquanto tal, pois receberiam um preço inferior. Eles seriam, assim afetados pela assimetria de informação, que dificultaria a tarefa de distinguir os carros em bom estado dos que assim não se encontram. A empresa – como organização dos fatores de produção – teria o papel de eliminar ou reduzir esses custos de transação. Isso porque o empresário, ao controlar todos os recursos para a produção, deixaria de buscar bens no mercado, evitando negociações que gerassem os referidos custos de transação. O empresário está livre para organizar os fatores de produção da maneira como melhor lhe aprouver. Ele pode, por exemplo, licenciar uma marca, patentear um produto, contratar a sua produção a terceiro. Veja o caso da indústria da moda. Não é 22 22 incomum se encontrar grandes empresários desse ramo, que não possuem tecelagem nem confecção próprios. Eles possuem a marca e definem o design e o padrão de seus produtos. Contudo, eles encomendam os tecidos e a confecção das peças a outros empresários. Assim também o fazem quanto à distribuição dos produtos, que pode ficar a cargo de distribuidores, agentes e franqueados. A corrupção, assim como os custos de transação e os custos sociais, deturpa as relações econômicas havidas na sociedade. Ele subverte a lógica de que o preço é o principal referencial da tomada de decisões. Estas são tomadas considerando as vantagens indevidas que são oferecidas ou prometidas. A corrupção atinge em cheio à atividade negocial, pois, além de causar o enriquecimento sem causa, retiram as chances daqueles que, por esforço próprio, auferem condições melhores para negociar, mas, ainda assim, são preteridos por essa forma abominável de relacionamento. 3. O DANO À ATIVIDADE NEGOCIAL GERADO PELA CORRUPÇÃO E A SUA REPARAÇÃO Chegado o momento de apreciar o dano que a corrupção causa à atividade negocial e como se dá a sua reparação. O objetivo não é o de analisar conceitos sedimentados, mas sim verificar quais direitos são violados pela corrupção e levantar hipóteses relacionadas à reparação dos danos causados à atividade negocial, em especial à empresa, em virtude da corrupção. A humanidade precisa de um sistema de cooperação, pois ninguém é autossuficiente. Essa cooperação se dá, em grande parte, em ambientes denominados mercados. As trocas entre os inúmeros agentes de mercado só são viabilizadas, porque existem regras claras que tornam as relações jurídicas havidas seguras. O mercado, como uma instituição, possui um ordenamento próprio, que prevê direitos e impõe deveres a todos que dele participam. Há um custo para que o indivíduo participe do mercado. Ele é justamente o de cumprir com os deveres previstos no ordenamento do mercado. Trata-se de custo que não foi considerado pela teoria econômica neoclássica. Esta se baseava em um modelo segundo o qual os custos de produção de um determinado bem e os benefícios decorrentes de sua negociação caberiam ao produtor ou vendedor, enquanto que os custos para a aquisição do bem seriam de quem o adquirisse. Esses seriam os limites da relação de mercado. No entanto, além dos já referidos, existem, como visto, outros custos que o indivíduo tem de incorrer para participar do mercado. Ademais, determinadas situações geram custos ou benefícios que transcendem os aventados limites, afetando terceiros, sem que para esses novos 23 23 custos se tenha estabelecido preços, de modo que a sua circulação seria, assim, externa ao mercado1. A rigor, os agentes – que pagam os custos acima mencionados para participarem do mercado - concorrem livremente pelas oportunidades de negócio. O sucesso da participação do agente econômico, a depender das condições e circunstâncias do mercado, estará diretamente ligado a sua habilidade, experiência, conhecimento e a outros predicados pessoais, notadamente o de organizar os fatores de produção de tal ordem, que permita-lhe obter um produto atraente ou, no dito popular, “bom, bonito e barato”. A corrupção desvirtua tudo isso. As oportunidades de negócio, por meio dela, não são alcançadas com base no mérito empresarial, mas sim pela promessa ou pelo pagamento de vantagem indevida, que não integra o custo direto ou o preço do produto. Não há concorrência livre e leal e o produto do negócio não reflete as condições de mercado. Nota-se que a corrupção afeta o mercado. Ela destrói o sistema de preços; retira as chances de se obter uma oportunidade legítima de negócio; atinge em cheio a atividade empresarial. 3.1. A REPRESSÃO À CORRUPÇÃO PELO DIREITO A corrupção, como visto, viola direitos e interesses tutelados pelo ordenamento jurídico. O mercado, a livre-concorrência, a lealdade, a boa-fé são gravemente afetados por esse tipo de conduta. Tanto que o direito a reprime. O direito penal, por exemplo, tipifica como crime de corrupção passiva a conduta de “solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem” (CP, art. 317). Ele também considera delito a figura da corrupção ativa, que seria praticada por quem “[o]ferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determinálo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. Esses são crimes que atentam contra a Administração Pública. A corrupção, entretanto, não ocorre apenas nessa seara. Ela também pode ser configurada na esfera privada. Assim, a Lei de Propriedade Industrial afirma que comete crime de concorrência desleal quem “recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa 1 24 YAZBEC, Otávio, op. cit., p. 47. 24 de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador” (Lei n.º 9.279/96, art. 195, X). O direito do trabalho autoriza a resolução do contrato de trabalho, por justa causa, quando o empregado pratica “ato de improbidade” (CLT, art. 482, “a”) ou realiza “negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço” (CLT, art. 482, “c”). No plano do direito administrativo, considera-se ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade pública, notadamente: (i) “receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público”; (ii) “perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços” pelas entidades da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de pessoa jurídica incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, “por preço superior ao valor de mercado”; (iii) “perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado”; (iv) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição das entidades já mencionadas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por elas; (v) “receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; (vi) “receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos” a qualquer daquelas entidades acima referidas; (vii) “adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público”; (viii) “aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 25 25 ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade”; (ix) “perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza”; (x) “receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado” (Lei n.º 8.429/92, art. 9º). A Lei n.º 8.429/92 prevê ainda, como atos de improbidade administrativa que causam prejuízos ao Erário, “permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das aventadas entidades, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; “permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado”; “permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”, entre outras condutas (art. 10). Ela também afirma constituir ato de improbidade administrativa conduta que atente contra os princípios da administração pública (Lei n.º 8.249/92, art. 11). A Lei de Improbidade Administrativa disciplina, ainda, as sanções administrativas e a reparação civil do dano, que deve ser integral (art. 12). Recentemente, foi editada a Lei Anticorrupção 1, que disciplina a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira. O art. 5º dessa lei apresenta rol de condutas, que constituiriam “atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira”. São elas: (i) “prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada”; (ii) “comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos” previstos naquela Lei; (iii) “comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; (iv) “no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 1 Cf. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; DINIS DO NASCIMENTO, Melillo. Lei Anticorrupção Empresarial. Rio de Janeiro; Forum, 2014, passim. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à Lei Anticorrupção. Rio de Janeiro: Forum, 2014, passim. PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RISEK JÚNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção: origens e análise da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, passim. 26 26 administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos celebrados com a administração pública”; (v) “dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional”. A responsabilidade por essas condutas é objetiva (Lei n.º 12.846, art. 1º e 2º). As sanções administrativas aplicadas a esses casos são multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação (art. 6º, I) e publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6º, II). Elas podem ser aplicadas cumulativamente, devendo respeitar o princípio da proporcionalidade em vista da gravidade do caso (art. 6º, § 1º). A decisão que as aplicar deve ser suficientemente fundamentada. A punição administrativa do ofensor não lhe retira a obrigação de reparar integralmente o dano (art. 6º, § 3º). Além das punições administrativas, os entes de federação e o Ministério Público poderão demandar judicialmente aplicação das seguintes penas aos ofensores: (i) “perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”; (ii) “suspensão ou interdição parcial de suas atividades”; (iii) “dissolução compulsória da pessoa jurídica”; (iv) “proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos” (art. 19). A prática de corrupção pode ainda configurar infração à ordem econômica1, desde que o ato tenha por objeto ou possa produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (i) “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 1 Sobre as infrações à ordem econômica, cf. FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 5. ed., passim; OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João Grandino. Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, passim; PROENÇA, João Marcelo Martins. Concentração empresarial e o direito da concorrência. São Paulo: Saraiva, 2001, passim; LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Lei de Proteção da Concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1995, passim; FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Malheiros, 1996, passim; VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993, passim. 27 27 concorrência ou a livre iniciativa”; (ii) “dominar mercado relevante de bens ou serviços”; (iii) “aumentar arbitrariamente os lucros”; e (iv) “exercer de forma abusiva posição dominante” (Lei n.º 12.529/2011, art. 36). Se configurada, a infração à ordem econômica pode dar azo à aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 37 a 44 da Lei Antitruste, assim como à responsabilização civil do ofensor pelos danos suportados pelos demais agentes de mercado (Lei n.º 12.529/2011, art. 47). Nota-se, portanto, que o Direito reconhece que a prática de corrupção afeta a sociedade de várias formas. Essa conduta pode ser devastadora, gerando prejuízos das mais variadas ordens e afetando interesses legítimos de diversos matizes. 3.2. A REPARAÇÃO DO DANO PROVOCADO À ATIVIDADE NEGOCIAL POR ATO DE CORRUPÇÃO A corrupção é um mau que assola a sociedade moderna. Seus efeitos não são sentidos apenas no âmbito do poder público. O mercado e a vida privada são tão ou mais atingidos por esses atos espúrios. Ela macula direitos e interesses legítimos, que recebem a tutela do sistema jurídico. Entre esses direitos está o de exercer atividade negocial, na qual se enquadra a exploração de empresa. Não existe, todavia, uma norma específica que trate dos danos causados pela corrupção às atividades negociais. Além disso, a teoria da responsabilidade civil, que preceitua tanto o inadimplemento de uma obrigação, quanto o descumprimento de um dever legal, foi edificada sobre os fundamentos da teoria neoclássica. Ela também não considerou, especificamente no tocante à reparação dos danos, a questão dos custos de transação e dos custos sociais, que são alguns dos custos incorridos pelos empresários para estarem no mercado. A omissão quanto a esses pontos reverbera nas relações negociais. A concepção neoclássica entra em choque com a visão pós-moderna da sociedade, com a tutela da livre iniciativa, da livre concorrência e da empresa. Torna-se necessário o lançamento de outras luzes sobre essa questão. A responsabilidade civil guarda respostas e soluções para esse problema. Isso será visto nos próximos tópicos. 3.2.1. O conceito de dano material 28 28 Dano, como anota Agostinho Alvim, é a lesão do patrimônio 1, sendo que esse é o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis economicamente. Ele deve ser avaliado subjetivamente. Não à toa, o coautor do Código Civil, responsável pelo Livro do Direito das Obrigações, prefere a expressão “danos e interesses” a “perdas e danos”2. Isso porque perda e dano tem o mesmo significado, ao passo que a palavra interesse, tal como ocorre com a expressão francesa dommages et intérêts, traduz a subjetividade do dano. No entanto, o citado jurista conformou-se ao costume já arraigado e manteve aquela expressão no anteprojeto que foi aprovado com essa mesma expressão, que hoje figura no Código Civil de 2002. Para apuração do dano material, adota-se o princípio da diferença, segundo o qual o dano é estimado pela redução do patrimônio da vítima. Esse princípio não traduz apenas uma perda imediata. Ou seja, não basta uma simples conta de subtração entre o valor do patrimônio original e o que restou após a ocorrência do dano para se apurar o valor da reparação. Devem ser considerados também aqueles lucros que, conquanto ainda não integrassem o patrimônio, a vítima tinha como justa a expectativa de receber, isto é, não devem ser computados apenas o lucro que se estancou, como, por exemplo, o que alguém normalmente obtinha, em sua profissão, e não mais poderá obter, em virtude de descumprimento de dever legal ou de inexecução de obrigação por parte de outrem. Lucro cessante é isso, mas também é aquele que o credor não obterá, ainda que não viesse obtendo antes3. Dispõe o Código que “[a]inda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual” (art. 403). É fato, assim, que o dano deve compreender apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Advirta-se que, uma vez demonstrada essa relação de causa e efeito, a reparação há de ser completa, integral. Ela deverá compreender todo o prejuízo arcado. Em outras palavras, não é a extensão do dano que se submete àquela relação de causa e efeito com o ato que o ocasionou. Uma vez causado o dano, a reparação deverá ser total. A extensão da reparação encontra limite na repercussão que o dano teve no patrimônio da vítima. O causador do dano não está obrigado a indenizar nada mais do que a perda efetivamente experimentada e apurada segundo o princípio da diferença. Tanto assim, que o referido art. 403 do Código Civil diz textualmente que ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e das suas Consequência. São Paulo: Saraiva, 1980, 5. ed., p. 172. 2 Ibidem, p. 175. 3 Ibidem, p. 174. 1 29 29 “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”. Logo, não há espaço para indenização de caráter punitivo1. Confirma essa assertiva, o parágrafo único do art. 944, que autoriza apenas a redução da indenização e não a sua majoração, em casos onde houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Pode ocorrer de haver indenização sem dano. Isso se dá em casos, nos quais a lei dispensa a prova quanto à perda. Ou seja, quando o prejuízo é estimado previamente. São casos tais: a cláusula penal (CC, artigos 408 a 416) e os juros moratórios (CC, artigos 406 e 407). Ainda que a vítima não experimente um dano efetivo, a indenização pelo descumprimento total ou parcial da obrigação será devida. Se a cláusula penal for estipulada para o caso de inadimplemento absoluto, poderá ser convertida em indenização em benefício do credor, que, assim, não poderá exigir o cumprimento da obrigação (CC, art. 410). Contudo, se ela se referir à mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, o credor terá a faculdade de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal (CC, art. 411). Da mesma forma, as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, são pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo de pena convencional (CC, art. 404). O Código Civil procurou dar o máximo de efetividade ao princípio da reparação do dano. Ao contrário do diploma anterior, que não admitia a discussão sobre o valor de indenizações já preestabelecidas, como eram os casos dos juros moratórios e da cláusula penal, o atual permite indenização suplementar, quando preenchidos os requisitos para tal. O art. 1.061 do Código Civil de 1916 dispunha que “[a]s perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, consistem nos juros da mora e custas, sem prejuízo da pena convencional”. Ele nada referia para o caso de os juros moratórios não cobrirem integralmente o dano. Agostinho Alvim considerava essa regra injusta. Logo, o Código Civil de 2002 previu a possibilidade de, “[p]rovado que os juros de mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”. O mesmo se dá com a cláusula penal. O art. 927 do Código Civil estabelecia uma limitação para ela, qual seja, a de que o valor da multa não poderia ser superior ao da obrigação principal. Todavia, ele não previa o pagamento 1 30 Com exceção do dano moral. 30 de indenização suplementar para a hipótese de a cominação prevista na cláusula penal ser inferior ao dano. Isto também foi superado pelo Código Civil em vigor, que, conquanto tenha mantido a limitação acerca do valor da cominação nela imposta – que não pode exceder ao da obrigação principal -, admite o pagamento de indenização suplementar, desde que as partes tenham assim convencionado. Neste caso, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo (CC, art. 416, parágrafo único). Caso análogo ocorre com a indenização pela edição não autorizada de obra literária, artística, científica e também de programa de computador. O parágrafo único do art. 103 da Lei n.º 9.610/98 prevê que “[n]ão se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 3.000 (três mil) exemplares, além dos apreendidos”. Não obstante a redação clara dessa norma, que trata apenas de valor presumido de indenização, no caso de não ser possível quantificar o número de exemplares editados fraudulentamente, o Superior Tribunal de Justiça vem se valendo dela para arbitrar indenização em múltiplo do número de licenças de programas de computador indevidamente cedidas ou comercializadas, o que, a toda evidência, caracteriza uma indenização punitiva1. Essa interpretação revela-se equivocada, pois não encontra amparo na lei. Melhor teria feito se decidisse por aplicar o art. 102 da referida Lei em sua inteireza e, assim, estendesse a indenização, de modo a alcançar danos incorridos, mas que não integraram seu cálculo. Para a hipótese aventada neste estudo, é necessário considerar que a Constituição da República Federativa do Brasil erigiu a princípio nuclear de seu sistema a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Donde se pressupõe que ela assegura a autonomia e a capacidade de autodeterminação das pessoas, observados os limites legais. Ela protege, assim, o direito de a pessoa procurar maximizar seu bem-estar. Isso pode ser feito pela sua participação no mercado, até porque este é, sobretudo numa economia capitalista, o caminho que ordinariamente os indivíduos tomam para alcançar esse desiderato. Não é de se estranhar, assim, que a Constituição também tutele a livre iniciativa (art. 170, caput), o livre exercício de profissão (art. 5º, XIII), a propriedade privada (art. 5º, XXII c/c art. 170, II) e a livre concorrência (art. 170, IV). Esses são institutos que remetem ao sistema liberal neoclássico do mercado. Sem embargo, a Constituição não os prevê despidos de uma complementação necessária, pois faz alusão a valores da pós- BRASIL. Recurso Especial n. 1.127.220/SP. Recorrente: Rede Brasileira de Educação a Distância S/C LTDA. Recorrido: Centro de Estratégia Operacional Propaganda e Publicidade S/C LTDA. Relator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Brasília, DF, 19 de agosto de 2010, Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, DF, 19 de out. 2010. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em: 19 de jun. 2014. 1 31 31 modernidade. Fala-se, assim, em função social da propriedade, em defesa do consumidor, em proteção do meio ambiente e em redução de desigualdades. O ordenamento jurídico não só reconhece a empresa como um fenômeno que favorece o mercado, como a tutela. Por outro lado, ele prevê, como remédio para a violação de deveres legais e descumprimento de obrigações, o direito de a vítima obter a reparação integral do dano sofrido. Ora, se é assim, então danos causados pela prática de corrupção devem ser reparados. Não há por que o ofendido, aquele que amargou um dano emergente, ou que experimentou um empobrecimento sem causa ou que perdeu uma chance de concluir um negócio deixar de obter uma indenização. A seguir serão analisados os principais danos que podem compor a indenização. 3.2.2. Os danos emergentes Danos emergentes constituem-se naquilo que efetivamente se perdeu; a diminuição atual do patrimônio1. No caso da reparação às atividades negociais, os danos emergentes devem contemplar não só os prejuízos decorrentes do inadimplemento da obrigação, mas também os custos de transação incorridos para a celebração daquele negócio, assim como aqueles necessários para demandar o cumprimento da obrigação e/ou da reparação do dano. Em se tratando de dano causado por corrupção, há de se perquirir se a conduta prejudicou os envolvidos, ou seja, se o negócio jurídico foi concluído por um preço superior ao de mercado; se os indivíduos envolvidos no ato de corrupção provocaram alguma perda patrimonial às pessoas jurídicas envolvidas. Esse dano, caso comprovado, deverá ser reparado integralmente. A indenização, portanto, deverá contemplar essa perda patrimonial. Para tanto, há de ser aplicado o aventado princípio da diferença alhures mencionado. 3.2.3. Os lucros cessantes Lucros cessantes são aqueles que o credor tinha uma justa expectativa de receber ou, na dicção do Código Civil, o que ele razoavelmente deixou de ganhar. A grande dificuldade de se apurar os lucros cessantes é quanto à prova. Como se demonstrar que o credor teria uma justa expectativa de lucro a merecer a tutela do 1 32 BEVILÁQUA, Clóvis apud ALVIM, Agostinho, op. cit., p. 174. 32 direito. Um caso envolvendo falha de mercado parece bastante emblemático. Imagine um agente de mercado que vai à falência, em virtude de pratica ofensiva à livre-concorrência, como, por exemplo, a prática de corrupção, que o impede de ter acesso a mercado valioso. O ofensor deve indenizar não apenas os danos emergentes, que, nesse caso, seria o valor do capital investido, sobretudo aqueles ativos que não poderão ser recuperados, como os chamados sunk costs1 (custos irrecuperáveis), e também os lucros que o falido teria se ele tivesse conseguido participar do mercado em condições normais de livre-concorrência. Trata-se, obviamente, de caso de enriquecimento ilícito do infrator da ordem econômica, que impõe à vítima uma limitação de crescimento do seu patrimônio. O infrator, então, deve ser condenado a pagar indenização que corresponda aos lucros obtidos em excesso, por apropriação dos demais concorrentes. Para tanto, não se deve tomar como parâmetro o modelo de concorrência perfeita, visto que este é quase uma utopia. É possível se estabelecer um parâmetro próximo da realidade de um mercado que funcionasse sem condutas abusivas. 3.2.4. A perda de uma chance A doutrina francesa da perte d´une chance (perda de uma chance) vem se sedimentando no Brasil. Agostinho Alvim já tratava, na sua obra Da Inexecução das Obrigações e das suas Consequência, da possibilidade de se vindicar reparação pela perda de uma chance causada por outrem. Tratou o jurista da responsabilidade do advogado que deixa de interpor recurso tempestivamente e, com isso, faz com o que o seu cliente perca a chance de obter julgamento em outra instância 2. Outros autores também se referiram à responsabilidade pela perda de uma chance, como Miguel Maria de Serpa Lopes, para quem “[a] perda de uma chance ocorre quando o causador de um dano por ato ilícito, com o seu ato, interrompeu um processo que poderia trazer em favor de outra pessoa a obtenção de um lucro ou o afastamento de um prejuízo”3. Os tribunais brasileiros passaram a aceitar essa teoria mais recentemente. O caso mais rumoroso provavelmente foi aquele decidido pelo Superior Tribunal de Sunk costs (custos afundados) são recursos empregados na construção de ativos que, uma vez realizados, não podem ser recuperados em qualquer grau significante. Em termos econômicos, o custo de oportunidade desses recursos, uma vez empregados, é próximo de zero. Os sunk costs são considerados barreiras para entrada em mercados relevantes, conceito muito utilizado do direito da concorrência. ALVIM, Agostinho, op. cit., p. 297. LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Freitas Bastos, 1989, 5. ed., v. II, p. 375 1 2 3 33 33 Justiça no recurso especial n.º 788.459 – BA. Tratou-se do caso conhecido como “Show do Milhão”, que era o nome de um programa de televisão, no qual os participantes concorriam a prêmios, caso respondessem corretamente às perguntas formuladas. O prêmio máximo era de um R$ 1 milhão. Nesse caso, uma participante do programa conseguiu chegar à última pergunta, cuja resposta, se dada corretamente, lhe garantiria o prêmio máximo. Sucede que nenhuma das alternativas de respostas disponibilizadas pelo programa responderia corretamente à pergunta. Como a autora desistiu de responder à pergunta, justamente porque não encontrou, entre as alternativas disponibilizadas, a resposta certa, ela demandou judicialmente o pagamento do prêmio máximo. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a autora fazia jus ao recebimento de indenização pela perda da chance de receber o prêmio máximo e condenou o titular do aventado programa de televisão a indenizá-la pelo que razoavelmente deixou de lucrar. Confira-se a ementa desse julgado: RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA OPORTUNIDADE. 1. O questionamento, em programa de perguntas e respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da oportunidade. 2. Recurso conhecido e, em parte, provido. (REsp 788.459/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 13/03/2006, p. 334) A partir das lições da doutrina e dos precedentes jurisprudenciais, foi editado, na V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, o enunciado 443, que trata da responsabilidade pela perda da chance, e que possui a seguinte redação: Art. 997. A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos. Portanto, quando alguém deixa de ter uma oportunidade real, atual e séria por culpa de terceiro, essa pessoa pode requerer a reparação desse dano. No caso da corrupção, como visto acima, um agente de mercado consegue fechar negócio, não porque foi mais eficiente, porque apresentou condições melhores, mas sim porque ofereceu ou aceitou dar uma vantagem indevida. Com essa atitude, esse agente retirou a chance dos demais integrantes daquele mercado de concluírem aquele negócio de maneira lícita e legítima. Isso, a toda evidência, autorizaria a responsabilização dos envolvidos no ato de corrupção pela perda da chance experimentada pelos demais concorrentes de determinado mercado relevante. 34 34 Obviamente, para que surja o dever de reparar esse dano, há de ser comprovado a prática do ato ilícito, ou seja, que o negócio somente foi concluído em vista da prestação de vantagem indevida e que os demais concorrentes tinham chances sérias, atuais e reais de fecharem aquele negócio, mas que isso só não aconteceu, porque o concorrente se valeu desse expediente desleal para lograr o lucro fruto daquele negócio. Consequentemente, a teoria da perda de uma chance se traduz em meio para resolução de lides, que envolvam o ressarcimento de concorrentes preteridos em negócio jurídico pela prática de corrupção. Conclusão A corrupção é um comportamento degradante, que tem repercussão em várias ciências humanas. A Ética, a Moral, a Economia e o Direito percebem seus efeitos nefastos e a eles reagem. No tocante ao Direito, a corrupção implica violação a princípios caros, tanto da Administração Pública, quanto da Ordem Econômica. Não só a moralidade e a eficiência administrativos são tocados pela corrupção; a livre-concorrência sofre consequências drásticas pelas mãos corruptas. A Lei Anticorrupção atentou para o problema da corrupção no plano da Administração Pública. Foi um avanço, mas é preciso que esse problema seja enfrentado por todos os seus prismas. Se um ato de corrupção – ainda que ele não envolva o dispêndio de dinheiro público – deve também ser notificado à autoridade competente e investigado. Não se pode tratar a corrupção nas atividades privadas como algo menor ou sem importância. Como visto, a corrupção inverte a lógica do mercado. Ela afeta o interesse difuso de proteção do mercado, razão por que ela deve receber uma atenção especial. A responsabilidade civil pode ser um excelente meio de prevenir e reparar os danos advindos da corrupção. Institutos como o enriquecimento sem causa e a teria da responsabilidade civil pela perda de uma chance lançam-se como importantes mecanismos para remediar os efeitos danosos dessa conduta expúria. 35 35 Referências ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e das suas Consequência. São Paulo: Saraiva, 1980, 5. ed. ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. RDM 104, pp. 109-126, trad. Fábio Konder Comparato, do original Profili dell’impresa, in Rivista del Diritto Commerciale, 1943, v. 41, I. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à Lei Anticorrupção. Rio de Janeiro: Forum, 2014. BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial Terrestre. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1976. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.127.220/SP. Recorrente: Rede Brasileira de Educação a Distância S/C LTDA. Recorrido: Centro de Estratégia Operacional Propaganda e Publicidade S/C LTDA. Relator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Brasília, DF, 19 de agosto de 2010, Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, DF, 19 de out. 2010. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em: 19 de jun. 2014. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 555.624. Relator: Ministro Franciulli Neto, Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2004. Revista do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, v. 184, p. 196. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 788.459/BA. Recorrente: BF Utilidades Domésticas Ltda. Recorrida: Ana Lúcia Serbeto de Freitas Matos. Relator: Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Brasília, DF, 13 de mar. 2006. Disponível em:< www.stj.jus.br>. Acesso em: 27 de out. 2014. EIZIRIK, Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; DINIS DO NASCIMENTO, Melillo. Lei Anticorrupção Empresarial. Rio de Janeiro; Forum, 2014. FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1960. FORGIONI, Paula A. A Evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do antitruste. 5ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012 FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Malheiros, 1996. 36 36 HEINSHEIMER, Karl. Derecho Mercantil. Trad. Agustín Vicente Gella – Barcelona: Editorial Labor S. A., 1933 LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito de empresa no novo Código Civil brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, n. 128. LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Lei de Proteção da Concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1995. LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. 5ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1989, v. II. MARCONDES, Sylvio. Problemas de direito mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense. OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João Grandino. Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RISEK JÚNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção: origens e análise da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014. PROENÇA, João Marcelo Martins. Concentração empresarial e o direito da concorrência. São Paulo: Saraiva, 2001. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1. Ronald Dworkin à Análise Econômica do Direito. Cf. O Império do Direito – São Paulo: Martins Fontes, 2003. TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro. Renovar. 1991. VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: teoria geral, 4ª ed. ver., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. YAZBEC, Otávio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 37 37 Doutrina O Critério do Regime de Bens para o Direito Sucessório sob a Ótica Civil-Constitucional Thiago Nicolay 1 RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o reflexo do regime de bens no direito sucessório e, com isso, propor solução às diversas divergências existentes acerca da sucessão do cônjuge e do companheiro. Antes da abordagem específica do tema serão abordados os regimes de bens existentes no Código Civil e os princípios, inclusive os constitucionais, que os regem. Posteriormente, será examinado o fundamento constitucional do direito sucessório, bem como os reflexos do regime de bens no direito sucessório, para, então, serem demonstradas as divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da sucessão do cônjuge e do companheiro e propostas soluções para as divergências. Para tanto, será necessário um estudo aprofundado das normas de sucessão legítima do cônjuge e do companheiro informadas pelos valores constitucionais. Será analisada, também, a questão da hierarquia entre as formas de constituição de família na constituição Federal de 1988. ABSTRACT: This work aims to analyze the reflection of the property ruling in right of survivorship and, thus, propose solutions to several existing disagreements over the succession of the spouse and common-law spouse. Before the specific approach will be addressed property ruling in the Civil Code and the principles, including constitutional principles, governing. Later, it will be examined considerations of the constitutional right of survivorship as well as the reflections of the property ruling in right of survivorship, to then be shown the dissensions doctrine and former court decisions about the succession of the spouse and common-law spouse, and proposed solutions to dissensions. For that, will take a thorough study of the norm of lawful succession of the spouse and common-law spouse informed by constitutional values. Will be also analyzed the question of hierarchy between forms of Family formation in the Federal Constitution of 1988. INTRODUÇÃO 1. REGIMES DE BENS EXISTENTES NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1.1 Princípio orientadores do regime de bens. 1.2 O regime da comunhão parcial de bens 1.3 regime da separação total de bens.1.4 O regime de bens aplicável a união estável. 2.OS REFLEXOS SUCESSÓRIOS DO REGIME DE BENS 2.1 Fundamento constitucional do direito sucessório e a sua relação com e regime de bens 2.2 Sucessão do cônjuge 2.2.1 A discussão acerca da sucessão do cônjuge casado sob o regime da separação de bens 2.2.1.1 Solução sob a ótica do direito civil-constitucional 2.2.2 A discussão acerca da sucessão do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens 2.2.2.1 Solução sob a ótica do direito civil-constitucional 2.3 Sucessão do companheiro 2.3.1Análise dos artigos 1.790 e 1.845 do Código Civil Brasileiro 2.3.2 Solução sob a ótica do direito civilconstitucional 3 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS Sumário: 1 38 Segundo colocado no Concurso de Monografias "Aloysio Maria Teixeira" na categoria advogado 38 INTRODUÇÃO No presente trabalho, analisa-se o reflexo do regime de bens no direito sucessório, especialmente na sucessão hereditária do cônjuge e do companheiro, após a promulgação da Constituição Federal em 1988 e da entrada em vigor do Código Civil Brasileiro, ocorrida em 2002, que inovou no tocante ao regime de bens e à sucessão do cônjuge e do companheiro, bem como as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais existentes acerca do tema. Tais inovações se deram em razão de o cônjuge, do quarto lugar na ordem de vocação hereditária, atrás dos parentes colaterais até o décimo grau, ter passado a gozar do status de herdeiro necessário em propriedade plena no Código Civil de 2002, concorrendo com os descendentes e ascendentes1 do falecido. Essas evoluções dos direitos sucessórios do cônjuge, trazidas pelo Código Civil de 2002, deram espaço a calorosas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, acerca da sucessão do cônjuge e do companheiro. Desse modo, o presente trabalho fará uma interpretação dos dispositivos que regem alguns dos regimes de bens existentes no Código Civil e o direito sucessório sob a ótica civil-constitucional, conferindo maior importância à pessoa humana, no caso o cônjuge ou companheiro supérstite, em relação às questões patrimoniais que envolvem a relação marital e a sucessão. O objeto de estudo do presente trabalho despertou interesse em razão de o Direito Civil, assim como a sociedade moderna de uma maneira geral, viver um crítico momento de inversão de valores. A exemplo disso, basta uma análise da prática nos Tribunais de Justiça de todo país para se notar que, na maioria das vezes, litígios se formam em um processo de inventário em razão da divisão do patrimônio deixado pelo de cujus, sem que haja a mínima preocupação com o real desejo do falecido manifestado em vida, o que pode acabar ferindo princípios e direitos garantidos constitucionalmente. Desta forma, demonstra-se a relevância do tema escolhido, por sua importância tanto do ponto de vista da pesquisa acadêmica como do ponto de vista da prática jurídica. O primeiro capítulo do presente trabalho será destinado ao estudo do regime da comunhão parcial de bens e da separação de bens, tanto a legal como a convencional, já que somente serão enfrentadas as problemáticas acerca da sucessão do cônjuge e do companheiro nesses dois regimes de bens, sendo 1 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 3. 39 39 demonstrados, ainda, os Princípios Constitucionais aplicáveis aos regimes de bens, bem como sua aplicação prática. Será abordada, ainda, a concepção de família sob a ótica civil- constitucional, abordando-se a questão da inexistência da hierarquia entre o casamento e a união estável no ordenamento jurídico brasileiro. Já o segundo capítulo será dedicado ao cerne do trabalho, que é o reflexo do regime de bens no direito sucessório, bem como ao estudo dos dispositivos inerentes a sucessão do cônjuge e do companheiro, sempre aplicando a metodologia civil-constitucional, com vistas a garantir a tutela sucessória do cônjuge e do companheiro. Portanto, pretende-se, a partir do presente trabalho, demonstrar a íntima relação existente entre o regime de bens e o direito sucessório, bem como os reflexos que aquele tem neste definido, por via de consequência, critérios interpretativos para uma análise da tutela dos direitos do cônjuge e do companheiro no momento da sucessão mortis causa, isto tudo com base nos valores e princípios presentes na Constituição Federal. 1.REGIMES DE BENS NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO O regime de bens, também conhecido como estatuto patrimonial dos cônjuges, é o conjunto de regras que disciplina as relações patrimoniais, assim entendidas a propriedade, a administração, a disponibilidade e gozo dos bens, entre os cônjuges. Desse modo, segundo Silvio Venosa1, “o regime de bens entre os cônjuges compreende uma das consequências jurídicas do casamento”. E continua o referido doutrinador: “Nessas relações, devem ser estabelecidas as formas de contribuição do marido e da mulher para o lar, a titularidade e administração dos bens comuns e particulares e em que medida esses bens respondem por obrigações perante terceiros. ”. Atualmente, são quatro os regimes de bens existentes no Código Civil, que reservou o subtítulo I, do título II, do livro IV – artigos 1639 até 1.688 – para tratar da matéria, são eles o regime da comunhão parcial de bens, da separação total de bens, da comunhão universal de bens e o da participação final nos aquestos. 1 40 VENOSA. Silvio. Direito Civil – Direito de Família. 10ª Edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2010. p. 321. 40 No entanto, no presente trabalho somente serão abordados os regimes da comunhão parcial de bens e da separação de bens, tanto a legal quanto a convencional, já que nesses dois regimes as divergências doutrinárias e jurisprudenciais são mais intensas, sendo demonstradas as peculiaridades desses dois regimes para que possa ser estudada a sucessão do cônjuge e do companheiro, sob a ótica civil-constitucional. Com efeito, embora o regime de bens tenha reconhecida importância no presente estudo, não se pode olvidar das chamadas relações existenciais, que consistem em direitos pessoais, devem prevalecer e direcionar as relações patrimoniais, como ensina o professor Gustavo Tepedino1: O vínculo matrimonial e a sociedade conjugal são instituídos com a celebração do casamento, e desse ato de desencadeiam numerosos efeitos jurídicos, sejam de natureza patrimonial, sejam de natureza pessoal. O CC, em notável avanço em relação ao seu antecessor, separou em títulos distintos o direito pessoal e o direito patrimonial, reconhecendo, dessa forma, que os direitos e situações subjetivas existenciais e patrimoniais devem ser tratados de forma qualitativamente diferenciada. (...) A pessoa humana é o centro do ordenamento, impondo-se, assim, tratamento diferenciado entre os interesses patrimoniais e os existenciais. Em outras palavras, as situações patrimoniais devem ser funcionalizadas às existenciais. Desse modo, fica desde já consignado que, segundo a metodologia civilconstitucional, o direito patrimonial, não obstante seja de suma importância para as relações matrimoniais, assim como para demais relações pessoais, não pode se sobrepor às situações existenciais, de modo que sempre deverá ser garantida a tutela da dignidade da pessoa humana. 1.1Princípios orientadores dos regimes de bens Os princípios, mormente os de ordem constitucional, têm singular importância na aplicação das normas infraconstitucionais, servindo de norte ao intérprete das normas infraconstitucionais e evitando a transgressão de direitos. Nesse sentido, afirmando a importância dos princípios constitucionais na aplicação do direito, leciona Gustavo Tepedino2: Se o Código Civil mostra-se ineficaz – até mesmo por sua posição hierárquica – de informar, com princípios estáveis, as regras contidas nos diversos estatutos, não parece haver dúvida que o texto constitucional poderá fazê-lo, já que o constituinte, deliberadamente, através de princípios 1 2 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 256. TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 7 41 41 e normas, interveio nas relações de direito privado, determinando, conseguintemente, os critérios interpretativos de cada uma das leis especiais. Recupera-se, assim, o universo desfeito, reunificando-se o sistema. Essa é a verdadeira ideia de constitucionalização do direito civil, ou seja, “é o processo de elevação ao plano constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional”1 Com efeito, os regimes de bens existentes no Código Civil Brasileiro são regidos por diversos princípios, sendo alguns deles de ordem constitucional, tais como o princípio liberdade ou da autonomia da vontade, o princípio solidariedade e o princípio da igualdade, além de outros de da ordem infraconstitucional, a exemplo do princípio da variedade de regimes e da liberdade convencional. Entretanto, no presente trabalho serão abordados somente os princípios utilizados para a solução dos problemas ora propostos, que envolvem a sucessão do cônjuge e do companheiro. Pelo princípio da liberdade convencional é garantido aos cônjuges ou companheiros escolher livremente, salvo as exceções legais, o regime de bens sob o qual pretendem se casar, na forma do artigo 1.639 do Código Civil 2. De acordo com interpretação civil-constitucional dada ao supracitado dispositivo, extraída do Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República3: O regime de bens consiste no estatuto patrimonial do casamento que, segundo o artigo 1.639, caput, é informado pela mais ampla liberdade de escolha dos cônjuges, a quem a lei, em respeito à autonomia privada, confere a faculdade de “estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, “a liberdade de escolha tem essencialmente em conta a circunstância de que os próprios cônjuges são os melhores juízes na opção do modo como pretendem regular as relações econômicas a vigorarem durante o matrimonio”4. LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do direito civil. Brasília: Revista de Informação Legislativa - Secretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, v. 36, p.100. 2 “Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.” 3 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 256 4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. apud Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 256 1 42 42 Portanto, tendo em vista que os futuros cônjuges são as pessoas mais capacitadas para escolher o regime que irá regular as suas relações patrimoniais e seus bens, sejam os já existentes ou os que eventualmente vierem a adquirir, o legislador houve por bem deixar a cargo deles essa escolha, salvo em algumas exceções, como é o caso da imposição obrigatória do regime da separação de bens, prevista no artigo 1.641 do Código Civil. Já com status constitucional, tem-se o princípio da autonomia privada que reforça a ideia acima discorrida de que os nubentes são livres para, dentro dos limites impostos por lei, escolher o regime de bens que melhor lhes aprouver, regime este que regulará o casamento. Nas palavras de Luiz Felipe Brasil Santos1, o regime de bens, "em respeito à autonomia da vontade dos cônjuges, tem sido tradicionalmente informado pelos princípios da variedade dos regimes matrimoniais de bens, da livre estipulação e da imutabilidade". Enfim, tendo em vista que o regime de bens tem impacto direto sobre a vida dos cônjuges, nada mais certo do que deixá-los optarem livremente acerca do regime de bens sob o qual se casarão. Já o Princípio da Solidariedade, que é o pilar mais forte que sustenta os regimes de bens, terá singular importância para o presente estudo, pois traz a ideia central de que todos os indivíduos que vivem em sociedade têm o dever de se ajudar mutuamente. E esse dever mostra-se ainda mais latente em relação aos cônjuges, ao passo que, ao optarem pelo matrimônio, estão escolhendo dividir, com seus respectivos consortes, vitórias e derrotas saboreadas durante a comunhão plena de vida. A esse respeito, ensina Maria Celina Bodin De Moraes 2 que: A expressa referência à solidariedade, feita pelo legislador constituinte, longe de representar um vago programa político ou algum tipo de retoricismo, estabelece um princípio jurídico inovador em nosso ordenamento, a ser levado em conta não só́ no momento da elaboração da legislação ordinária e na execução das políticas públicas, mas também nos momentos de interpretação-aplicação do Direito, por seus operadores e demais destinatários, isto é, pelos membros todos da sociedade.3 A promoção do solidarismo, com a prática da cooperação, colaboração e partilha entre as pessoas, tem como objetivo a garantia de uma sociedade mais SANTOS, Luiz Felipe Brasil Santos. Autonomia da vontade e os regimes matrimoniais de bens. apud WELTER, Belmiro Pedro; MADALENO, Rolf. Direitos Fundamentais do Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 211. 2 MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da solidariedade. Disponível em: <http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf > Acesso em 30.11.2013. 3 MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da solidariedade. Disponível em: < http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf > Acesso em 30.11.2013. 1 43 43 justa, conforme determina a Constituição Federal, com a consequente proteção da dignidade das pessoas humanas. Nesse sentido, o professor Pietro Perlingieri ensina que as situações patrimoniais, tal como o casamento, que é um misto de relação existencial e patrimonial, demandam a indispensável cooperação entre os seus partícipes. 1 Portanto, o princípio da solidariedade deve ser observado conforme previsto na Constituição Federal, tendo a mesma aplicação nas relações privadas, e em diversos campos do direito, como direito das obrigações, contratos, imobiliário e, em especial, no direito de família. 1.2. O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS O regime da comunhão parcial de bens, ou regime oficial, que é o regime legal hoje aplicado, foi inserido no ordenamento jurídico pela Lei 6.515/77 e mantido pelo Código Civil de 2002 em seu artigo 1.640 2, no qual estabeleceu-se que em não havendo convenção acerca do regime de bens sob o qual o casamento foi realizado, ou sendo ela ineficaz ou nula, vigorará o regime da comunhão parcial de bens. Por este regime, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil 3, comunicamse os bens adquiridos, por cada cônjuge, na constância do casamento, a título oneroso, sendo incomunicáveis, porém, os bens adquiridos por cada cônjuge antes da celebração do casamento, bem como os bens recebidos na constância do casamento por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar, os adquiridos a título gratuito ou com valores exclusivamente pertencente a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, os de uso pessoal, os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões e rendas semelhantes, conforme enumera o artigo 1.659 do Código Civil4. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. 2.ed. São Paulo: Renovar, 2002, p. 121/122. 2 “Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.” 3 “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.” 4 “Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.” 1 44 44 Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa1: A ideia central no regime da comunhão parcial, ou comunhão de adquiridos, como é conhecido no direito português, é a de que os bens adquiridos após o casamento, s aquestos, formam a comunhão de bens do casal. Cada esposo guarda para si, em seu próprio patrimônio, os bens trazidos antes do casamento. É o regime legal, o que vigora nos casamentos sem pacto antenupcial ou cujos pactos sejam nulos, vigente entre nós após a lei introdutória e regulamentadora do divórcio (...). Ou seja, no regime da comunhão parcial de bens “formam-se três massas de bens: os bens do marido, os bens da esposa, e os bens comuns” 2. Com efeito, o fato de o regime da comunhão parcial de bens ser o regime legal aplicado hoje em caso de ausência de estipulação pelos cônjuges, regra esta adotada pelo Código Civil de 2002, decorre da semelhança de ideias entre este regime e a instituição do casamento. Isto porque, o casamento é a comunhão plena de vida, razão pela qual espera-se que os cônjuges, ao optarem pelo casamento, o façam com o intuito de unir esforços para atingir o fim perseguido pelo casamento, que é a formação de uma família e garantia da dignidade da pessoa humana. Verifica-se, na instituição do casamento, forte presença do princípio da solidariedade. E é essa ideia de solidariedade que circunda o regime da comunhão parcial de bens, ao passo que, neste regime, tudo o que foi adquirido na constância do casamento, ou seja os frutos da união de esforços do casal, independente do esforço direito de cada cônjuge, será partilhado igualmente, sejam ativos ou passivos – patrimônio ou dívidas. Nesse sentido, ensina Rolf Madaleno3 que: A solidariedade familiar faz pesar sobre a sociedade conjugal os custos que surgem para a cobertura das suas necessidades, constituindo-se por isto, em um passivo da sociedade nupcial, fazendo Vaz Ferreira uma descrição exemplificativa do que seriam dívidas da sociedade conjugal e, portanto, comunicáveis, em contraponto àquelas consideradas pessoais e incomunicáveis. Como dívidas sociais tenham-se presentes aquelas contraídas por contrato oneroso durante o casamento e em benefício da família (...). Esse raciocínio está presente no artigo 1.664 do Código Civil 4 que disciplina que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou VENOSA, Silvio de Salvo, Direito Civil “Direito de Família” Vol. VI, 10ª Edição, Editora Atlas, 2010, p. 332. 2 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. Op. Cit., p. 744. 3 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. Op. Cit. p. 744 4 “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” 1 45 45 pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. ” Ainda seguindo a linha de pensamento do referido artigo, tem-se que “os bens comuns do casal somente respondem pelas dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, caso elas tiverem finalidade de atender aos encargos da família, além de gastos inerentes à administração e imposição legal. Esta regra se justifica, em sede constitucional, no princípio da solidariedade.” 1. Portanto, o regime da comunhão parcial de bens, assim como a instituição do casamento, tem como alicerce principal o Princípio da solidariedade, o qual traz a ideia de que os cônjuges devem forças, se ajudando mutuamente e dividindo as vitórias e derrotas inerentes ao casamento, e construam uma família. 1.3. O REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS O regime da separação total de bens “caracteriza-se pela distinção dos patrimônios dos cônjuges, que permanecem estanques, na propriedade, posse e administração de cada um.”2. A esse respeito, disciplina o artigo 1.687 do Código Civil que “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus reais.”. Nesse sentido, ensina Caio Mário da Silva Pereira3: No regime de separação de bens, cada um dos cônjuges conserva a posse e a propriedade dos bens que trouxer para o casamento, bem como dos que forem a eles sub-rogados, e dos que cada um adquirir a qualquer título na constância do matrimônio, atendidas as condições do pacto antinupcial. A opção por este regime de bens também deve ser feita por meio de pacto antinupcial, já tendo havido, inclusive, manifestação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido4. Há, ainda, a possibilidade de os nubentes mitigarem a separação dos bens. Nesse sentido5: Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 312. 2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. V. Op. Cit., p. 242. 3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. V. Op. Cit., p. 242. 4STJ, 3ª T, REsp. 141.062, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julg. 26.06.2000. 5Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 342. 1 46 46 Os cônjuges podem optar por uma separação total ou parcial. Naquela, também denominada de separação pura, não há comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento nem os anteriores; nesta há adoção excepcional da comunicabilidade pelo que se aproxima do regime da comunhão parcial. No entanto, o artigo 1.687 é lido como a separação pura. Até aqui foi discorrido acerca da separação total de bens convencionada entre as partes. Porém, há hipótese em que a separação de bens é obrigatória, ou seja, dependendo das características dos nubentes, o único regime sob o qual eles podem se casar é o da separação total de bens, conforme artigo 1.641 do Código Civil1. Este é o caso das pessoas maiores de setenta anos, bem como de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial, compreendendo aquelas pessoas não emancipadas e menores de 18 anos, observando, exclusivamente, neste último caso, que quando os cônjuges atingirem a maioridade, poderão alterar o regime de separação obrigatória de bens para o que melhor lhes aprouver. Uma vez dissolvida a sociedade conjugal, divisão patrimonial é simples. Cabe a cada cônjuge o que é seu, adquirido por si, não havendo neste regime a comunicação patrimonial. A respeito da dissolução da sociedade conjugal, o Supremo Tribunal Federal, na contramão da ideia central do referido regime de bens, editou o verbete 377 de súmula firmando o entendimento de que “no regime da separação legal de bens comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. ” Porém, não iremos nos ater, no presente capítulo, a análise, interpretação e aplicação do referido verbete, pois este será o objeto de estudo do segundo capítulo. Quantos às dívidas, as adquiridas antes do casamento não se comunicam; já as adquiridas na constância do matrimônio, responde cada cônjuge individualmente. Conforme já dito no decorrer do presente estudo, as dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica são de responsabilidade de ambos os cônjuges, em razão da solidariedade existente, mas já asa dívidas particulares contraídas por cada cônjuge, são de sua responsabilidade. 1.2 O REGIME DE BENS APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL 1“Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.” 47 47 Antes da promulgação da Constituição Federal, a união estável, quanto ao aspecto patrimonial, era vista como uma mera sociedade de fato, sendo certo que em caso de término da sociedade, por qualquer motivo, o objetivo era a partição patrimonial. A convivência de enquadrava no campo do direito obrigacional. Porém, com o advento da CF, que, como já mencionado, reconheceu a união estável como entidade familiar, a meação do patrimônio passou a ser devida com base no princípio da solidariedade familiar, não tendo importância a contribuição de cada consorte na formação do patrimônio para que este seja partilhado. Com isso, “as uniões estáveis passaram assim, definitivamente, para o campo do direito de Família, que regula a existência de uma “sociedade de afeto, e não mais de uma sociedade de fato”1. Seguindo essa linha de raciocínio, antes da promulgação do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestava no sentido de que a concubina supérstite, em comprovando ter contribuído indiretamente para a formação do patrimônio, seja cuidando da casa, dos filhos ou apoiando o marido, teria direito à meação do patrimônio adquirido na constância do casamento. Tal entendimento se consolidou ao se julgar aplicável à união estável a súmula n.º 377 do STF, “segundo a qual no regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.”2 No referido julgamento, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito consignou que: (...) para os efeitos da súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância da união. Na verdade, para a evolução jurisprudencial e legal, já agora com o artigo 1.725 do Código Civil de 2002, o que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a contribuição financeira, mas, sim, a participação direta e indireta representada pela solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão de vida, na presença em todos os momentos da convivência, base da família, fonte de êxito pessoal e profissional de seus membros.3 Com efeito, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.725 4, prescreveu que na união estável, salvo estipulação contratual feita por escrito pelos companheiros, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, se nada for pactuado pelos companheiros, suas relações patrimoniais serão regidas pelo regime da comunhão parcial de bens. Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 438. 2 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 438. 3 STJ, 3ª T., REsp 736.627, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes direito, julg. 11.04.2006. 4 “Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” 1 48 48 Nesse sentido, ensina Gustavo Tepedino1: “a natureza do regime de bens associa-se ao ato jurídico formal da constituição da família, justificando-se a amplitude de seu espectro de incidência na vida patrimonial dos cônjuges em razão da publicidade derivada do registro do ato matrimonial no cartório competente, em favor da segurança de terceiros.” O Código Civil estabeleceu, ainda, que os companheiros podem estabelecer por contrato de forma escrita, denominado pacto de convivência, suas relações patrimoniais, sendo certo que o pacto de convivência, além de relações patrimoniais, também pode regular algumas questões inerentes às relações patrimoniais, nos termos e limites do pacto antenupcial. O pacto de convivência pode ser alterado a qualquer tempo, até mesmo para alterar o regime de bens, sem que seja necessária a conversão da união estável para casamento, aplicando-se supletivamente o artigo 1.639, §2º do CC. O momento em que mais se verifica a relevância do pacto de convivência é o da dissolução da união estável, pois facilita a partilha de bens do casal. 2. OS REFLEXOS SUCESSÓRIOS DO REGIME DE BENS Como visto, os regimes de bens acima estudados têm suas singularidades quanto à divisão dos bens em caso de dissolução da sociedade conjugal, seja por morte ou por vontade dos cônjuges e companheiros, o que influencia diretamente na forma como serão partilhados com os herdeiros do de cujus. No presente capítulo, serão demonstrados os reflexos dos regimes de bens no direito sucessório e a importância do regime de bens escolhido pelos cônjuges ou companheiros no momento da sucessão mortis causa. Serão expostas, ainda, as problemáticas acerca da sucessão do cônjuge e do companheiro, bem como as soluções vislumbradas resultantes de uma interpretação civil-constitucional. 2.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO SUCESSÓRIO E A SUA RELAÇÃO COM O REGIME DE BENS. 1 TEPEDINO, Gustavo. Controvérsias sobre a tutela sucessória do cônjuge e do companheiro. Em: http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/viewFile/2279/pdf, acesso em 25.09.2014, p. 61. 49 49 O Direito Sucessório é um importante ramo do direito civil-constitucional que regula a sucessão dos bens deixados pelo de cujus aos seus herdeiros. O direito de herança foi consagrado constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXX 1, da Constituição Federal, gozando, portanto, de status de direito fundamental. Comentando sobre o inciso XXX do artigo 5º da CF, Judith Martins-Costa2 ensina que: A herança é instituto jurídico a que a constituição apõe o selo da garantia, conferindo-lhe a “nota de fundamentabilidade”. Portanto, a garantia mencionada no inciso XXX é uma garantia institucional cujo o âmbito de proteção é estritamente normativo, cabendo ao legislador ordinário determinar a amplitude, a conformação, o conteúdo, e os modos de exercícios do direito, sendo a sua atuação indispensável para a própria concretização do instituto da herança. São Destinatários do inciso XXX o estado e a generalidade dos cidadãos. (...) O Direito de Herança é uma importante ferramenta para que o patrimônio construído em vida por um indivíduo não saia de sua esfera patrimonial e vá para o poder do Estado, caracterizando, assim, verdadeira afronta ao direito de propriedade do de cujus. Nesse sentido, ensina Ana Luiza Maia Nevares 3 que “objetiva-se, com esta garantia, impedir que a sucessão mortis causa seja suprimida do ordenamento jurídico com a consequente apropriação pelo Estado dos bens do indivíduo após a sua morte”. Portanto, sendo assegurado constitucionalmente como direito fundamental, o direito à herança jamais será suprimido do ordenamento jurídico, sendo garantida a transferência do direito patrimonial em favor dos herdeiros do de cujus, sejam os legítimos ou os testamentários4. A esse respeito, Luiz Paulo Vieira de Carvalho 5 assevera que “quando a pessoa é chamada ao mundo espiritual como consequência de fato natural ordinário, a morte, o direito patrimonial transmissível que lhe pertencia não se perde, apenas se desloca em favor de outra pessoa ou pessoas, continuando a existir. ” “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXX - é garantido o direito de herança; (...)” 2 MARTINS-COSTA, Judith. Comentário ao artigo 5º, inciso XXX. In: Canotilho, J.J. Gomes; Mendes, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz (Coords.) Comentários à Constituição do Brasil. São Pulo: Saraiva/Almedina, 2013. P.338. 3 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Op. Cit., p. 32. 4 “Art. 1.786 – A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade.” 5 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Atlas, São Paulo, 2014. p. 20. 1 50 50 Por esta razão, o direito sucessório é fundado na garantia constitucional do direito à propriedade privada, prevista no artigo 5º, caput, XXII e XXIII1, que traz a ideia de que os bens que um indivíduo possuiu em vida, após a sua morte, não serão transferidos ao Estado, mas sim aos seus herdeiros, parentes mais próximos, que, provavelmente, dividiram com o falecido as expectativas e frustações saboreadas durante a vida e na construção do patrimônio. Na mesma linha pondera Ana Luiza Maia Nevares 2 que: “Argumenta-se que a inexistência do direito de herança numa sociedade em que não impera um integral coletivismo da propriedade, levaria a um consumo desenfreado, desestimulando a poupança. ” E tal ponderação se explica no fato de que um indivíduo, em vida, sabedor que após a sua morte seu patrimônio será integralmente transferido para o Estado, certamente não irá acumular riqueza, mas sim realizar todo o seu patrimônio em vida, consumindo de forma desmedida e deixando de poupar. Acrescenta a referida doutrinadora3: Além disso, segundo Marco Campoti, a transmissão dos bens para o Estado criaria situações instáveis quanto à continuidade das relações jurídicas do finado. Ainda nas suas lições, “todos os ordenamentos jurídicos antigos e modernos preveem largamente o instituto da sucessão hereditária, seja pelo reconhecimento da propriedade provada, que não cessa com a morte do proprietário, seja pela necessária continuação para além da morte das relações jurídicas econômicas, com uma regra de certeza no tempo quanto ao adimplemento das obrigações. Além disso, o direito sucessório tem um papel de “dirimir conflitos familiares no universo onde repousavam as relações íntimas e fraternas do agora falecido”4 ao disciplinar e distribuir o patrimônio por ele deixado, na forma da lei ou de acordo com testamento, caso haja. Tratando a matéria sob a perspectiva civil-constitucional, ensina Luiz Paulo Vieira de Carvalho: Efetivamente, o direito Sucessório justifica-se como significativo ramo do Direito Civil-constitucional, a enfeixar, majoritariamente, um conjunto de regras de ordem pública, imperativas, bem como, em menor proporção, de regras dispositivas, isto é, supletivas, da vontade particular. Todas elas, contudo, são indispensáveis à consecução dos objetivos supramencionados, ao disciplinarem o que e a quem os bens, direitos e obrigações, anteriormente na titularidade do hereditando, serão dirigidos. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...)” 2 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Op. Cit., p. 32. 3 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Op. Cit., p. 32. 4 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Atlas, São Paulo, 2014, p. 20. 1 51 51 Ademais, a garantia constitucional ao direito de herança, prevista no inciso XXX do art. 5º da CF, é conexa com outras garantias princípios e direitos constitucionais, como, por exemplo, o direito à liberdade, em relação ao de cujus de dispor de seu patrimônio e escolher livremente a quem caberá o benefício de receber parte de seu patrimônio. Nesse sentido, veja-se mais uma vez as palavras de Judith Martins-Costa1: A garantia do direito de herança está em conexão com outras garantias, princípios e direitos fundamentais, como, nomeadamente, o direito à liberdade (art. 5º, caput) e o princípio da autodeterminação pessoal, subjacente aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV, art. 170, II, quanto à livre iniciativa econômica), bem como a garantia ao direito de propriedade (art. 5º XXXII). Não obstante a constituição garanta o direito de herança, inclusive como garantia fundamental, conforme demonstrado acima, é certo que ela não regulamentou a sucessão mortis causa, cabendo, portanto, ao legislador ordinário esta tarefa. Foi assim que o Código Civil de 2002 regulamentou a matéria no seu título V, denominado “direito das sucessões”, delimitando o “conteúdo do direito de herança, bem como a forma como esse direito é exercido e os limites que o conformam.”2 Conclui-se, portanto, que a sucessão hereditária, com assento constitucional no inciso XXX da CF, tem fundamento constitucional no direito à propriedade privada, bem como no direito à liberdade, direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa e no princípio da autodeterminação pessoal. Logo, é evidente a íntima relação existente entre o regime de bens e o direito sucessório, ao passo que o regime de bens disciplina como serão partilhados os bens do casal, em relação ao cônjuge ou companheiro supérstite, e o direito sucessório tem a função de regulamentar a sucessão dos bens deixados pelo falecido. Nesse sentido, Ana Luiza Nevares3 ensina que: Na concorrência com os descendentes, o Código Civil de 2002 estabelece mais um requisito para compor o direito hereditário do cônjuge. Trata-se do MARTINS-COSTA, Judith. Comentário ao artigo 5º, inciso XXX. In: Canotilho, J.J. Gomes; Mendes, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz (Coords.) Comentários à Constituição do Brasil. Op. Cit., p.340. 2 MARTINS-COSTA, Judith. Comentário ao artigo 5º, inciso XXX. apud Canotilho, J.J. Gomes; Mendes, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz (Coords.) Comentários à Constituição do Brasil. Op. Cit., p.340. 3 NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Op. Cit., p. 160. 1 52 52 exame do regime de bens do matrimonio (CC/02, art. 1.829, I). Como já afirmado é possível graduar a tutela sucessória do cônjuge a partir do regime de bens do casamento. Com efeito, nota-se a importância do regime de bens para o direito sucessório, ao passo que com a escolha do regime, o falecido manifestou sua vontade, inclusive, acerca da sucessão. Logo, se o de cujus optou por este ou aquele regime de bens devem ser observadas, no momento da sucessão, as ideias e regras do regime escolhido, respeitando, assim, a vontade do falecido. Portanto, os efeitos do regime de bens escolhidos pelo casal, em vida, devem persistir após a morte de um dos cônjuges, caracterizando a ultratividade do regime de bens, influenciando decisivamente na concorrência sucessória entre descendentes do de cujus e o cônjuge sobrevivente. Necessário consignar que existem doutrinadores que entendem de forma diversa, ou seja, entendem pela divisão e não pela comunicação desses dois ramos do direito, ao passo que, para eles, com a morte, se encerra as vontades manifestadas pelo de cujus em vida. Para essa corrente, a escolha do regime de bens é ato praticado inter vivos e, portanto, tem seus efeitos encerrados no momento da morte, pouco importando as vontades manifestadas pelo morto, em vida, no momento da sucessão. Nesse sentido, veja-se o entendimento de Luiz Paulo Vieria de Carvalho1: (...) somos da opinião que a escolha do regime de bens, sendo ato inter vivos só produz efeitos patrimoniais em vida dos declarantes. Rompido o vínculo matrimonial pela morte de um dos cônjuges (art. 1.571, caput, inciso I e parágrafo único do CC) cessam os efeitos da referida escolha e, desse modo entendemos não possa influenciar as regras pertinentes à ordem de vocação hereditária, de ordem pública e, portanto, de caráter imperativo. Repita-se que não concordamos com esse posicionamento, mas acreditamos que as declarações feitas em vida, quando da escolha do regime patrimonial do casamento, produzem, sim, efeitos após a morte de um dos declarantes, o que comprova a importância do regime de bens para a sucessão do cônjuge e do companheiro. Demonstrados os fundamentos constitucionais do direito sucessório, a próxima relação entre o regime de bens e o direito sucessório, bem como os reflexos que um tem no outro, passa-se a analisar a sucessão do cônjuge e do companheiro, sob a ótica do direito civil- constitucional. 1 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 379. 53 53 2.2 SUCESSÃO DO CÔNJUGE Para melhor compreensão acerca das discussões que giram em torno da sucessão do cônjuge, necessário tratarmos dos seus direitos sucessórios no Código Civil de 1916, bem como no Código Civil de 2002, passando pelas evoluções e traçando as principais diferenças. No Código Civil de 1916, em seu artigo 1.611 1, era determinado que na falta de descendentes ou ascendentes seria deferida a sucessão do cônjuge sobrevivente, se, na data da morte do outro cônjuge, a sociedade conjugal estivesse vigente, ou seja, ainda não tivesse sido dissolvida, sendo certo, portanto, que no anterior código, “os herdeiros necessários eram apenas os descendentes e os ascendentes. ”2 Previa, ainda, o Código Civil de 1916, no artigo 1.725 3, que a sucessão do cônjuge supérstite somente ocorreria na ausência de testamento deixado pelo de cujus que o excluísse da herança. Isto porque, o referido código não outorgava ao cônjuge status de herdeiro necessário, mas sim de herdeiro facultativo. A esse respeito, ensina Ana Luiza Maia Nevares 4 que “nesta hipótese, receberá o cônjuge toda a herança, ou a parte não contemplada em testamento, em propriedade plana, não importando o regime de bens em que era casado com o falecido.” Dessa forma, eram pressupostos para a sucessão legítima do cônjuge a existência de casamento válido, bem como que não tenha havido dissolução da sociedade conjugal ao tempo da morte. Em relação ao primeiro pressuposto, comenta Ana Luiza Nevares 5 que “é preciso recordar que o casamento putativo autoriza a sucessão do cônjuge de boafé, se a morte de um deles tiver ocorrido antes da sentença anulatória, uma vez que esta não terá efeitos retroativos”. Portanto, caso haja boa-fé somente por parte de um dos cônjuges, somente este terá direito à sucessão. Quanto ao segundo pressuposto, há divergências doutrinárias e jurisprudenciais no tocante ao momento da dissolução da sociedade conjugal. Isto porque, discute-se a possibilidade de o cônjuge separado de fato, hipótese em que “Art. 1.611. À falta de descendentes ou ascendentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do outro, não estava dissolvida a sociedade conjugal.” 2 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 320. 3 “Art. 1.725. Para excluir da sucessão o cônjuge ou os parentes colaterais, basta que o testador disponha do seu patrimônio, sem os contemplar.” 4NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Op. Cit., p. 80. 5NEVARES, Ana Luiza Maia. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Op. Cit., p. 80. 1 54 54 apesar da separação fática ainda não houve a dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio, suceder ao outro. Então veio o Código Civil de 2002 e trouxe em seu texto importantes alterações no que diz respeito à sucessão do cônjuge. Não obstante o artigo 1.8291 do Código Civil tenha determinado, preferencialmente, a sucessão legítima em favor dos descendentes e ascendentes, o mesmo introduziu duas significativas alterações em relação à sucessão hereditária do cônjuge. A primeira alteração encontra-se nos incisos I e II do referido artigo, na qual extrai-se que o cônjuge sobrevivente passou a concorrer com os descendentes do autor da herança, dependendo, no entanto, do regime matrimonial de bens sob o qual o de cujus e a supérstite foram casados ou do regime imposto pela legislação. No inciso II do referido artigo, tem-se que, “na falta de descendentes, independentemente do regime de bens, passou a concorrer com os ascendentes daquele, figurando, por fim, solitariamente no inciso III, recolhendo a herança legítima como único titular na falta de tais descendentes e ascendentes.” 2 Já a segunda, e mais significativa, delas encontra-se no artigo 1.845 do Código Civil3, que inseriu o cônjuge sobrevivente na condição de herdeiro necessário, ao lado dos descendentes e ascendentes do autor da herança, ao inverso do código civil de 1916 que considerava o cônjuge supérstite como herdeiro facultativo. Com isso, “privilegiou o legislador a colaboração, a solidariedade e a dedicação do consorte, presumindo a sua participação na construção do patrimônio familiar”4. A inovação trazida pelo Código Civil de 2002 é de grande valia, pois, com ela, foi conferido aos cônjuges o benefício da legítima, que consiste na porção de 50 % do patrimônio que o testador não pode testar ou doar, uma vez que esta pertence aos herdeiros necessários5. Nas lições de Luiz Paulo Vieira de Carvalho6: 1“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.” 2CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 320. 3 “Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.” 4 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 634. 5 DINIZ, Maria Helena. (Coord.) Sucessão do cônjuge, do companheiro e outras histórias. São Paulo: Saraiva. 2014. P. 11 6 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 322. 55 55 Pelo exposto supra, verifica-se que, se o inciso I do artigo 1.829 atribuiu ao cônjuge supérstite concorrência sucessória com os descendentes do falecido, ao mesmo tempo excepcionou tal concorrência ao subordiná-la ao regime de bens escolhido ou imposto legalmente ao ex-casal, em princípio, segundo os especialistas, com base na afirmação de que “quem meia não herda, quem herda não meia”, ou seja, aquela que já encontrava aparado economicamente pela meação obtida em vida advinda do regime matrimonial de bens, não deve concorrer à herança com os descendentes do morto, geralmente forças mais novas, presumidamente mais necessitadas de proteção patrimonial. Desse modo, embora o Código Civil de 2002 tenha inovado ao atribuir ao cônjuge supérstite a qualidade de herdeiro necessário, concorrendo, assim, com os demais herdeiros, essa inovação foi limitada pelo legislador. Isto porque, a concorrência do cônjuge supérstite com os demais herdeiros está subordinada ao regime de bens sob o qual o supérstite e o de cujus foram casados. 2.2.1 A discussão acerca da sucessão do cônjuge casado sob o regime da separação de bens De início, não obstante já tenha sido falado no tópico acima destinado ao regime da separação de bens, necessário esclarecer que o regime da separação de bens pode decorrer da vontade dos nubentes ou por imposição legal, nos termos do art. 1.641 CC. Cabe frisar, ainda, que no caso da separação convencional de bens, os nubentes podem optar por “uma separação pura, onde não há comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento nem os anteriores” ou por uma parcial, onde “há adoção excepcional da comunicabilidade, pelo que se aproxima do regime da comunhão parcial”1. No entanto, doutrina e jurisprudência têm dado diferentes interpretações ao artigo 1.687 do Código Civil, havendo divergência acerca da comunicabilidade dos bens adquiridos pelos cônjuges casados sob o regime da separação de bens. A divergência, no tocante ao regime da separação legal ou obrigatória de bens, gravita em torno da possibilidade de se atribuir ao cônjuge casado sob este regime de bens a qualidade de meeiro e herdeiro dos bens deixados pelo de cujus. Em relação à possibilidade de meação, pelo supérstite, dos bens adquiridos pelo casal na constância do casamento, a discussão é calorosa. A comunicabilidade dos bens adquiridos por cada consorte casado sob o regime da separação legal de 1 56 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 343. 56 bens, na constância da união, é muito discutida “já que sua característica é a completa separação de patrimônio dos dois cônjuges (...). Logo, há dúvidas se a comunicabilidade se restringe não só aos bens anteriores como aos adquiridos posteriormente ao casamento.”1 Parte dos civilistas entende que não há qualquer tipo de comunicabilidade, se apoiando nos argumentos de que o cônjuge, quando da elaboração do pacto antinupcial, assim quis, vontade que deve ser respeitada após a sua morte e que o Código Civil claramente disciplina a impossibilidade de comunicação patrimonial. Por outro lado, em corrente que vem demonstrando-se majoritária, há os que entendem que os bens adquiridos após o casamento, a título oneroso, devem compor uma massa comum de bens do casal, fazendo jus o supérstite à proporção de 50% destes. Se apoia essa parcela dos estudiosos nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Federal editou o verbete 377 de Súmula segundo o qual “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento". Naturalmente, em interpretação literal do texto inserido na lei civil em vigor, se extrai que não haveria, em regra, comunicação nos aquestos. No entanto, a fim de imprimir maior flexibilização ao sistema de separação ordenado por lei e pôr fim às controvérsias acerca da comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento, realizado sob o regime da separação total de bens, o STF, após reiterados decisões no mesmo sentido, consolidou seu entendimento com a edição da Súmula 377. Quanto à vocação hereditária do cônjuge casado sob o regime da separação legal de bens, resta claro no texto do artigo 1.829 do CC o entendimento de que (i) caso haja descendentes, o cônjuge sobrevivente não será considerado herdeiro; (ii) no caso de o falecido deixar apenas ascendentes, o cônjuge supérstite terá direito à herança na mesma proporção que os ascendentes; e (iii) já no caso de o de cujus não deixar nem descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente receberá a herança em sua totalidade. Tais regras, contudo, também são objeto de discussões judiciais, inclusive considerando o posicionamento da citada súmula 377 do STF, ao passo que, para parte dos estudiosos, os bens dos cônjuges casados sob o regime da separarão legal de bens se comunicam, devendo o supérstite ser, também, considerado herdeiro em concorrência com os descendentes. 1 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 264. 57 57 Nesse sentido, defende Luiz Paulo Vieira de Carvalho1: Em nosso entender, a restrição sucessória à concorrência hereditária do cônjuge sobrevivente com os descendentes do falecido em comento é absurda, pois, além de ferir o princípio basilar do sistema sucessório de proteger os familiares sobreviventes do falecido, só terá sentido se aceitarmos a subsistência da súmula 377 do STF (...) sob pena de eixar em desamparo, in concreto, o cônjuge supérstite, especialmente o do lar que, em regra, não amealhou nem dispõe de patrimônio próprio. Para Maria Berenice Dias, a vinculação do regime sucessório ao regime de bens escolhido pelo casal é inconstitucional, pois havia a proteção não isonômica e fora de razoabilidade. A referida doutrinadora critica veementemente a exclusão do cônjuge casado sob o regime da separação legal da sucessão. 2 Entretanto, há parcela doutrinaria e jurisprudencial que entende ser necessário o esforço comum de ambos os cônjuges na construção patrimonial para que ocorra a referida comunicação dos bens. Ou seja, hoje em dia a divergência está na continuidade ou não da aplicação do verbete 377 do STF. Já com relação ao regime da separação convencional de bens, a discussão envolve a comunicabilidade dos bens amealhados durante a relação conjugal, tendo em vista a ausência de previsão legal, o que abre margem a diferentes interpretações. Alguns entendem ser aplicável, por analogia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado por meio do verbete de Súmula nº 377 3, no sentido de que os bens adquiridos durante a união, também no regime da separação convencional de bens, devem ser amealhados pelos cônjuges em caso de divórcio e sucessão, e aqueles adquiridos antes da união, pertencem exclusivamente àquele que o adquiriu. Discute-se “se haveria sociedade de fato entre os cônjuges quando a aquisição de determinado patrimônio tiver recebido o concurso de recursos financeiros de ambos”4. O Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do verbete 377 da súmula do STF quando o regime de bens do casal é o da separação convencional, não admitindo sequer o reconhecimento de uma sociedade de fato. A esse respeito, consignou o ministro Humberto Martins que “A Cláusula do pacto antenupcial que exclui a comunicação dos aquestos impede o reconhecimento de uma sociedade de 1CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 323. 2DIAS, Maria Berenice – Filhos, bens e amor não combinam! Disponível em :<http://www.mbdias.com.br, acesso 23.nov.2013. 3 Sum. 377 - No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 4Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 342. 58 58 fato entre marido e mulher para o efeito de dividir os bens adquiridos após o casamento”1. Nesse mesmo sentido, Fabio Ulhôa Coelho2 ensina que: Quando adotado o regime da separação de bens, o casamento não produz nenhum efeito patrimonial. Cada cônjuge continua exclusivo titular de bens e nenhum deles tem direito a qualquer meação sobre os do outro, ainda que adquiridos na constância do casamento a qualquer título, com ou sem contribuição do casal. Da inexistência de direito à meação não decorre nenhum enriquecimento indevido, nem mesmo quando os dois cônjuges contribuíram para a aquisição do bem registrado ou documentado somente em nome de um deles. Em sentido contrário, há os que entendem que, não obstante os cônjuges adotem o regime da separação total de bens, é cabível ao supérstite o direito ao montante de 50% do patrimônio amealhado durante o casamento, isto quando comprovada a contribuição de ambos para a aquisição do patrimônio, sob pena de enriquecimento ilícito de um cônjuge em detrimento do outro3. Já em relação ao direito de herança, também há divergência doutrinaria e jurisprudencial, porquanto parte da doutrina entende que o cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens não é herdeiro concorrente com os descendentes do falecido, sob o argumento o legislador ao utilizar a expressão “separação obrigatória de bens” no inciso I do art. 1.829 do Código Civil, estaria também se referindo a expressão convencional de bens. Nesse sentido, defende Miguel Reale que: A obrigatoriedade da separação de bens é uma consequência necessária do pacto concluído pelos nubentes, não sendo a expressão “separação obrigatória” aplicável somente nos casos relacionados no parágrafo único do art.1.641. Essa minha conclusão ainda mais se impõe ao verificarmos que – se o cônjuge casado no regime da separação de bens fosse considerado herdeiro necessário do autor da herança – estaríamos ferindo substancialmente o disposto no art. 1.687, sem o qual desapareceria todo o regime da separação de bens. Em sentido contrário, outra parte da doutrina e jurisprudência entende que haverá concorrência sucessória entre cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens e os descendentes do de cujus. A esse respeito, doutrina Luiz Paulo Vieira de Carvalho4: Haverá concorrência sucessória entre o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação convencional, com os descendentes do falecido, STJ, 3ª T., REsp 404.088, Rel. para cordão Min. Humberto Gomes de Barros, julg. 17.04.2007 COELHO, Fabio Ulhôa. apud Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 343. 3 TJRJ, 7ª C.C. Ap. Civ. nº 70016610651, Rel Des. Maria Berenice Dias, julg. 11.04.2007. 4 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 322. 1 2 59 59 independentemente da situação fática, mesmo porque, a uma, de maneira expressa o legislador só exclui da concorrência sucessória o cônjuge que fora casado sob o regime da separação legal ou obrigatória e não da separação volitiva. (...) A duas, porquanto antenupcial é negócio jurídico intervivos, com efeitos limitados a disciplinar os efeitos patrimoniais decorrentes do casamento dos pactuantes, não sendo cabível produzir, desse modo, eficácia ulterior a morte de qualquer dos nubentes, ocasião em que o vínculo matrimonial é rompido. De acordo com a corrente doutrinária e jurisprudencial que entende carecer o cônjuge de direitos sucessórios sobre o patrimônio deixado pelo de cujus, o cônjuge que se casou sob o referido regime de bens, quis, quando da celebração do casamento, não fundir seu patrimônio com o de seu consorte em nenhum momento de sua vida. Desse modo, para a primeira corrente, não haveria possibilidade de o sobrevivente concorrer com os demais herdeiros do de cujus, pois a vontade deste deve prevalecer após a sua morte. De outro lado, para os estudiosos que compõem a segunda corrente, há possibilidade de o cônjuge sobrevivente concorrer com os demais herdeiros, uma vez que, ainda que o regime adotado pelo casal tenha sido o da separação total de bens, onde não se comunicam os bens de cada consorte, houve uma comunhão de vida entre o casal, sendo certo que, a princípio, ambos se ajudaram mutuamente durante a vida, sendo, assim, garantido ao sobrevivente o direito a concorrer com os demais herdeiros. 2.2.1.1 Solução sob a ótica do direito civil-constitucional Em síntese, os problemas resultantes de discussões doutrinárias e jurisprudenciais, para os quais serão propostas soluções interpretativas no presente tópico, são o direito à meação e sucessão do cônjuge sobrevivente (i) casado sob o regime da separação legal de bens; e (ii) casado sob o regime da separação convencional de bens. Com o regime da separação legal de bens, previsto no art. 1.641, incisos I, II e III, o legislador buscou proteger os nubentes que tenham se consorciado em determinadas situações jurídicas que os deixem mais suscetíveis de serem ludibriadas em relação aos seus bens, de modo a ser evitado, por exemplo, o famoso “golpe do baú”. Esse regime busca evitar, a exemplo do inciso II, que pessoas com idade avançada possam se unir em matrimonio sob o regime da comunhão parcial de bens, impedindo que aproveitadores possam se aproximar e vir a se casar com idosos perseguindo o único fim de se beneficiar economicamente. 60 60 Importante frisar que a preocupação do legislador foi tamanha, que por meio artigo 977 do Código Civil1 foi vedado aos cônjuges casados sob o referido regime constituírem sociedade entre si e com terceiros. No entanto, o regime da separação obrigatória de bens, fere o princípio da liberdade de escolha do regime de bens, já estudado, bem como o princípio da igualdade substancial, proibição de discriminação por forca da idade, bem como dignidade da pessoa humana. Ou seja, a interpretação literal do dispositivo, se por um lado protege o patrimônio de uma pessoa, por outro fere princípios constitucionais e direitos fundamentais desta mesma pessoa. Com isso, há uma preocupação com o patrimônio da pessoa, o que deveria partir dele e não ser uma imposição legislativa, em detrimento de princípios constitucionais e direito constitucionais fundamentais. Com efeito, na busca de mitigar a separação dos bens nesses casos e, com isso, homenagear a aplicar, na interpretação do art. 1.641 CC, os princípios constitucionais e infraconstitucionais acima referidos, afastados pelo legislador ordinário, além de evitar o enriquecimento sem causa, o STF, atendendo o clamor da doutrina, passou a entender pelo direito do cônjuge supérstite, casado sob o referido regime de bens, à meação dos bens adquiridos na constância do casamento, chegando a editar o verbete 377 da Súmula. Gustavo Tepedino afirma que “numa posição intermediária, a sumula persiste em relação aos incisos I e II do art. 1.641 do CC, para atender ao princípio da solidariedade, o que não se justifica em relação ao inciso II, o qual está em desapreço ao princípio da igualdade, positivado no art. 5º, caput, da CR”2. E essa, a nosso sentir, é a melhor interpretação do dispositivo em análise, enxergando-o dentro do sistema jurídico em que está inserido, e não isoladamente, bem como reconhecendo a importância dos princípios constitucionais na sua interpretação e, via de consequência, aplicando-os. A respeito da interpretação dos dispositivos infraconstitucionais, observa Gustavo Tepedino3: No caso brasileiro, a introdução de uma nova postura metodológica, embora não seja simples, parece facilitada pela compreensão, mais e mais difusa, do papel dos princípios constitucionais nas relações de direito privado, sendo certo que doutrina e jurisprudência têm reconhecido o caráter normativo de princípios como o da solidariedade social, da dignidade da pessoa humana, “Art 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.” 2 TEPEDINO, Gustavo. apud Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 266. 3 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. Em http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf. Acesso em 05.08.2014. 1 61 61 da função social da propriedade, aos quais se tem assegurado eficácia imediata nas relações de direito civil. Nesse sentido, entendendo pela aplicação dos princípios constitucionais para a solução da questão, na mesma linha de raciocínio adotada pelo STF, a qual estamos a defender, a Desembargadora Maria Berenice Dias consignou em um acórdão de sua lavra1: A jurisprudência deste Tribunal já é remansosa quanto à aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal aos casamentos celebrados pela separação obrigatória de bens, visando à inocorrência de enriquecimento ilícito de um cônjuge em detrimento de outro e à justa e equânime partilha do patrimônio adquirido mediante o esforço comum, e que muitas vezes são registrados apenas no nome de um dos cônjuges. Assim, partilham-se os aquestos considerando a comunhão de esforços existentes num casamento excluídos os bens sub-rogados ou doados -, comunhão está baseada no afeto, companheirismo e dedicação, sendo de todo despicienda a necessidade da prova da contribuição financeira por parte dos cônjuges Se os cônjuges optaram pelo matrimônio, que, como visto acima, independente do regime de bens adotado, pressupõe a existência de comunhão plena de vida, solidariedade, união buscando realizações pessoal e constituição de família, é natural que, com a morte, o cônjuge supérstite possa partilhar os bens adquiridos em vida por ambos. Nesse sentido, Luiz Paulo Vieira de Carvalho2: Este é em nosso sentir, até os dias atuais, o melhor posicionamento. Consoante decisões jurisprudenciais, em especial no âmbito da 3ª Turma do STJ, para que o cônjuge não adquirente do bem aquesto se torne coproprietário deste, não há necessidade da prova do esforço em comum, uma vez que, estando presentes na referida Súmula os princípios da comunhão parcial, a comunhão dos aquestos é automática, por forca de presunção absoluta de colaboração para a aquisição entre os cônjuges. Fazemos a ressalva de que, logicamente, embora não seja necessária a prova de esforço comum para que o supérstite tenha direito à meação dos bens adquiridos durante a constância do casamento, cabe ao julgador, caso a caso, analisar se há indícios de fraude por parte do supérstite, levando em consideração, principalmente, o tempo que perdurou a relação. No entanto, embora o sobrevivente seja meeiro dos bens adquiridos na constância do casamento, não concorrerá com os herdeiros do de cujus na sucessão dos bens havidos antes da celebração do casamento, bem como na metade dos bens amealhados. Isto porque, o artigo 1.829, inciso I, assim dispõe, e embora haja divergência nesse sentido, a solução não guarda maiores mistérios. O supérstite, 1 2 62 TJRS, 7ª CC, AC 70007503766, Rel. Des. Maria Berenice Dias, julgado em 17.12.2013. CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 322. 62 como visto, de acordo com a solução proposta acima, ostenta a qualidade de meeiro, fazendo jus a 50 % dos bens adquiridos na constância do casamento. Portanto, não ficará desassistido o supérstite, ao passo que já recebeu o que lhe era de direito em razão da meação dos bens adquiridos quando da constância do casamento, sendo, dessa forma, devidamente observado o princípio constitucional da solidariedade. Ademais, essa forma de sucessão do cônjuge está de acordo com o princípio que teria sido adoto pelo legislador ordinário, segundo o qual “quem meia não herda, quem herda não meia”1 Já quanto a divergência acerca da sucessão do cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens, é certo que não assiste ao supérstite o direito à meação. Isto porque, na separação convencional de bens, o cônjuge exerce sua autonomia privada e liberdade de escolha do regime de bens, ao passo que o regime não foi imposto, como no caso da separação legal de bens, mas sim uma opção dos nubentes. Por essa razão, carece ao cônjuge o direito à meação, pois, exercendo a seu direito de escolher livremente o regime de bens sob o qual pretendia se casar (princípio da liberdade de escolha do regime matrimonial), optaram os nubentes por um regime sob o qual a regra é a da não comunicação. Por outro lado, haverá a concorrência sucessória entre o cônjuge supérstite e os descendentes do falecido, pois o legislador excluiu expressamente da concorrência sucessória somente o cônjuge que fora casado pelo regime da separação legal ou obrigatória de bens, e não pela separação que decorre da vontade das partes. Com mesmo entendimento, ensina Ana Luiza Maia Nevares 2 que: Verifica-se que não merece prosperar o posicionamento que defende a exclusão do cônjuge casado sob o regime da separação total convencional de bens da sucessão quando em concorrência com os descendentes. Ao contrário: a referida exclusão ocorreria em flagrante incoerência com a tutela sucessória do cônjuge calcada na solidariedade familiar. Isso porque ao cônjuge, como único componente fixo e estável da entidade familiar, deve-se garantir uma proteção adequada por ocasião da morte de seu consorte, sendo certo que é exatamente a ausência de meação que justifica o estabelecimento de direitos hereditários quando há concorrência com os descendentes. No entanto, entendemos que o supérstite somente concorrerá com os demais herdeiros do de cujus na sucessão dos bens adquiridos onerosamente na 1 2 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 322. NEVARES, Ana Luiza. apud CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 336. 63 63 constância do matrimônio, e não nos bens que o falecido já possuía antes de constituir o matrimônio. Tal posicionamento decorre da aplicação do princípio da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, pois, exemplificando, não seria justo que uma mulher que acompanhou o marido durante toda a vida e dedicou-se exclusivamente à família fique desamparada quando da morte de seu consorte. Desse modo, nos posicionamos de forma que devem ser aplicados os princípios da solidariedade familiar e dignidade da pessoa humana na interpretação dos artigos 1.687 e 1.829 do CC de modo que seja considerado o supérstite casado sob o regime da separação convencional de bens herdeiro necessário, devendo concorrer com os descendentes do de cujus, unicamente nos bens adquiridos na constância do matrimônio. 2.2.2. A discussão acerca da sucessão do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens No regime da comunhão parcial de bens, que, como visto cima, é o regime legal adotado pelo Código Civil, há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, sem que haja sub-rogação, são os denominados bens aquestos, na forma do artigo 1.658 do Código Civil. Portanto, são considerados bens particulares de cada cônjuge, não integrando, assim, a massa de bens comuns, os bens adquiridos pelos nubentes antes do matrimônio a qualquer título e os adquiridos na constância do casamento a título gratuito e os sub-rogados em seu lugar, conforme artigo 1.659 do Código Civil. Acerca da comunicação dos aquestos, interessante observação de Luiz Paulo Vieira de Carvalho1: Dá suporte à comunicação dos aquestos no regime da comunhão parcial, que, como antes dito, formam uma massa patrimonial comum, a presunção absoluta (iure et de Iuri, sem admissão de prova em contrário) de que ambos os nubentes colaboraram para a aquisição dos bens, advinda da affectio maritalis; cerne da sociedade conjugal) No mesmo sentido, Rodrigo da Cunha Pereira ensina que:2 1 2 64 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 338. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Colaboradores Ana Carolina Brochado Teixeira; et.al. Código Civil e legislação correlata da família. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 206 64 O casamento foi, é e parece que continuará sendo, na cultura ocidental, o mais forte paradigma de constituição de família. Diante disto, para a regulamentação das relações patrimoniais na união estável, o regime de bens no casamento foi tomado como referência. Caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes. Com dissolução desta união estável, o patrimônio será partilhado nos moldes do art. 1.658 e seguintes deste Código. Portanto, não há necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção já era prevista no art. 5 º da Lei nº 9.278/96. No caso de morte de um dos cônjuges casados sob esse regime, não há discussão acerca da meação dos bens comuns, pois assim já prevê a lei civil. A discussão ganha relevo quando se analisa a possibilidade de concorrência do supérstite com os demais herdeiros do de cujus à sucessão dos bens particulares do falecido. Acerca da concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente, devido a uma falha legislativa, há quatro entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, os quais serão a seguir demostrados. Para os estudiosos que compõem a primeira corrente, inexistindo bens particulares deixados pelo falecido, mas tão somente bens comuns, o cônjuge não concorrerá com os demais herdeiros. Já no caso de existirem bens particulares deixados pelo de cujus há concorrência do supérstite com os demais herdeiros na sucessão desses bens. A concorrência será com relação ao montante total da herança, ou seja, sobre os bens particulares acrescidos da parcela de 50% dos bens comuns, que constitui a meação. A concorrência também ocorrerá no caso de o falecido somente deixar bens particulares. Já para os que compõem a segunda corrente, dentre eles Zeno Veloso e Carlos Roberto Gonçalves, o cônjuge sobrevivente concorrerá com os descendentes do falecido somente sobre os bens próprios ou particulares que pertenciam ao de cujus e não sobre os bens comuns, nos quais já é meeiro. Isto porque, segundo Luiz Paulo Vieira de Carvalho1: (...) para estes ínclitos juristas, o raciocínio contrário ensejaria este vocacionado receber mais do que receberia se fosse casado pelo regime da comunhão universal, além de ser um critério mais justo (onde se meia não herda), não havendo sentido o reconhecimento do direito sucessório superposto à meação, pois já participa como meeiro da porção dos aquestos componentes do rol hereditário. 1 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 341. 65 65 Acerca da interpretação da parte final do inciso I, do artigo 1.829 do Código Civil, foi editado, na III Jornada de Direito Civil, o Enunciado 270 1, segundo o qual o cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens somente concorre com os herdeiros na sucessão dos bens particulares deixados pelo de cujus. Enfim, a primeira e a segunda correntes têm entendimentos similares, sendo a única diferença no tocante ao montante dos bens aos quais o supérstite concorrerá, sendo que a primeira corrente entende que a concorrência é sobre o montante total a ser inventariado, incluindo bens particulares e comuns, e a segunda corrente entende que a concorrência se restringe aos bens particulares, sendo o cônjuge sobrevivente excluído da sucessão da parcela que não lhe pertence dos bens comuns. No mesmo sentido do entendimento adotado pela segunda corrente, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em acórdão proferido no Recurso Especial 974.241, no qual os Ministros que compõem a referida turma entenderam que a concorrência sucessória entre supérstite e herdeiros se daria sobre todo o acervo sucessório, e não somente sobre os bens particulares. 2 No entanto, com entendimento diametralmente oposto aos acima exposto, forma-se a terceira corrente, a qual entende que, se o falecido era casado pelo regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente somente concorrerá com os herdeiros do falecido na sucessão da meação deixada pelo morto, constituída pelos bens que se comunicaram e formaram a massa de bens comuns, e não sobre os bens particulares deixados pelo falecido, caso haja. Os que assim defendem, a exemplo de Maria Berenice Dias, se apoiam na tese de que essa interpretação do artigo 1.829, I CC é a que mais se aproxima da ideia do regime da comunhão parcial de bens, sendo inaceitável que o cônjuge supérstite venha herdar a parte do patrimônio composta por bens individuais. Argumentam, ainda, que, caso a dissolução da sociedade conjugal estivesse se dando em razão de divórcio, ambos os cônjuges não teriam direito sobre o patrimônio particular do outro. Enunciado 270 – O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. 2 “CIVIL. SUCESSÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHA DO FALECIDO. CONCORRÊNCIA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL, ART. 1829, INC. I. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação do falecido. Interpretação do art. 1829, inc. I, do Código Civil. 2. Tendo em vista as circunstâncias da causa, restaura-se a decisão que determinou a partilha, entre o cônjuge sobrevivente e a descendente, apenas dos bens particulares do falecido. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (STJ – REsp nº 974.241 – DF – 4ª Turma – Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro – Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti – DJ 05.10.2011)” 1 66 66 A quarta e última corrente, a qual aderiu, em parte, o posicionamento adotado pela terceira, entende que somente haverá concorrência sucessória entre cônjuge sobrevivente e descendentes do falecido sobre a meação dos bens comuns por este deixados, jamais sobre bens particulares eventualmente existentes. Esse entendimento, que foi adotado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.563, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se apoia no respeito, após a morte de um dos cônjuges, do regime de bens por ele adotado. Nota-se que no âmbito do STJ a divergência está entre o entendimento da 3ª e 4ª Turmas, ao passo que para a 3ª Turma, só haverá concorrência sucessória entre supérstite e herdeiros sobre a meação dos bens comuns deixada pelo morto, mas nunca sobre os bens particulares. Já na 4ª Turma, o entendimento é de que a concorrência entre o supérstite e os herdeiros somente ocorrerá se o falecido deixar bens particulares e independente de meação por ele deixada, incidindo apenas sobre bens particulares. 2.2.1.1. A solução sob a ótica do direito civil-constitucional De início, importante consignar que o posicionamento ora adotado é no sentido de que o regime de bens tem fundamental importância para o regime sucessório, razão pela qual o regramento do regime escolhido pelo falecido e pelo supérstite, quando da celebração do casamento, devem ser, preponderantemente, observadas no momento da sucessão mortis causa. Dessa forma, e respeitando a vontade do falecido manifestada quando da escolha do regime de bens, pela interpretação das regras sucessórias o cônjuge supérstite somente concorreria com os herdeiros na sucessão dos bens comuns, ou seja, do montante resultante da meação do falecido, e não sobre os bens particulares. Com a sucessão, tem-se a continuidade da personalidade do morto, sendo de suma importância a vontade manifestada em vida por ele, devendo ser respeitada, portanto, a expressa manifestação de vontade do falecido quanto ao seu patrimônio, feita na oportunidade da escolha do regime de bens. Nesse sentido, Judith Martins-Costa e Miguel Reale1 ensina que: 1 MARTINS-COSTA, Judith; REALE, Miguel. Parecer. In: http://www.escoladaajuris.org.br/doctos/sucessoes/JUDITH%20M%20COSTA%20Parecer%20Suc%20 Sep%20TOTAL%20de%20bens.pdf. Acesso em 27.07.2014. 67 67 Tão entranhada está culturalmente a ideia de a sucessão (revestindo o fato biológico “morte”), expressar uma continuidade da personalidade do morto que ainda hoje, vários institutos jurídicos promovem a sua disciplina, bastando lembrar a hereditabilidade do direito de indenização por danos patrimoniais e extra- patrimoniais15; a existência de negócios atributivos post-mortem16; e a proteção geral da “personalidade” do morto. Ensina, a esse respeito, a doutrina: “(...) com a morte, a personalidade jurídica, embora “devesse” extinguir-se completamente (a personalidade jurídica deve corresponder temporalmente à existência biológica concepção/morte) é necessário, para certos efeitos (indenização do dano morte, defesa dos direitos de personalidade ‘ante’ e ‘post-morte’, etc) entender que a personalidade jurídica se mantém depois da morte na medida necessária para servir de suporte a esses interesses. Nessa linha de raciocínio, das correntes acima demonstradas a mais correta, que faz uma interpretação civil-constitucional dos dispositivos presentes no CC, é a que entende que o cônjuge supérstite, além da sua parte resultante da meação, tem direito a concorrer com os demais herdeiros apenas na parcela da meação que competiria ao morto, ou seja, nos bens comuns. Nessa corrente, encontram-se os ministros da 3ª Turma julgadora do STJ, que, no julgamento do Recurso Especial 1.377.084, entenderam, por unanimidade de votos, que, na sucessão do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o supérstite tem direitos somente sobre os bens comuns do casal, não concorrendo com os demais herdeiros nos que se refere aos bens particulares do morto. A esse respeito, veja-se trecho do acórdão que afirma a tese ora defendida, no sentido de que a vontade do cônjuge, manifestada no casamento com a escolha do regime de bens, deve ser tomada em consideração também no momento de interpretar as regras sucessórias1: A melhor interpretação é aquela que prima pela valorização da vontade das partes na escolha do regime de bens, mantendo-a intacta, assim na vida como na morte dos cônjuges. Desse modo, preserva-se o regime da comunhão parcial de bens, de acordo com o postulado da autodeterminação, ao contemplar o cônjuge sobrevivente com o direito à meação, além da concorrência hereditária sobre os bens comuns, haja ou não bens particulares, partilháveis, estes unicamente entre os descendentes. No entanto, embora seja o que mais respeita os princípios constitucionais e do direito sucessório, o entendimento ora proposto como solução para a discussão existente, que também é adotado pela 3ª Turma do STJ, não é o majoritário. Com efeito, a interpretação do artigo 1.829, I CC ora proposta, respeita os direitos individuais de cada consorte, ou seja, do falecido e do sobrevivente, 1 68 Recurso Especial 1.377.084. 3ª Turma julgadora do Superior Tribunal de Justiça. 68 observando, sobre tudo, a vontade do falecido e o princípio da solidariedade 1 sem ferir nenhum princípio ou garantia constitucional e tampouco normas infraconstitucionais. Veja-se, ainda, já caminhando para a conclusão do presente raciocínio, o que restou consignado no acórdão ora analisado: A permanecer a interpretação conferida pela doutrina majoritária de que o cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial herda em concorrência com os descendentes, inclusive no tocante aos bens particulares, teremos no Direito das Sucessões, na verdade, a transmutação do regime escolhido em vida –comunhão parcial de bens – nos moldes do Direito Patrimonial de Família, para o da comunhão universal, somente possível de ser celebrado por meio de pacto antenupcial por escritura pública Desse modo, a solução proposta, sob a ótica do direito civil-constitucional, é a de que o cônjuge, além da meação, que não constitui herança, concorra com os demais herdeiros do falecido na sucessão tão somente da metade dos bens comuns, mas não a dos bens particulares. Por fim, necessário abordar a hipótese em que o cônjuge falecido não deixa herdeiros, mas deixa bens particulares. Conforme inciso III do artigo 1.829 do CC, o cônjuge supérstite é o terceiro na ordem de vocação hereditária legítima, de modo que receberá a totalidade da herança, na qualidade de herdeiro único, independente do regime de bens do casamento, caso não haja descendentes ou ascendentes do de cujus. Isto porque, se assim não fosse, a herança seria integralmente destinada ao ente estatal, o que não seria justo com o supérstite e feriria o direito à propriedade, que, como visto, é o fundamento constitucional do direto sucessório. 2.3 SUCESSÃO DO COMPANHEIRO De início, necessário consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 226 §3º, reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, não fazendo diferenciação em relação ao casamento. Nesse sentido, leciona Gustavo Tepedino2: À União estável, como entidade familiar, aplicam-se, em contraponto, todos os efeitos jurídicos próprios, não diferenciando o constituinte, para efeito de proteção do Estado (e, portanto, para todos os efeitos legais, sendo certo que as normas jurídicas são emanação do poder estatal), a entidade familiar O Princípio da Solidariedade está sendo respeitado ao passo que, por essa interpretação, o supérstite concorrerá com os herdeiros na sucessão dos bens comuns, ou seja, dos bens que foram adquiridos pelo esforço comum. 2 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Op. Cit., p. 385. 1 69 69 constituída pelo casamento daquela constituída pela conduta espontânea e continuada dos companheiros, não fundada no matrimônio. No entanto, embora a Constituição Federal tenha trazido a ideia de proteção aos que vivem em união estável, seu texto não regulamentou o instituto, cabendo, portanto, ao legislador infraconstitucional esta árdua tarefa. Foi assim que, com o escopo de regular a união estável, foi editada a lei 8.971 de 1994, que além de regular o direito do companheiro aos alimentos, passou a tutelar os direitos sucessórios dos companheiros. Posteriormente, em 1996, foi promulgada a Lei 9.278 que regulou em seu texto o artigo 226, §3º da Constituição Federal, regulamentando a união estável, como já demonstra em tópico anterior, e concedendo ao companheiro sobrevivente, enquanto viver e não constituir nova união, o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado a residência da família. A Lei previu, ainda, uma regra de divisão patrimonial que, segundo Ana Luiza Maia Nevares 1: (...) tem pontos de contato tanto com o regime da comunhão parcial de bens, quanto com aquele da separação, na medida em que presume que os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável são considerados fruto do trabalho e da colaboração comuns, passando a pertencer a ambos os conviventes em partes iguais e em condomínio. Tal situação poderá ser afastada, restando a situação, por conseguinte, semelhante àquela estabelecida no regime da separação, uma vez que não haverá comunicação patrimonial entre os conviventes. Já com o advento do Código Civil em 2002, o regime de bens adotado nas uniões estáveis passou a ser o regime da comunhão parcial de bens, no que couber, conforme artigo 1.725 do CC. Outra inovação trazida pelo Código Civil foi acerca da sucessão do companheiro. Isto porque, o CC, em seu artigo 1.790, tratou da sucessão do companheiro, mas de forma confusa, de modo que à primeira vista sua leitura deixa dúvidas acerca da verdadeira intenção do legislador. Importante consignar, ainda, que o artigo 1.845 do CC, embora tenha elencado o rol de herdeiros necessários, onde consta o cônjuge, não fez menção ao companheiro como herdeiro necessário, havendo divergência, portanto, acerca da qualidade de herdeiro necessário do companheiro. 1 70 NEVARES, Ana Luiza. apud CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 134. 70 2.3.1.ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.790 E 1.845 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO A redação do artigo 1.7901 do CC, único artigo no Código destinado a regulamentar a sucessão do companheiro, não é clara e, por isso, pode ensejar, de acordo com a interpretação a ele conferida, situações prejudiciais aos companheiros, quando comparadas às dos cônjuges. Por conta do texto do artigo 226, §3º da Constituição Federal2, alguns doutrinadores argumentam haver hierarquia entre união estável e casamento, em razão da parte do dispositivo que prescreve que é dever do Estado facilitar a conversão da união estável em casamento. Ou seja, toda a divergência em torno do artigo 1.790 do CC, que será adiante demonstrada, resulta do fato de que parte considerável da doutrina e da jurisprudência se posicionam no sentido de que o referido artigo é constitucional, sob a alegação de que a não equiparação sucessória entre o casamente e a união estável decorre da própria Constituição Federal, ao passo que a constituição ao afirmar que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, estaria, no fundo, declarando estar o matrimonio hierarquicamente acima da união estável. Comunga deste entendimento, o Professor José Carlos Barbosa Moreira argumentando que “não ocorreu, porém, equiparação entre os dois institutos, ao contrário do que apressaram a sustentar alguns: a família formada pela união estável coexiste com a fundada pelo casamento, mas aquela não se identifica com esta.”3 No entanto, existe “tese oposta que pugna pela igualdade, considerando que o parágrafo 3º do artigo 226 se dirige ao legislador infraconstitucional para que removam os obstáculos existentes para a conversão da união o estável em casamento, se os companheiros assim desejarem. ”4 Argumentam os que defendem a inconstitucionalidade do artigo 1.790 CC que este artigo garante maior proteção ao cônjuge do que ao companheiro, 1“Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 2Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 3MOREIRA, José Carlos Barbosa. apud CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 384. 4Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 540. 71 71 colocando, assim, o casamento em posição hierarquicamente superior à união estável, ferindo diversos direitos e princípios constitucionais, como o Princípio da Igualdade, da Solidariedade e da Dignidade da pessoa humana. A esse respeito, leciona Luiz Paulo Vieira de Carvalho1: De todo modo, exsurge a desigualdade numa situação de iníqua inferioridade de direitos entre o companheiro na união estável e a pessoa casada, violando pensamos, de modo cristalino, o princípio da vedação ao retrocesso e outros princípios de índole constitucional, tais quais o da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, além da igualdade formal e substancial de pessoas situadas em posição jurídica similar. Pela redação do referido artigo, na união estável, o companheiro sobrevivente somente poderá suceder os bens que foram adquiridos, onerosamente, na constância da união, não podendo, porém, participar da sucessão dos bens particulares, deferentemente do que ocorre no casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. Por essa razão, o artigo tem “gerado numerosas críticas e interpretações divergentes, que compreendem desde a amplitude da proteção constitucional a ser dada aos que vivem em união estável, até o reconhecimento (ou não) do companheiro como herdeiro necessário.”2 Ainda adotando esse entendimento, o STJ, por meio de acórdão de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu no sentido de garantir ao companheiro o direito de concorrer com os descendentes do seu ex-companheiro, já falecido, sobre o total do acervo onerosamente adquirido na constância da união, não aplicando o inciso II do artigo 1.790 do CC3. Ao julgar o leading case da filha exclusiva do pai que pretendia a aplicação do artigo 1.829, I CC no lugar do artigo 1.790 do CC, sob o argumento de que o regime jurídico não poderia ser mais favorável à união estável do que ao casamento, a referida ministra considerou que a melhor interpretação do artigo 1.829, I do CC seria no sentido de preservação da vontade manifestada quanto ao regime de bens, mantendo-a intacta assim na vida como na morte dos cônjuges, tanto para o casamento sob o regime da comunhão parcial quanto para a união estável. Por fim, os simpatizantes desse entendimento, corroborando com seu posicionamento acerca da inconstitucionalidade, arguem que o artigo 1.790 está inserido, dentro do Código Civil, fora do título II, que regulamenta a sucessão 1CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 374. 2Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Op. Cit., p. 541. 3STJ, 3º T., REsp nº 1.117.563, Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2009, DJ. 06.04.2010 72 72 legítima, mais sim dentro do título I, que regulamenta a sucessão geral, quando o correto serio o contrário. Esta nítido, portanto, mais uma vez, que o legislador colocou o companheiro em posição infimamente inferior à do cônjuge. Quanto ao artigo 1.845, também houve um cochilo legislativo, ao passo que este não atribuiu ao companheiro a qualidade de herdeiro necessário, distinguindo, mais uma vez, o companheiro do cônjuge e colocando-o (o companheiro) um uma posição hierarquicamente inferior à do cônjuge. 2.3.2.Solução sob a ótica do direito civil-constitucional De início, antes de externar o posicionamento acerca da constitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, necessário consignar nosso posicionamento no sentido da inexistência de hierarquia entre a união estável e o casamento. A Constituição Federal, embora tenha orientado o legislador infraconstitucional a facilitar a conversão da união estável em casamento, não pretendeu, com isso, colocar o casamento em posição hierarquicamente superior à união estável, mas sim facilitar a conversão, até mesmo para que os consortes possam escolher livremente pelos regimes de bens existentes, homenageando o princípio da liberdade de escolha dos regimes. Nesse sentido, consigna Luiz Paulo Vieira de Carvalho1: A união estável é relevante entidade familiar, substancialmente protegida e regulada pelo Estado, com direitos e deveres fundamentais, conferidos aos seus membros (igualmente dignos) e que devem ser substancialmente idênticos, insistimos, aos das pessoas casadas (arts. 1º, inciso III, e 5º, caput e seu inciso XXX, c/c 226, caput, e seu § 3º, 1ª parte, da CRFB). Acrescenta, na mesma linha de raciocínio, Ana Luiza Maia Nevares 2: (...) como é possível dizer que o casamento é entidade familiar superior se todos os organismos sociais que constituem a família têm a mesma função, qual seja, promover o desenvolvimento da personalidade de seus membros? Admitir a superioridade do casamento significa proteger mais, ou prioritariamente, algumas pessoas em detrimento de outras, simplesmente porque aquelas optaram por constituir uma família a partir da celebração do ato formal do matrimonio. 1 2 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 370. NEVARES, Ana Luiza. apud CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 200. 73 73 Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina Brochado Teixeira, ao comentarem o artigo 226 §3º da CF, a respeito da inexistência de hierarquia entre a união estável e o casamento, consignaram que1: Também restou previsto no §3º do art. 226 o dever do Estado de facilitar a conversão da união estável em casamento – literalidade utilizada por muitos para sustentar uma hierarquia entre as entidades familiares, com superioridade axiológica do casamento em relação à união estável. Esta argumentação não deve ser prevalecente, uma vez que a única diferença existente entre eles é a formalidade é a formalidade e a oficialidade do casamento, pois a base fática é a mesma, de modo a não se justifica que a união estável seja criminatória. Duas razões relativamente simples explicam a preocupação do constituinte: a primeira é a maior segurança que o casamento ainda traz, bastando uma certidão para comprovar-se a relação. A outra se refere no momento histórico em que foi promulgada a Constituição, momentos em que poucos eram os direitos reconhecidos às famílias não fundadas no casamento. Portanto, ao nosso ver, embora o casamento e a união estável não sejam instituições sociais idênticas, o conteúdo jurídico dos efeitos por elas emanados, sob a ótica civil-constitucional, são iguais, com base no Princípio da Igualdade. Nessa linha de raciocínio, não podemos nos posicionar de forma diferente senão pela inconstitucionalidade do artigo 1.790, incisos I, II e II do Código Civil, posto que este, fere de morte, princípios constitucionais que fundamento o regime de bens existentes no Código civil e o Direito Sucessório, a exemplo do Princípio da Igualdade. O artigo 1.790 do CC estabelece (i) no seu inciso I que, se concorrer com filhos comuns, o companheiro sobrevivente terá direito a uma quota igual a que por lei for atribuída a cada um deles; (ii) no seu inciso II que, se concorrer com descendentes apenas do autor da herança, o companheiro sobrevivente fara jus a metade do que couber a cada um daqueles; e no seu inciso III que, se concorrer com outros parentes suscetíveis, terá direito a 1/3 da herança. Por outro lado, o artigo 1.829, I do CC, conforme interpretação utilizada na sucessão do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens, já explicitada acima, concorrerá com os descendentes do cônjuge na sucessão dos bens comuns. Ou seja, receberá a sua meação e concorrerá com os descendentes na parcela da meação do de cujus. Portanto, o artigo 1.790, restringiu o direito do cônjuge concorrer, em igualdade de condição, aos filhos comuns, sendo certo que, no caso de haver filhos de “outro casamento”, o cônjuge não teria igualdade de condições com estes. 1 74 MORAES, Maria Celina Bodin; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Comentário ao artigo 226.apud Canotilho, J.J. Gomes; Mendes, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz (Coords.) Comentários à Constituição do Brasil. Op. Cit., p. 2119. 74 Ainda que haja divergência atual e calorosa sobre o tema, tanto no campo doutrinário quanto no jurisprudencial, entendemos, em razão da falha legislativa que resulta na afronta a Princípios constitucionais, pela inconstitucionalidade do artigo 1.790 e seus incisos. Desse modo, em casos concretos, devem ser aplicadas, analogicamente, as regras previstas no artigo 1.829 e seus incisos, com interpretação civil- constitucional demonstrada acima, de modo que o companheiro sempre concorrerá em igualdade de condições com os herdeiros do de cujus na sucessão dos bens comuns. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão proferido na oportunidade do julgamento do Recurso Especial n.º 1.117.563, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi1: Por tudo isso, a melhor interpretação é aquela que prima pela valorização da vontade das partes na escolha do regime de bens, mantendo-a intacta, assim na vida como na morte dos cônjuges. Desse modo, preserva-se o regime da comunhão parcial de bens, de acordo com o postulado da autodeterminação, ao contemplar o cônjuge sobrevivente com o direto à meação, além da concorrência hereditária sobre os bens comuns, haja ou não bens particulares, partilháveis, estes unicamente entre os descendentes. Quanto ao artigo 1.845, que não inclui o companheiro no rol dos herdeiros necessários, embora a discussão seja acirrada, entendemos, respeitando opinião contrária, que o legislador, mais uma vez, falhou ao se omitir. O fundamento de defesa é o de que ao não atribuir ao companheiro sobrevivente a condição de herdeiro necessário, companheiro este que constituiu família com o falecido, o acompanhando até a sua morte, poderá o mesmo ser totalmente excluído da sucessão, caso haja testamento que beneficia terceiros com todos os bens que compõem o monte hereditário, ficando o companheiro sobrevivente desamparado. Caso seja considerado o companheiro como herdeiro necessário, o que aqui defendemos, o testador somente poderá dispor de metade da herança, limitação está aplicada no caso de haver cônjuge supérstite. Ademais, conforme o acima exposto, “são equiparados os direitos sucessórios dos cônjuges e dos companheiros sobreviventes, inclusive quanto à ordem de vocação hereditária e à qualificação como herdeiro necessário.” 2 Nesse sentido, entendemos que a melhor interpretação do artigo em referência é a de que o herdeiro necessário é o sucessor obrigatório com direito a 1 2 STJ, 3º T., REsp nº 1.117.563, Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2009, DJ. 06.04.2010 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Op. Cit., p. 401. 75 75 uma quota parte da herança, sendo, portanto, o companheiro, herdeiro necessário, embora não conste no rol do artigo 1.845 do CC. CONCLUSÃO O direito sucessório, por ser um importante ramo do direito civil que regula a sucessão dos bens deixados pelo falecido, deve ter suas regras interpretados de acordo com o seu fundamento constitucional, que é a garantia da propriedade privada, prevista no artigo 5º, caput, XXII e XXIII1, de modo que os bens que um indivíduo possuiu em vida, não sejam transferidos ao Estado após a sua morte, mas sim aos provavelmente, seus herdeiros dividiram com ou parentes mais o falecido as próximos, expectativas pessoas e que, frustações experimentadas durante a vida e na construção do patrimônio. Com efeito, a sucessão legítima, que é a modalidade que mais importa para o presente estudo, como visto, é fundada na manifestação de vontade presumida, que, no caso de casamento ou união estável já não é tão presumida assim, pois, de acordo com nosso entendimento, ao optar por um regime de bens ou pela união estável, o falecido manifestou a sua vontade acerca da disposição de seus bens após a sua morte. Além dos princípios constitucionais como os da solidariedade, igualdade e dignidade da pessoa humana, tem forte impacto no momento da definição do regramento sucessório do cônjuge e do companheiro a manifestação de vontade do falecido externada por seus atos praticados em vida, tal como a escolha do regime de bens ou a opção por constituir família por meio da união estável. Os princípios, mormente os constitucionais, têm importantíssima função na aplicação da lei civil, ao passo que orientam o aplicador do direito na interpretação da norma infraconstitucional, evitando a ocorrência de transgressão de direitos 2. Com isso, foi possível abordar as problemáticas resultantes da aplicação da lei civil em relação à sucessão do cônjuge e do companheiro que, como visto, na maioria das vezes é omissa, cabendo ao aplicador do direito interpretar a norma e suprir a omissão legislativa. Foram propostas soluções aos diversos problemas surgidos em razão de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da sucessão do cônjuge casado sob “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...)” 2 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Op. Cit., p. 6. 1 76 76 o regime da separação total de bens e da comunhão parcial de bens, bem como do companheiro, sendo certo que em ambos os casos foram levados em consideração as ideias de cada regime de bens, e, principalmente, dos princípios constitucionais para a solução dos problemas. Na sucessão do cônjuge casado sob o regime da separação legal de bens, sendo adotado o entendimento de que essa imposição é inconstitucional, pois fere diversos princípios constitucionais como o da solidariedade, igualdade e dignidade da pessoa humana, entendeu-se que o cônjuge supérstite deve ter o direito a meação dos bens adquiridos durante a constância do casamento, levando em consideração, principalmente, o princípio da solidariedade familiar. Já com relação ao cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens, haverá a sua concorrência com os descendentes do falecido, mas somente nos bens adquiridos na constância do matrimônio, não possuindo o sobrevivente direito à meação e tampouco a sucessão dos bens adquiridos antes a celebração do casamento. Com relação ao cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens, chegou-se à conclusão de que o cônjuge, além da meação, que não constitui herança, concorre com os demais herdeiros do falecido na sucessão tão somente dos bens comuns, mas não a dos bens particulares. Isto porque, embora não se entenda mais que com a sucessão há a continuidade da personalidade do falecido, é certo que a sua expressa manifestação de vontade acerca da disposição patrimonial após a sua morte, feita na oportunidade da escolha do regime de bens, deve ser observada e respeitada. Ou seja, a manifestação de vontade de uma pessoa em vida, para o direito civilconstitucional, sem sombra de dúvida, ecoa após a sua morte, tendo extrema importância no momento da sucessão. Após, analisou-se a sucessão do companheiro, com a interpretação dos artigos 1.790 e 1.845 do Código Civil a luz de princípios e normas constitucionais, tendo sido concluído pela inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, posto que o legislador, indo na contramão dos preceitos constitucionais insculpidos no artigo 226, §3º da Constituição Federal, diferenciou os direitos sucessórios do cônjuge ao do companheiro. Embora o casamento e a união estável não sejam instituições sociais idênticas, o conteúdo jurídico dos efeitos por elas emanados, sob a ótica civilconstitucional, são iguais, com base no Princípio da Igualdade. Com efeito, o artigo 1.790 do CC restringiu o direito de o cônjuge concorrer, em igualdade de condições, com os filhos comuns, sendo certo que, segundo o referido artigo, no caso de haver filhos de “outro casamento”, o cônjuge 77 77 não teria igualdade de condições com estes; regramento este diferente do atribuído à sucessão do cônjuge, como visto no presente estudo. Desse modo, em casos concretos, deve ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC e aplicadas, analogicamente, as regras previstas no artigo 1.829 e seus incisos, com atenção à interpretação civilconstitucional já demonstrada, de modo que o companheiro sempre concorrerá em igualdade de condições com os herdeiros do de cujus na sucessão dos bens comuns. Nesse sentido, entende-se que a melhor interpretação do artigo em referência é a de que o herdeiro necessário é o sucessor obrigatório com direito a uma quota parte da herança, sendo, portanto, o companheiro herdeiro necessário, embora não conste no rol do artigo 1.845 do CC. 78 78 REFERÊNCIAS BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2002. BARGANHOLO, Beatriz Helena. Casamento civil: Regime de bens e seus reflexos patrimoniais e sucessórios, Revista CEJ n. 34, Brasília, p. 27/34, 2006. BODIN DE MORAES, Maria Celina; TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena (Coord.). Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. V. IV, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2014. CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coords.) Comentários à Constituição do Brasil. São Pulo: Saraiva/Almedina, 2013. CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Atlas, São Paulo, 2014. DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões, 3ª Ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2014 _________. Manual de direito das famílias, 9ª Ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2014 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito de Família, Vol. 5, 29ª Ed., Rio de Janeiro, SARAIVA, 2014. _________. Manual do Direito Civil, São Paulo, Ed. Saraiva, 2013. DINIZ, Maria Helena. (Coord.) Sucessão do cônjuge, do companheiro e outras histórias. São Paulo: Saraiva. 2014. LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do direito civil. Brasília: Revista de Informação Legislativa - Secretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, v. 36. MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2013. MARTINS-COSTA, Judith; REALE, Miguel. Parecer. Em: http://www.escoladaajuris.org.br/doctos/sucessoes/JUDITH%20M%20COSTA%20P arecer%20Suc%20Sep%20TOTAL%20de%20bens.pdf. Acesso em 27.07.2014. MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da solidariedade. Disponível em: <http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf > Acesso em 30.11.2013. NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito de Família, Vol. 5, Rio de Janeiro, Forense, 2010. _________. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões, Vol. 6, Rio de Janeiro, Forense, 2010. NEVARES, Ana Luíza. A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro na legalidade constitucional. Rio de janeiro, Ed. Renovar, 2009. _________. A função promocional do testamento, Rio de Janeiro, Ed. Renovar. 79 79 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. VI, 21ª Ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2014. _________. Instituições de Direito Civil, Vol. V, 22ª Ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2014. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Colaboradores Ana Carolina Brochado Teixeira; et.al. Código Civil e legislação correlata da família. Porto Alegre: Síntese, 2003 PERLINGIERI. Introdução ao direito civil constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco, 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002 _________. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. REALE, Miguel. Cônjuges e companheiros, em www.miguelreale.com.br/artigos/conjcomp.htm, 2004. SANTOS, Luiz Felipe Brasil. A sucessão dos companheiros no novo Código Civil. Em http://www.ibdfam.com.br/inf_historico.asp?CodTema=59&Tipo=1 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de (orgs.) et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. TEPEDINO, Gustavo. Controvérsias sobre a tutela sucessória do cônjuge e do companheiro. Em: http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/viewFile/2279/pdf, acesso em 25.09.2014. TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. Em http://www.tepedino.adv.br/wp/wpcontent/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf. Acesso em 05.08.2014. WELTER, Belmiro Pedro; MADALENO, Rolf. Direitos Fundamentais do Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - Direito das Sucessões, Vol. VII, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2010. _________. Direito Civil - Direito de Família, Vol. VI, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2010. 80 80 Doutrina Cláusulas Contratuais Limitativas e Excludentes do Dever de Indenizar Ivana Harter Albuquerque 1 RESUMO: Trata-se de estudo a respeito das cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar, mecanismos que visam à restrição ou subtração da obrigação de reparar oriunda do inadimplemento contratual ou da violação de um dever legal. O aludido escopo perseguido pelas cláusulas de não-indenizar se realiza por meio da fixação antecipada da sistemática aplicável à definição de eventual montante indenizatório, razão pelo qual logram assegurar aos contratantes a redução dos riscos do negócio. É neste sentido que as cláusulas em exame se situam no contexto do necessário equilíbrio entre a busca pela reparação integral da vítima e a viabilização da atividade econômica, desestimulada pela sobrecarga das indenizações. Isto porque, de um lado, promovem a limitação ou exclusão do dever de reparar que seria suportado pelo devedor e, de outro, contemplam o credor com instrumentos de compensação pela anuência à convenção, tais como, a redução do preço do bem adquirido ou do serviço prestado, a concessão de condições de pagamento mais flexíveis, dentre outros. As cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar revelam-se, portanto, como instrumentos utilizados pelos contratantes com vistas a quantificar os riscos financeiros do negócio, o que lhes possibilita uma maior segurança negocial e jurídica. Em suma, a obrigação de indenizar torna-se elemento previsível o que, em última análise, viabiliza a atividade produtiva, fomentando a economia. No ordenamento jurídico brasileiro as cláusulas de não-indenizar não encontram regulamentação expressa e sistemática, tendo o instituto merecido tratamento legislativo esparso em normas pontuais que regulam campos específicos. Assim é que visando fundamentar a admissibilidade das convenções acessórias em tela, doutrina majoritária, elenca o princípio da autonomia da vontade e a liberdade de contratar como pilares a sustentar a validade das cláusulas limitativas e excludentes. Nada obstante a carência na regulamentação das convenções em tela se impõe, ainda, como pressupostos à sua admissibilidade, a observância das condições de validade para os negócios jurídicos em geral, já que destes constituem espécies, bem como das vedações expressas e requisitos específicos que lhe são aplicáveis. ABSTRACT : This a study about excluding and limiting contractual clauses of the duty to indemnify, mechanisms that placed in a context of the necessary balance between the search for the full compensation to the victim and the economic activity viability, discouraged by the overload of reparations, restrict or subtract the obligation to repair originated from the breach of the contract or from the breach of a legal duty. the conventions of hold-harmless clauses operate by prior fixation of the applicable systematic upon the definition of the indemnity amount or even upon the absence of compensation, which enables contractors the previous knowledge about the risks and charges inherent to the business transacted. therefore, they 1 Terceiro colocado no Concurso de Monografias "Aloysio Maria Teixeira" na categoria advogado 81 81 reveal themselves as instruments used by the contractors in order to quantify the financial risks of the business, which allow them a larger legal and business safety. in short, the obligation to repair becomes a predicable element which, ultimately, enables the productive activity, stimulating the economy. Inside the brazilian law system, the non-indemnification clauses do not have specific and systematic regulation, and because of that, this institute has been given sparse legislative treatment, within rules that concern specific fields of law. aiming to support the admissibility of the accessory conventions in point, majority doctrine lists the principle of the autonomy of the will and the freedom to contract as the excluding and limiting contractual clauses supporting pillars. But only as long as the validity of assumptions are attended to the legal businesses in general, since the first is one of the species of the last, as well as observed the expressed seals and specific applicable requirements. SUMÁRIO: Introdução I.AS CONVENÇÕES DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR E SUAS FUNÇÕES1.1 O Débito e a Responsabilidade 1.1.1. A Inexecução como Pressuposto da Responsabilidade Contratual 1.2.As Cláusulas Contratuais Limitativas ou Excludentes do Dever de Indenizar 1.2.1.A Natureza Acessória das Cláusulas de Não-Indenizar 1.2.2. A Exclusão da Responsabilidade. Problemas com a Terminologia II. MODALIDADES DAS CLÁUSULAS DE NÃOINDENIZAR 2.1. Limitação do Montante Indenizatório 2.2. Exclusão do Dever de Indenizar a Determinados Tipos de Danos 2.3. Limitação dos Fundamentos do Dever de INDENIZAR 2.3.1. Cláusulas sobre Atos de Terceiros 2.4. Equiparação a Hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior 2.5. Cláusulas sobre Atos ou Abstenções do Credor 2.6. Limitação da Garantia Patrimonial. III. REQUISITOS DE VALIDADE DAS CONVENÇÕES DE LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR3.1. A Ordem Pública 3.2. O Equilíbrio Econômico do Contrato 3.3. Obrigações Essenciais do Contrato 3.4. O Dolo e a Culpa Grave. Conclusão. Referências 82 82 INTRODUÇÃO No contexto de uma sociedade eminentemente industrializada, o dano, antes acontecimento anormal e extraordinário, passa a integrar o curso natural das atividades humanas, tornando-se acontecimento habitual e inevitável. A existência do perigo, portanto, convola-se em elemento constante e cotidiano. Ademais, o desenvolvimento tecnológico e a consequente especialização da produção resultam na impossibilidade de identificação dos responsáveis por tais eventos danosos, reservando, estes últimos, ao anonimato1. Com efeito, o esquema de responsabilidade civil baseado na noção de que apenas seriam ressarcíveis os danos provenientes de um comportamento culposo e voluntário tornou-se insuficiente. Isto porque diante da fragmentação da produção e potencialização dos riscos com conseqüente incremento dos acidentes, a reparação das vítimas não poderia ficar adstrita a identificação do autor do dano e a prova da conduta culposa. Em última análise, tal exigência constituiria verdadeira prova impossível a desamparar a vítima do injusto. Diante destas e de outras implicações sociais, econômicas e culturais constata-se uma verdadeira renovação dos paradigmas que norteiam o ordenamento jurídico. Neste diapasão, cabe breve contextualização do panorama em que se insere a aludida renovação. Assim é que da indiferença presente no Estado Liberal onde a Constituição era carta política dirigida tão só ao legislador e o Código Civil, ao revés, se afirmava como a própria constituição da sociedade, traduzindo a ordem jurídica fundamental refletida na doutrina do laissez-faire, laissez-passer, passa-se ao intervencionismo estatal cujo objetivo maior é propor uma releitura da 1 A esse respeito, leciona Maria Celina Bodin de Moraes: “Há um paradoxo que insere o conceito de risco no centro do funcionamento da sociedade industrializada. O acidente, como emerge da sociedade industrial, tem características que impedem de interpretá-lo nos significados anteriores de acaso ou previdência. O conceito obedece a um tipo de objetividade específica e decorre do curso natural das atividades coletivas, e não de acontecimentos excepcionais ou extraordinários. O evento danoso deixa, pois, de ser considerado uma fatalidade e passa a ser tido como um fenômeno “normal”, estatisticamente calculável.”(BODIN DE MORAES, Maria Celina. “ Risco, Solidariedade e Responsabilidade Objetiva”. In: Revista dos Tribunais, vol. 854, São Paulo: Revista dos Tribunais, dez. 2006, p. 17). No mesmo sentido, Georges Ripert conclui que: “quanto mais às forças de que o homem dispõe são multiplicadas por meio de mecanismos complicados suscetíveis de agir à distância, quanto mais os homens vivem amontoados e próximos dessas máquinas perigosas, mais difícil se torna descobrir a verdadeira causa do acidente e estabelecer a existência da falta que o teria causado. Na expressão de Josserand, o acidente torna-se anônimo. A prova, aliás, só pode ser feita perante o juiz; torna-se necessário, pois, intentar uma ação de êxito sempre problemático (RIPERT, Georges. O Regime Democrático e o Direito Civil Moderno. São Paulo: Editora Saraiva (trad. J. Cortezão), 1937, p. 331 apud TEPEDINO, Gustavo. A Evolução da Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro e suas Controvérsias na Atividade Estatal. In:Temas de Direito Civil, Tomo I, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 183). 83 83 autonomia da vontade de modo a compatibilizá-la com a igualdade material e os valores sociais. Enfim, a conclusão que se impunha preconizava pela insuficiência das concepções do individualismo jurídico para regular os problemas sociais. Nesta esteira de acontecimentos, presencia-se a gradativa perda de centralidade dos códigos em função do surgimento de microssistemas 1, o que se convencionou chamar de movimento de descodificação. Este processo destinou o papel de reunificação do sistema à Constituição de 1988 cujo conteúdo axiológico se lança com força normativa por todo o ordenamento jurídico. Diante do papel de destaque assumido pela Constituição, da escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República (artigo 1º. III da CF/1988), da crescente consciência social em relação aos direitos fundamentais e do reconhecimento do caráter normativo do princípio da solidariedade social, clara se fez a opção do constituinte pela primazia dos interesses existenciais em detrimento dos interesses patrimoniais. Desta feita, os institutos do direito contemporâneo, especialmente do direito civil, antes guiados por uma lógica liberalista, ficam condicionados a uma releitura à luz dos valores constitucionalmente tutelados. Por conseqüência, mitigase a dicotomia público/privado, inexistindo ilhas inóspitas à Constituição. À luz desta sistemática e da nova realidade industrial da sociedade, operase igualmente uma mudança de foco na responsabilidade civil, deslocando o relevo originalmente atribuído ao agente que cometeu o ilícito para a figura da vítima 2. O objetivo primordial desta nova doutrina é atribuir ampla proteção à vítima, de modo a fazê-la retornar ao status quo anterior à produção do evento danoso. Em função desta concepção, parte-se, em primeiro momento, da elaboração de presunções justificativas da imputação para em etapa posterior admitir dispensas legais da conduta culposa em múltiplas situações específicas. Consagra-se um modelo dualista de responsabilidade onde, de um lado, centrada na noção de culpa, encontra-se a responsabilidade subjetiva e de outro com 1 2 84 fundamento na justiça distributiva, na solidariedade social e Cumpre asseverar que a expressão “microssistemas” não se presta a identificar um ordenamento jurídico com múltiplos sistemas uma vez que o sistema jurídico é uno. Ao revés, denota a presença de variadas legislações não codificadas que, como as demais estruturas jurídicas do ordenamento, devem ser interpretadas e aplicadas segundo a Constituição de 1988 incumbida do papel de unificar o sistema mediante a irradiação de suas normas. A expressão supra condiz, portanto, com a criação de leis esparsas que se prestam à regular determinado setor da vida privada com objetivo de garantir a necessária proteção de parcelas da sociedade. Neste sentido, têm-se os exemplos: Código do Consumidor (Lei n. 8.078/90), Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), Estatuto da Terra (Lei n.4.504/64), Estatuto do Idoso (Lei n 10.741/2003), entre outros. A esse respeito, confira: TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e Constituição: premissas para uma reforma legislativa. Disponível em: http://www.tepedino.adv.br/biblioteca (Último acesso em 27/11/2013). Afirmou Maria Celina Bodin de Moraes: “Ressarcíveis não são os danos causados, mas sim os danos sofridos, e o olhar do Direito volta-se totalmente para a proteção da vítima” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Deveres Parentais e Responsabilidade Civil. In: Revista Brasileira de Direito de Família, v. 31, 2005, pp. 39-66). 84 consequentemente na repartição dos custos das atividades econômicas, figura a responsabilidade objetiva que prescinde da culpa do lesante para configurar o dever de reparar. A inserção de um sistema objetivo de responsabilidade com a conseqüente criação de uma bipolaridade dos sistemas de imputação se concretizou de forma expressa no ordenamento jurídico. Isto porque, ao lado da cláusula geral de responsabilidade subjetiva prevista no artigo 186, o Código Civil de 2002 estabeleceu no parágrafo único do artigo 927, de forma inédita e pioneira 1, cláusula geral de responsabilidade objetiva. Em síntese, a culpa como critério de imputação deixou de ser o centro do sistema passando a responsabilidade civil a ter dúplice fundamento – a culpa e o risco. Presencia-se, então, verdadeira objetivação da responsabilidade que, com fulcro na teoria do risco, atribui o dever de reparar ao responsável pela exploração da atividade perigosa, independentemente de valorações pessoais de conduta. A previsão deste modelo bipartido com a correspondente extensão dos danos imputáveis resultou no alargamento do campo de aplicação da responsabilidade civil consagrando o princípio da reparação integral da vítima de larga defesa pela doutrina e jurisprudência. Neste diapasão, Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho assevera que “do ato ilícito passou-se ao dano injusto, do causador passou-se à vítima. Ou seja, diante do dano sofrido, a vítima fará jus à reparação integral, independentemente do juízo de reprovação da conduta”2. Contudo, a aludida busca pela reparação plena da vítima do dano como corolário da expansão da esfera de atuação da responsabilidade civil perquirida aos extremos conduz ao aniquilamento da iniciativa privada porquanto esta se vê inviabilizada em função da elevada carga indenizatória proveniente da atividade econômica, essencialmente produtora de riscos. Tensão de tal ordem contrapõe de um lado, a proteção da vítima e de outro a necessária conservação da atividade econômica que, em última análise, interessa e beneficia a própria comunidade exposta aos riscos daquela. Atento a tais implicações, o legislador, excepcionou o princípio da reparação integral da vítima por meio do disposto no parágrafo único do artigo 944 1 Segundo Maria Celina Bodin de Moraes: “Uma cláusula geral de responsabilidade objetiva era, de há muito, aventada pela doutrina germânica, liderando tendência, presente em alguns países desenvolvidos, de incrementar as hipóteses reguladas pela responsabilidade sem culpa como meio de oferecer melhor proteção e mais garantias aos direitos dos lesados. O Brasil parece ter sido o primeiro país a concretizar tal anseio.” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. “Risco, Solidariedade e Responsabilidade Objetiva”. In: Revista dos Tribunais, vol. 854, São Paulo: Revista dos Tribunais, dez. 2006, p.14). 2 FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. Artigo 944 do Código Civil: O problema da mitigação do princípio da reparação integral. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 63. Op.Cit. 85 85 do Código Civil1/2. É neste contexto que, buscando harmonizar a liberdade de contratar, ínsita a prática negocial, com as necessidades sociais de proteção do lesado, apresentam-se as cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar, a cláusula penal e o seguro de responsabilidade civil. Insta mencionar, que muito embora apresentem similitudes, as cláusulas de não-indenizar representam instrumentos autônomos. Importante ressaltar, como bem observa Fábio Henrique Peres 3, que diversamente do que ocorre com a cláusula penal e com o seguro de responsabilidade civil, as cláusulas de não-indenizar não possuem regulamentação expressa no ordenamento jurídico brasileiro. Ao revés, recebem tratamento legislativo esparso de acordo com o domínio disciplinado. Destarte, papel de destaque assume a doutrina e a jurisprudência na sistematização do tema. Exposto o panorama em que se inserem as cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar, o presente estudo será explorado no intuito de delimitar o campo de validade e o espaço de aplicação das mencionadas convenções. Sendo assim, o trabalho em tela será organizado em três seções. Em primeiro momento tratará da análise das principais características do instituto de modo a definir suas funções e finalidades. Em segundo momento tratará das possíveis estruturas adotadas pelas cláusulas de não-indenizar e das modalidades reconhecidas pela doutrina e jurisprudência. Concluindo, tratará do exame dos requisitos de validade das cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever 1 É controversa a questão acerca da aplicabilidade do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil a ambos os regimes de responsabilidade civil – objetiva e subjetiva - ou a apenas um destes. Argumenta a primeira corrente pela limitação ao regime subjetivo de responsabilização. Neste sentido: KFOURI NETO, Miguel. “Graus de culpa e redução equitativa da indenização”. In: Revista dos Tribunais, vol. 839, set. 2005, p. 49. Em sentido contrário defende-se a aplicação a ambos os sistemas de responsabilidade. Por todos: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. Artigo 944 do Código Civil: O problema da mitigação do princípio da reparação integral. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 63. Op.Cit. Ressalte-se, por fim, que o Enunciado 380 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal ao modificar a redação do Enunciado 46 que lhe é anterior, suprimindo a parte final deste, parece adotar o segundo entendimento referido. 2 Registre-se, contudo, que abalizada doutrina critica a vinculação utilizada pelo dispositivo entre o procedimento de liquidação de danos e o grau de culpa uma vez que a fixação da extensão da indenização (o quantum debeatur), como afirmam, dá-se pela análise do dano e do nexo causal, independentemente da culpa com que agiu o ofensor. Neste sentido, assinalou Gisela Sampaio da Cruz que a reparação não se vincula à culpa e sim ao prejuízo causado pelo agente, o que se deve aferir por meio da relação de causalidade. (CRUZ, Gisela Sampaio da.O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 325). Em acréscimo, Marcelo Junqueira Calixto critica o equívoco do legislador ao vincular a determinação do quantum debeatur ao grau de culpa do agente causador do dano argumentando que o ordenamento jurídico brasileiro não mais reconhece relevância jurídica à teoria dos graus de culpa por “entendê-la conexa ao caráter punitivo, e não meramente reparatório da responsabilidade civil”. Entretanto, propõe que a redução do valor da reparação devida à vítima se fará com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, igualmente aplicável em relação ao causador do dano, o que autorizaria excepcionalmente a diminuição do montante indenizatório com supedâneo em juízo de equidade e com fulcro no limite humanitário da reparação (CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na Responsabilidade Civil. Estrutura e Função. Rio de Janeiro. Renovar, 2008, pp. 364-365). 3 PERES, Fábio Henrique. Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 22. 86 86 de indenizar, analisando, à luz dos valores e princípios ínsitos ao sistema jurídico brasileiro, as vedações que lhe são inerentes bem como aquelas decorrentes de expressa previsão legal. I. AS CONVENÇÕES DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR E SUAS FUNÇÕES 1.1. O DÉBITO E A RESPONSABILIDADE O primeiro passo para buscar compreender a cláusula de não-indenizar é avaliar o dever ao qual se refere, ou seja, o objeto da limitação ou exclusão. Com efeito, costuma-se diferenciar os deveres jurídicos em originários e sucessivos. O dever jurídico originário refere-se ao conteúdo da obrigação, é a prestação propriamente dita. De outro lado, o dever jurídico sucessivo origina-se da violação do negócio jurídico, ou seja, se impõe em face do descumprimento de um vínculo jurídico preexistente, substituindo-o. Não é esta senão a distinção elaborada por Alois Brinz quando decompõe a relação obrigacional em débito (“schuld”) e responsabilidade (“haftung”)1. De fato, o débito corresponde ao mencionado dever jurídico originário enquanto a responsabilidade ao dever jurídico sucessivo. Traduzindo a prestação a ser espontaneamente cumprida, o débito representa o substrato jurídico da obrigação legalmente imposta – o dever geral de não prejudicar terceiros (neminem laedere), a exigência de respeito aos direitos da personalidade e à propriedade alheia – ou convencionalmente assumida em contratos ou declarações unilaterais de vontade. A responsabilidade, por sua vez, representa o vínculo nascido da violação de outro dever que lhe é anterior, ou seja, inaugura o momento patológico da relação. Este novo vínculo alberga em seu conteúdo a reparação decorrente daquela lesão precedente. E, neste conteúdo reparatório, ínsito à responsabilidade, reside a pretensão jurídica do lesado em requerer o cumprimento coercitivo da obrigação assente no débito. Daí impõe-se instrumentos como a execução específica, a exceção do contrato não-cumprido, a cláusula resolutiva, entre outros. É certo, porém, que a violação de um dever jurídico originário não encerra apenas o cumprimento coercitivo. Isto porque, o conteúdo reparatório do dever 1 A distinção entre débito e responsabilidade deve-se ao alemão Alois Brinz. O autor divide a obrigação em Schuld und Haftung. Decorre desta distinção a visão dualista do vínculo obrigacional, decomposto em dois elementos: o débito (Schuld) e a responsabilidade (Haftung). Neste sentido, confira: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. 2. 23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 15-28. 87 87 jurídico sucessivo é amplo, abrangendo, por isso, a totalidade dos prejuízos oriundos da sobredita violação. De outro lado, nem todo o dever originário será passível de cumprimento coercitivo – o que ocorre nas hipóteses de inadimplemento absoluto e naqueles onde não há, via de regra, propriamente uma prestação a ser adimplida como nos casos de responsabilidade aquiliana. Esta é a razão pelo qual se impõe, ao lado dos mecanismos acima dispostos, o pleito indenizatório. Perceba, então, que a obrigação sobre o qual as cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar se projetam é aquela nascida da violação de um débito preexistente. Em síntese, a convenção de não-indenizar é mecanismo do direito que se presta, ao lado dos instrumentos de cumprimento coercitivo da obrigação, a dar concretude à responsabilidade. Insta mencionar que face ao estágio atual de evolução da responsabilidade civil e à inserção de cláusula objetiva de imputação no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, o dever jurídico sucessivo e, por conseguinte a reparação devida pode, a par das hipóteses de produção de danos decorrentes de condutas negligentes, imprudentes ou imperitas, originar-se de situações em que independentemente da análise da culpa, há o exercício habitual de atividade perigosa causadora de risco. Neste contexto, configurado tão somente o risco não haverá obrigação de indenizar. Esta nascerá quando o exercício da atividade criadora deste risco causar dano a outrem. Em suma, o risco oriundo da atividade perigosa é potencial gerador da obrigação de indenizar que tão só irá se concretizar em face da constatação, segundo as regras do nexo de causalidade1, da ocorrência efetiva do evento danoso oriundo daquela atividade2. Em síntese, a responsabilidade, seja subjetiva ou objetiva, provém da violação de um dever jurídico originário consubstanciado em uma obrigação legal 1 Para uma ampla resenha acerca das regras e pressupostos do nexo de causalidade confira: CRUZ, Gisela Sampaio da.O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 2Neste ponto, cabe mencionar a existência de divergência doutrinária a respeito da licitude ou ilicitude do ato que enseja a responsabilidade objetiva. De um lado, há autores a sustentar a ilicitude do referido ato uma vez que apenas restaria dispensada a análise da culpa do agente. De outro, defendese que a imputação de responsabilidade objetiva independe, além da análise da culpa, da violação de qualquer dever jurídico pelo agente. E, ausente a violação, a obrigação de reparar decorreria de ato lícito. Defendendo a licitude do ato que enseja a responsabilidade objetiva, Carlos Roberto Gonçalves (Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 29) e Maria Celina Bodin de Moraes. Cumpre transcrever a passagem em que autora defende o citado entendimento: “(...) inteiras searas do direito de danos, antes vinculadas à culpa, hoje cumprem o objetivo constitucional de realização da solidariedade social, através da ampla proteção aos lesados, cujos danos sofridos, para sua reparação, independem completamente de negligência, imprudência, imperícia ou mesmo da violação de qualquer dever jurídico por parte do agente. São danos (injustos) causados por atos lícitos, mas que, segundo o legislador, devem ser indenizados.” (“Risco, Solidariedade e Responsabilidade Objetiva”. In: Revista dos Tribunais, vol. 854, São Paulo: Revista dos Tribunais, dez. 2006, p. 25) (grifou-se). Sustentamos a primeira corrente. Isto porque ocorrido o dano, há violação de um dever jurídico assente no ordenamento jurídico de não prejudicar terceiros. Desta violação, portanto, decorre o caráter ilícito do ato que ensejará o dever de reparar. 88 88 ou contratual preexistente. E, a depender do conteúdo da sobredita obrigação constituir-se-á a responsabilidade extracontratual, derivada da infração de um dever legal, ou a responsabilidade contratual, decorrente do inadimplemento de avença estipulada pelas partes. Note, ainda, que na modalidade contratual, há um vínculo jurídico específico e preexistente à ocorrência do dano entre os sujeitos da relação jurídica correspondente, o que resta ausente na sistemática da responsabilidade aquiliana. 1.1.1. A INEXECUÇÃO COMO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL No que respeita à responsabilidade civil contratual, a relação jurídica que dá azo à existência de uma obrigação, de um dever originário ou ainda de um débito, se materializa em um instrumento contratual. Deste resulta um poder jurídico especial imposto e reclamado reciprocamente de ambos os sujeitos da relação jurídica originada do contrato. É, portanto, através de um dever de colaboração mútua1 que se busca o adimplemento do negócio jurídico firmado, o que consiste no cumprimento normal da obrigação. De outro lado, a constatação da violação de obrigação pré-acordada em contrato, apta a configurar a responsabilidade contratual, dá-se pela análise do aspecto quantitativo em virtude do inadimplemento total ou parcial, do aspecto qualitativo em virtude do inadimplemento absoluto ou relativo e por fim, pela análise da violação positiva do contrato. Isto posto, variáveis serão as consequências aplicáveis à relação contratual a depender da modalidade de inadimplemento. Contudo, a par das medidas legais singularmente consideradas, advindo prejuízo decorrente do descumprimento do contrato, cabível a reparação, eis que da violação dos deveres, ditos originários resulta a responsabilidade e o consequente dever de indenizar. Estudados os pressupostos do dever de indenizar na seara contratual, cumpre proceder à análise das cláusulas restritivas da indenização neste mesmo âmbito. 1.2. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIMITATIVAS OU EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR 1 Neste sentido, a obrigação não é mais reconhecida como um vínculo estático, e sim dinâmico, onde as partes confundem-se no papel de credor e devedor, havendo obrigações e deveres mútuos. A doutrina da obrigação como um processo foi capitaneada por Clóvis do Couto e Silva. A esse respeito, veja-se: COUTO E SILVA, Clóvis do. A obrigação como Processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 89 89 A obrigação de indenizar resultado que é da violação de dever jurídico originário deve em razão do princípio da reparação integral da vítima corresponder ao montante integral do prejuízo causado pelo inadimplemento obrigacional. A reparação integral, contudo, poderá ser excepcionada em virtude de lei 1ou de convenção entre as partes. Assim, atendidos os requisitos de validade, faculta-se às partes a inserção em instrumento contratual de previsão no sentido de limitar ou mesmo excluir a obrigação pela reparação, por ventura devida em virtude do inadimplemento. Neste sentido, a limitação ou exclusão do dever de indenizar assegura aos contratantes a redução dos riscos do negócio através da ciência prévia das regras aplicáveis quando da eventual necessidade de definir o montante indenizatório devido em função do inadimplemento. É dizer, a cláusula de não indenizar opera seus efeitos no momento patológico da obrigação, alterando ou mesmo substituindo a solução legal prevista para as hipóteses de descumprimento contratual2. Com efeito, independentemente da modalidade de responsabilidade em questão, se contratual ou extracontratual, as convenções limitativas ou exoneratórias devem, por essencial, estar previstas em negócio jurídico celebrado pelas partes, consubstanciada em cláusula acessória ao contrato principal ou em ato separado. Em todos os casos, a estipulação da cláusula deve ser anterior ao inadimplemento. Do contrário, gozará de natureza diversa da cláusula de nãoindenizar, aproximando-se da renúncia ou da transação, conforme as particularidades do caso concreto. 1.2.1. A NATUREZA ACESSÓRIA DAS CLÁUSULAS DE NÃO-INDENIZAR 1 2 90 O princípio da reparação integral é legalmente excepcionado pelas excludentes de ilicitude previstas no artigo 188 do Código Civil uma vez que estas promovem o afastamento do dever de indenizar daquele que em determinadas condições especiais deu causa ao dano. São elas: legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular do direito. Contudo, cabe ressaltar que tais institutos jurídicos não terão, em todos os casos, o condão de excepcionar o dever de indenizar. É que, embora sejam lícitos, os atos praticados nessas circunstâncias, poderão gerar a obrigação de reparar nas hipóteses dispostas nos artigos 929 e 930 do Código Civil. Insta mencionar que as cláusulas contratuais limitativas ou excludentes do dever de indenizar embora associadas frequentemente à esfera contratual podem, igualmente, abranger a responsabilidade aquiliana. Nada impede que o afastamento ou a mitigação de eventual dever de indenizar de origem não contratual constitua objeto de um contrato próprio, celebrado justamente para este fim. Neste ponto, ensina Aguiar Dias (Cláusula de não-indenizar. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 245): “sem dúvida que não havendo contrato não pode haver cláusula que, por definição, é estipulação entre várias. Contudo, a irresponsabilidade pode ser objeto de convenção autônoma, destinada a afastar a responsabilidade extracontratual”. Assim, observados os requisitos de validade da cláusula de nãoindenizar na seara contratual, mormente o prévio acordo e aceitação expressa e, ainda, a verificação de uma compensação pela anuência à limitação ou exclusão de eventual indenização, perfaz-se a possibilidade de as partes, ao preverem a probabilidade da verificação de danos nas suas relações extracontratuais, ajustarem, em instrumento autônomo a convenção de não-indenizar. 90 A convenção limitativa e excludente do dever de indenizar funciona como mecanismo acessório, nunca como obrigação principal. Neste contexto, é sabido que os atos e negócios jurídicos são constituídos por elementos essenciais (essentialia negotti), elementos naturais (naturalia negotti) e elementos acidentais (accidentalia negotti). Quanto aos elementos acidentais é possível mencionar que são aqueles que podem figurar ou não no negócio jurídico vez que são desnecessários à formação deste. Assim, as partes, deles se utilizam para modificar a eficácia do ato ou negócio, adaptando-a a vontade negocial esposada. Os elementos acidentais são, portanto, estabelecidos em cláusulas acessórias que acrescem ao negócio celebrado não em virtude de exigência legal, mas sim em função do exercício da autonomia privada das partes. Assim, perfazem cláusulas ou estipulações estranhas ao tipo negocial adotado, mas que se legitimam pela intenção volitiva das partes. Dito isto, é de se notar que a cláusula de não-indenizar constitui elemento acidental, acessório. Isto porque não dispõe sobre o objeto principal do contrato, mas estabelece condições que se ligam ao cumprimento da obrigação principal naquele instrumento asseverada. Neste sentido as estipulações aventadas podem ser apostas em cláusula acessória às estipulações principais ou mesmo em documento apartado, desde que, em todos os casos, o ajuste preceda ao inadimplemento. Note-se do exposto que os elementos acidentais ou acessórios exploram efeitos dados ao negócio jurídico tão só em função da vontade das partes. Assim, a escolha pela inserção de elemento acidental cabe exclusivamente às partes, podendo estas se amparar em instrumentos típicos tais como a cláusula penal,no direito brasileiro, ou atípicos, pois que carentes de sistematização legislativa, tais como as cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar. Decorre também da natureza acessória da cláusula de não indenizar a necessária análise da validade e existência da obrigação principal como requisito de que dependerá a eficácia daquela. Assim é que em função do tradicional princípio da gravitação jurídica a invalidade ou inexistência da obrigação principal implica a desconstituição da obrigação acessória, o que se encontra disposto no artigo 184 do Código Civil. Conseqüência inevitável, portanto, é a extinção da cláusula de não indenizar face a invalidação da obrigação principal. Questiona-se, todavia, a solução a ser adotada quando da invalidade apenas da cláusula de não-indenizar. Neste contexto, deve-se aplicar a regra geral para tão só manter a obrigação principal despida da convenção acessória anulada? Ou, ao revés, poderá a cláusula contratual limitativa ou excludente do dever de reparar conduzir a nulidade da obrigação principal? 91 91 Em princípio, em face da redação do artigo 184 já mencionado as respostas conduziriam a manutenção do negócio jurídico principal. Isto porque a invalidade das obrigações acessórias não conduz necessariamente a da obrigação principal uma vez que aquelas podem ser destacadas desta em observância ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos manifestado no brocardo latino utile per unitile no vitiatur1. Cumpre, todavia analisar que embora as cláusulas acessórias constituam partes não integrantes do núcleo do negócio jurídico celebrado podem, por vezes, somar-se a este como um todo indivisível no que concerne ao interesse das partes. Explica-se: em que pese a não influência dos elementos acidentais na substância do ato, podem estes figurar de tal modo na relação jurídica a ponto de demonstrar que a sua ausência implicaria na perda do interesse negocial das partes no sentido da não assunção da obrigação principal isoladamente em relação àquela acessória ou na contratação em condições manifestamente diversas ou ainda na revisão judicial de seus termos ou condições2. Diante disso, entendemos que cabe afastar a presunção relativa que conduz a preservação do negócio jurídico quando da invalidade da cláusula acessória, notadamente da cláusula contratual ou exoneratória do dever de indenizar. Sendo assim, a questão da manutenção do pactuado quando da invalidade de cláusula acessória seria analisada sob o enfoque das especificidades da situação posta, podendo resultar na preservação da obrigação principal como também acarretar a invalidade desta. Esta análise se impõe especialmente no que respeita às cláusulas de não indenizar uma vez que as consequências da inserção destas convenções em dada relação jurídica aderem intensamente ao interesse negocial manifestado pelas partes quando do ajuste do objeto principal contratado. Veja-se. O devedor se vê previamente ciente do quantum devido a título reparatório e o credor goza da vantagem que lhe foi concedida em contrapartida a anuência à cláusula limitativa ou excludente. Em síntese, as cláusulas contratuais exoneratórias ou limitativas 1 2 92 Esta técnica de preservação do negócio jurídico denomina-se redução do negócio jurídico. Este é o entendimento que se pode extrair da redação do artigo 51, § 2º do Código de Defesa do Consumidor: “A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes”. Na linha do texto, Caio Mário da Silva Pereira defende a possibilidade da invalidação da obrigação principal em face da nulidade da cláusula de não indenizar a depender das circunstâncias negociais, o que se extrai da seguinte passagem: “(...) quando a cláusula adere por tal arte ao negócio que vem a formar com ele um todo incindível, admitindo a interpretação de que um não se realizaria sem a outra, a ineficácia daquela atinge a validade deste. Mas, ao revés, se a hermenêutica da vontade autoriza concluir que se justapõe ao negócio com caráter acessório e depois se invalida, cai sem deixar mossa na obrigação a que adere, pela aplicação da regra geral de que o perecimento do acessório deixa subsistir o principal, e o seu efeito não o contagia; vitiatur sed non vitiat. A recíproca também é a genérica: extingue-se como acessória, se a obrigação principal, por qualquer motivo, vem a invalidarse” (Instituições de direito civil, v.2. 23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 348). 92 convolam-se em mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico da relação o qual integram a título acessório. Isto posto, a manutenção da obrigação principal frente à invalidade da cláusula de não-indenizar, em todos os casos, representaria subversão da paridade contratual antes verificada, a uma face ao prejuízo do devedor, que se veria obrigado a manter a vantagem concedida ao credor sem que em contrapartida gozasse das regras de limitação ou exclusão da indenização e a duas pois ao credor aproveitaria benefício desproporcional uma vez que a par da garantia que lhe foi concedida pela a anuência à inserção da cláusula de não-indenizar, não se submeteria a restrição ou exclusão de eventual pleito indenizatório. Clara é, portanto, a relação de indivisibilidade das convenções limitativas ou excludentes do dever de indenizar para com o objeto principal contratado. 1.2.2. A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. PROBLEMAS COM A TERMINOLOGIA As cláusulas de não-indenizar são objeto de inúmeras designações. A adoção indiscriminada e por vezes despercebida de certas expressões acarreta prejuízo ao conteúdo conceitual das cláusulas acessórias em tela. Com efeito, as cláusulas contratuais limitativas ou excludentes do dever de indenizar são comumente confundidas com as cláusulas de exclusão da responsabilidade ou cláusulas de irresponsabilidade. Ocorre que as convenções de não indenizar se prestam tão somente a afastar a consequência normal do inadimplemento, qual seja – a reparação devida. Subsiste o dever de prestar ajustado originalmente no contrato, razão pelo qual, poderá o credor requerer a execução específica da obrigação, se possível, bem como valer-se de outros instrumentos que visam compelir o devedor a cumprir o ajuste, tais como o direito de retenção e a exceção do contrato não-cumprido. As cláusulas de irresponsabilidade, por sua vez, aplicam-se somente em decorrência de previsão legal. Visam à exclusão da ilicitude e, por conseguinte, da responsabilidade, como por exemplo, as hipóteses de caso fortuito e força maior, as situações de legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular do direito. De outro lado, as cláusulas limitativas e excludentes resultam da autonomia negocial das partes e incidem apenas sobre as consequências patrimoniais do inadimplemento obrigacional, subsistindo a responsabilidade inatingível por qualquer convenção que almeje a sua exclusão ou restrição. Disto, verifica-se que as cláusulas de irresponsabilidade constituem instituto autônomo em relação às convenções de não-indenizar. 93 93 Com efeito, no que concerne a limitação ou exclusão da indenização decorrente da inexecução de uma obrigação, descabida é a utilização de denominações tais como cláusulas de irresponsabilidade, cláusulas de exclusão da responsabilidade ou similares, já que, conforme demonstrado, tais convenções constituem instituto autônomo, a saber – trata-se de exceção legal a regra da responsabilidade em que, não obstante reste configurada a conduta e o dano, o agente não será responsabilizado. Note, portanto, que a questão ultrapassa os lindes meramente terminológicos. Assim, reconhecendo tratarem-se, as cláusulas de não indenizar e as cláusulas de irresponsabilidade, de fenômenos jurídicos autônomos impõem-se algumas considerações. Em primeiro lugar, verifica-se a intangibilidade da responsabilidade pela via da autonomia das partes vez que aquela representa emanação da ordem jurídica de sorte que apenas por lei poderá ser excepcionada. Disto, decorre a restrição do âmbito de atuação das cláusulas contratuais limitativas ou excludentes do dever de indenizar que se cingem ao dever de reparar e nada poderão fazer quando a configuração do ilícito de per se. Em segunda análise, afasta-se o entendimento que propugna que o ajuste de cláusula de não indenizar facultaria ao devedor a opção de não cumprir a avença, convolando o dever jurídico originário em verdadeira obrigação natural, destituída que é de exigibilidade. Com efeito, inarredável é a conclusão no sentido de que a convenção tratada não torna despido de obrigatoriedade o dever jurídico originário que, por sua vez, permanece ‘acompanhado’ da responsabilidade (haftung) e, portanto, das sanções que lhe são ínsitas.Subsistem os instrumentos coercitivos de adimplemento da obrigação, tais como as astreintes1. Neste particular, a cláusula acessória em questão apenas afetará a possibilidade de requerer perdas e danos em eventual ação judicial de reparação de forma que limitará ou excluirá tal pleito a depender do ajustado pelas partes. Da mesma forma, a previsão de cláusula de não indenizar mantém a possibilidade de aplicação da cláusula resolutiva seja de maneira tácita ou expressa2. Tampouco restará afastada pela limitação ou exclusão contratual do dever de reparar a possibilidade de incidência nos contratos bilaterais do instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil. Por As astreintes correspondem à multa cominatória aplicada pelo magistrado como modo de coerção indireta para a efetivação de obrigações de fazer e não fazer (art. 461 § 4º do CPC). Em síntese, constituem método persuasivo para o devedor adimplir a obrigação. 2 A esse respeito, o artigo 475 do Código Civil dispõe que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Ressalte-se que, conforme já dito, a convenção excludente ou limitativa derrogará apenas a parte final do dispositivo uma vez que prejudicará a possibilidade de requerer indenização por perdas e danos. 1 94 94 fim, é possível ao credor invocar eventual direito de retenção relacionado ao inadimplemento do devedor. Isto posto, preenchidos os requisitos de validade, as cláusulas de não indenizar, aplicar-se-ão à esfera patrimonial da avença, preservando-lhe a exigibilidade e os mecanismos relativos à tutela do cumprimento obrigacional, porém restringindo total ou parcialmente o pleito indenizatório. II. MODALIDADES DAS CLÁUSULAS DE NÃO-INDENIZAR Estudadas as funções e finalidades exercidas pelas cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar, cabe neste momento analisar-lhes a estrutura. Importa, neste ponto, observar que o estudo que ora se propõe não pretende ser exaustivo ou obedecer a rigorosos critérios de classificação. Isto porque a ausência de sistematização legislativa somada ao dinamismo da prática contratual implica, por diversas vezes, na utilização de modalidades de cláusulas de não-indenizar diversas das então enumeradas pela doutrina. Sendo assim, neste trabalho, são apresentadas algumas das principais manifestações das convenções em estudo. 2.1. Limitação do Montante Indenizatório A primeira modalidade de cláusula limitativa é aquela que estabelece um limite máximo fixo ou determinável para o valor da indenização que pode corresponder a uma quantia fixa ou determinável por meio de fórmulas estipuladas pelos contratantes; a um percentual sobre o valor total dos danos ou a um valor resultante da aplicação de outro critério válido aposto pelas partes. Assim, estipulado teto máximo de eventual indenização limita-se o dever de indenizar a este montante. Disto resulta grande proveito para as partes uma vez que o conhecimento prévio acerca do possível valor indenizatório lhes propicia mais segurança negocial face a concreta ciência dos riscos que permeiam a obrigação assumida. Apurados os danos efetivamente causados 1, a aplicação da modalidade da cláusula de não-indenizar que estipula um montante determinado ou determinável para o valor da indenização conduzirá a dois resultados possíveis. Caso o quantum 1 Perceba que a cláusula limitativa não dispensa a liquidação do dano. Situação diversa é a que se verifica na cláusula penal, onde a necessidade de apuração é afastada uma vez que esta representa montante invariável a ser pago pelo devedor em caso de inexecução da obrigação principal. 95 95 debeatur sobeje o valor estipulado como limite máximo à indenização, atendidos os requisitos de validade da convenção limitativa, ficará o credor destituído de reparação direta no que tange ao excedente. De outro lado, caso o valor apurado seja inferior à quantia fixa ou determinável estabelecida, o credor receberá a quantia exata a que correspondem os danos que suportou e, portanto, a indenização a ser paga será inferior ao limite pactuado. Note que, nesta segunda situação na qual o valor dos danos incorridos pelo devedor é inferior ao limite máximo estipulado pelas partes, a adoção da modalidade de cláusula restritiva da indenização que fixa limite máximo ao montante indenizatório não terá produzido efeitos práticos. Isto porque, distintamente do que ocorre na cláusula penal, não há prefixação ou liquidação prévia de danos. Perpassadas as questões relativas à modalidade de cláusula de nãoindenizar no qual se estipula contratualmente uma quantia fixa determinada ou determinável para indenização, cabe analisar a hipótese da limitação do dever de indenizar consubstanciada na estipulação de um percentual de danos indenizáveis. Fixa-se, assim, uma porcentagem de “reparabilidade do valor dos danos verificados”1. Representa, pois, variante da cláusula limitativa que fixa máximo indenizatório. Entretanto, em que pese a similitude apontada, importante distinção prática se impõe vez que a previsão de percentual a que se submeterá a obrigação de indenizar resultará em quantum indenizatório necessariamente inferior ao valor dos danos incorridos. A par deste caráter, cumpre ressaltar que a estipulação de quantia fixa ou determinável poderá, como dito, afastar a efetividade da restrição contratual da indenização precipuamente quando os danos efetivamente verificados forem inferiores ao valor indenizatório. Isto porque nesta hipótese a reparação devida restringir-se-á aos danos apurados. Disto, resulta que a incidência da cláusula de fixação de máximo indenizatório condiciona-se à verificação de prejuízos superiores ao limite máximo estipulado, operando apenas nesta eventual situação. Note-se, por fim, que a espécie de cláusula que fixa porcentagem de danos indenizáveis possui a desvantagem de não permitir aos contratantes o conhecimento prévio do valor máximo de eventual indenização, porquanto a fixação deste dependerá sempre da extensão dos danos aferidos no caso concreto. 2.2. Exclusão do Dever de Indenizar a Determinados Tipos de Danos 1 96 PRATA, Ana. Cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade contratual. Coimbra: Almedina, 1985, p. 86. 96 Outra espécie de cláusula limitativa é a que restringe o dever de indenizar face a consideração de que algumas espécies de danos não são ressarcíveis. É dizer, estipula-se a exclusão de determinadas espécies de danos da esfera indenizatória, como por exemplo, os lucros cessantes, ou delimita-se o dever de reparar a determinados danos1/2. É sabido que, na composição do dano, o ordenamento jurídico brasileiro considera que o patrimônio do ofendido pode ser atingido de modo positivo (danos emergentes) ou de modo negativo (lucros cessantes)3. É o que explica o artigo 402 do Código Civil. Nada obstante, é facultado às partes afastar contratualmente a reparação quanto a elemento que muito embora componha o dano efetivamente produzido, o que, a princípio, conduz à obrigatoriedade do ressarcimento, não pretendam incluir nas respectivas esferas do montante indenizatório. É neste sentido que se afasta o preceito legal consubstanciado no artigo 402 do Código Civil, supramencionado. Insta mencionar que em que pese a natureza limitativa, tal espécie de convenção poderá, por via oblíqua, representar a exclusão contratual do dever de indenizar, na hipótese em que apenas o dano cuja reparação foi excluída ocorrer. Veja-se, se a partes acordarem que somente serão indenizados os danos emergentes, nenhuma indenização será devida, se, na situação concreta, apenas os lucros cessantes se verificarem. De outro lado, a cláusula de limitação da reparação Importa assinalar a existência de controvérsia a respeito da possibilidade de exclusão do dano moral da esfera de composição do montante da indenização. Com efeito, a indenização por danos morais é corolário da tutela da dignidade da pessoa humana, princípio constitucionalmente previsto, razão pelo qual, não seria lícito às partes excluir a reparação devida em face de lesão a atributo da personalidade humana. Contra a validade de cláusulas nestes moldes, José de Aguiar Dias (“Cláusula de nãoindenizar”. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p 216) e Nilson Lautenschleger Jr. (“Limitação de responsabilidade na prática contratual brasileira: permite-se no Brasil a racionalização dos riscos do negócio empresarial?”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 125.São Paulo: Malheiros, jan/mar. 2002, p. 14). 2 Há controvérsia na doutrina a respeito da possibilidade de excluir a indenização relativa aos danos indiretos. Todavia, cabe defender a impossibilidade desta exclusão não com base nos requisitos de validade da cláusula contratual limitativa e excludente do dever de indenizar e sim com respaldo na própria natureza dos referidos danos. Com efeito, o artigo 403 do Código Civil, prevê que: “[a]inda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. Disto resulta que no direito brasileiro para que determinado dano seja ressarcido deverá ser consequência necessária do inadimplemento ou da violação de disposição legal, ou seja, o dano indenizável é aquele que se liga a determinada conduta por uma relação de necessariedade, aferível por meio das regras do nexo causal. Do exposto, o dano indireto não é ressarcível à luz do direito brasileiro, razão pelo qual é inócua a utilização de cláusula de não-indenizar com intuito de limitar ou excluir o dever de reparar relativo a estes tipos de danos. A respeito das controvérsias em torno dos danos indiretos, confira a obra de Gisela Sampaio da Cruz: O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 3 A respeito dos conceitos abordados, esclarece Gisela Sampaio da Cruz que os danos emergentes compreendem a “efetiva diminuição que o patrimônio da vítima sofre em razão do dano injusto” e os lucros cessantes, a seu turno, condizem com o “lucro que o lesado esperava obter, mas não chegou a auferir por conta do evento danoso”. (O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Op. Cit., p. 315). 1 97 97 a determinados tipos de danos não produzirá efeito algum na hipótese em que os danos cujo ressarcimento a convenção exclui não ocorrem. 2.3. Limitação dos Fundamentos do Dever de Indenizar É igualmente possível conceber a limitação do dever de indenizarem razão da restrição dos fundamentos da responsabilidade. Esta modalidade consubstanciase no afastamento da reparação pelo devedor no caso de mora, de inadimplemento decorrente de culpa leve ou quando o dano resultar de atos de prepostos, auxiliares ou terceiros em geral que, por iniciativa do devedor, interfiram no cumprimento da obrigação. A convenção em análise, assim como a modalidade de cláusula que limita o dever de indenizar a determinados tipos de danos, não opera necessariamente. Isto porque a eficácia da restrição dependerá do fundamento legal da responsabilidade em que se apoiará a obrigação de indenizar no caso concreto. Explica-se: estipulado o afastamento convencional do dever de indenizar fundamentado na mora do devedor, permanecerá, este, obrigado face ao inadimplemento culposo. Todavia, em razão de tal constatação ser variável e posterior à produção dos danos, defende-se a natureza jurídica de cláusula contratual limitativa do dever de indenizar da convenção ora aventada. 2.3.1. Cláusulas sobre Atos de Terceiros Na vida moderna, negócios jurídicos em geral firmam-se a todo o tempo. Ocorre que as partes interessadas na celebração destas avenças nem sempre poderão contratar ou mesmo executar o acordado diretamente. Desta realidade, surge o emprego de terceiros para auxiliar ou substituir o devedor na execução de suas obrigações. Atento a esta especificidade da civilização atual e visando a proteção daqueles que se viam compelidos a suportar os danos causados por terceiro que agia em benefício do sujeito de direito, real parte da relação jurídica, o legislador delineou os contornos do regime da responsabilidade indireta ou por fato de outrem. Destarte, nos termos do artigo 932, inciso III do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. Em complemento, o artigo 933 do mesmo diploma 98 98 declara que, dentre as demais pessoas indicadas, o empregador ou comitente respondem, independentemente de culpa, pelos atos de terceiros auxiliares. Entende-se, contudo, ser possível excepcionar os dispositivos citados, mediante o afastamento do dever de indenizar por atos de empregados, serviçais ou prepostos através do ajuste de convenção contratual limitativa e excludente do dever de indenizar, no âmbito das relações paritárias e observados os requisitos de validade1. Note que a referida estipulação contratual representa espécie de cláusula de limitação dos fundamentos da responsabilidade uma vez que se afasta a reparação em hipótese que, pelo regime legal, aquela seria devida como consequência da responsabilidade civil indireta. No direito português, o artigo 800, n.2 do Código Civil 2, é o dispositivo que cuida da exclusão e limitação convencional do dever de indenizar por atos de terceiros representantes legais ou auxiliares. Em que pese a omissão do legislador brasileiro, oportuna é a interpretação de António Pinto Monteiro 3, acolhida pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal 4, acerca do dispositivo mencionado. O autor citado propôs que a análise da validade das cláusulas de nãoindenizar por atos de terceiros não deva ser feita uniformemente uma vez que seria necessário empregar diferentes abordagens conforme o terceiro envolvido, se auxiliar dependente do devedor ou autônomo em relação a este. No entendimento do jurista, em se tratando de terceiro dependente, o devedor será responsável por todos os seus atos e eventual convenção limitativa ou excludente apenas operará afastando a indenização nos casos de culpa leve. Neste contexto, torna-se relevante identificar a relação contratual objeto de convenção de limitação ou exclusão do dever de indenizar como sendo de subordinação ou dependência. Atento a tal consideração, o autor português propõe critérios para tanto. O primeiro encerra análise econômica vez que determina a identificação da relação de subordinação nas hipóteses em que o terceiro auxilia o devedor na sua atividade econômica organizada ou não, com intenção de permanecer. O segundo critério sugere que o vínculo de subordinação restaria 1 2 3 4 Admitindo a mesma possibilidade: PERES, Fábio Henrique. Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 106-118. “ARTIGO 800º (Actos dos representantes legais ou auxiliares). 1. O devedor é responsável perante o credor pelos actos dos seus representantes legais ou das pessoas que utilize para o cumprimento da obrigação, como se tais actos fossem praticados pelo próprio devedor. 2. A responsabilidade pode ser convencionalmente excluída ou limitada, mediante acordo prévio dos interessados, desde que a exclusão ou limitação não compreenda actos que representem a violação de deveres impostos por normas de ordem pública” Disponível em http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf (Último acesso em 13/10/2014). PINTO MONTEIRO, António. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 287 e seguintes. Na esteira do afirmado por Nuno Manuel Pinto Oliveira, Cláusulas acessórias ao contrato: cláusulas de exclusão e limitação do dever de indemnizar e cláusulas penais. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 46 apud PERES, Fábio Henrique. Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 110. 99 99 presente quando ao devedor for possível exigir condutas e dar ordens ao terceiro auxiliar ou representante. Assim, na hipótese da exclusão ou limitação da indenização por atos de terceiros subordinados ao devedor, Pinto Monteiro1 entende que se aplicam os mesmos requisitos de validade das cláusulas de não-indenizar por atos do próprio devedor. Com efeito, havendo a sujeição dos terceiros a um vínculo de subordinação com o devedor, o que importa no cumprimento de ordens e na modulação da conduta conforme as instruções deste, representaria tamanha contradição o estabelecimento de requisitos diversos para a validade das cláusulas de nãoindenizar relativa aos atos de terceiros subordinados e para aquelas relativas aos atos do próprio devedor. Ademais, admitindo a fixação de requisitos diversos a incidir sobre terceiros dependentes de um lado e sobre o próprio devedor “mandante” de outro, seria possível estabelecer critérios ora mais flexíveis ora mais rígidos para que um ou outro dos sujeitos mencionados lograsse a inserção válida de convenção de nãoindenizar na relação contratual sobre o qual atuam. Note a incongruência decorrente desta situação: Havendo a admissão de requisitos de validade mais flexíveis no tocante a cláusula limitativa ou excludente por atos de terceiros dependentes, o devedor utilizando-se de terceiros subordinados e, portanto, sujeitos às suas determinações, ao ajustar a limitação ou exclusão do dever de indenizar por atos de tais terceiros, restaria em situação mais favorável do que se cumprindo diretamente a obrigação estipulasse igualmente a cláusula de nãoindenizar incidente, ao revés, sobre os seus próprios atos. Esta incongruência se reforça pela análise das características atuais da vida moderna. Com efeito, Fábio Henrique Peres assevera que hodiernamente “a imensa maioria das obrigações assumidas pelo devedor – seja em relações paritárias ou nas marcadas pela vulnerabilidade econômica de um dos pólos contratantes – não é, na prática, diretamente cumprida por este, mas sim efetivamente executada por terceiros a ele subordinados – a qualquer título, sejam empregados ou não. Assim, admitir regras próprias para a validade das cláusulas contratuais de limitação ou exclusão de dever de indenizar por atos de tais terceiros dependentes, além de conduzir a uma manifesta contradição no sistema jurídico, permitiria a criação de um mecanismo legal apto a ensejar o contorno a normas imperativas” 2 (grifou-se). PINTO MONTEIRO, António. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, p. 274. Importa mencionar que José de Aguiar Dias compartilha do mesmo entendimento supra (DIAS, José de Aguiar. Cláusula de não-indenizar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 140). 2 Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. Op. Cit., p. 114. 1 100 100 Igual solução, qual seja, aplicação dos mesmos requisitos de validade para a cláusula de não-indenizar por atos de terceiros dependentes e por atos do próprio devedor, se impõe para o tratamento a ser dado às condições de validade das convenções de limitação ou exclusão do dever de indenizar empregadas para restringir ou subtrair a reparação por danos produzidos por atos de representantes de devedor pessoa jurídica. Explica-se: a pessoa jurídica, como sujeito de direito, é dotada de personalidade jurídica, o que significa que possui aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Todavia, esta capacidade é revelada na prática negocial através de seus órgãos sociais que manifestam a vontade da pessoa jurídica, evidenciando o que se convencionou chamar de presentação. Do exposto, entende-se que os atos daqueles órgãos ou pessoas que agem em nome e por conta da pessoa jurídica não podem ser juridicamente qualificados como atos de terceiros em relação a tal sujeito de direito, já que, conforme explicitado, não há duplicidade de vontades nesta relação e sim apenas uma manifestação volitiva única da pessoa jurídica por meio de seus órgãos ou presentantes em geral. Destarte, impõe-se que os atos destes últimos sejam considerados como atos da própria pessoa jurídica beneficiada por sua atuação1. Disto resulta que eventual cláusula de não-indenizar inserta em determinado negócio jurídico operará segundo a dinâmica da restrição do dever de reparar por atos próprios, não se inserindo na sistemática da responsabilidade indireta ou por fato de terceiro. Sendo assim, os requisitos de admissibilidade das cláusulas relacionadas aos atos dos presentantes legais ou convencionais do devedor pessoa jurídica deverão, como dito, seguir os parâmetros gerais de validade destas convenções. Situação diversa, também abordada pelo doutrinador português, condiz com a exclusão ou limitação convencionais do dever de indenizar por atos de terceiros auxiliares com autonomia perante o devedor. Nesta hipótese, o autor defende que em relação a terceiros independentes é facultado, ao devedor, afastar o dever de indenizar que lhe caberia mesmo em caso de dolo ou culpa grave daquele terceiro. Em outras palavras, para António Pinto Monteiro, o devedor poderá limitar ou excluir o seu dever ressarcitório pelos atos de terceiros independentes em termos mais amplos do que se fosse ele próprio ou um auxiliar sem autonomia a cumprir a obrigação pactuada, uma vez que, como dito, poderá se utilizar, neste 1 É certo, porém, que eventuais excessos empregados por aqueles que presentam a pessoa jurídica, no exercício de suas atribuições, recebem tratamento da legislação pertinente. É o que explica, por exemplo, o artigo 1.016 do Código Civil, a saber: “Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. 101 101 caso, de cláusula de não-indenizar para excluir ou limitar a reparação inclusive em caso de dolo ou culpa grave do terceiro independente, desde que haja acordo prévio do credor neste sentido1. Em que pese a controvérsia acerca da possibilidade de exclusão da responsabilidade indireta inclusive a título de dolo ou culpa grave do terceiro, parece não haver incongruência na sua admissão. Isto porque, a hipótese respeita ao terceiro autônomo e independente que age, portanto, com liberdade moral e intelectual em relação ao devedor, o que se opõe diametralmente à situação em que o terceiro atua com subordinação. Por conclusão lógica, a cláusula de nãoindenizar não teria sua validade prejudicada, desde que atendidos os seus requisitos e aposta em relação paritária, quando visasse a afastar, total ou parcialmente, o dever de indenizar do devedor originário em virtude de dolo ou culpa grave do terceiro independente. Nesta situação, segundo defende Fábio Henrique Peres, “as partes contratantes estipulariam apenas que ocasional atitude dolosa dos terceiros independentes dirigida no sentido de não cumprir a obrigação contratualmente assumida pelo devedor não ensejaria o dever de este reparar os danos daí causados ao outro contratante. Em outras palavras, ocorreria mera transferência dos riscos dos eventuais ônus financeiros decorrentes de tal fato da esfera jurídica do devedor para a do credor, mediante alguma compensação, direita ou indireta, percebida por este”2. Cumpre esclarecer que neste caso não cabe alegar o enfraquecimento excessivo da posição jurídica do credor, uma vez que este foi compensado inicialmente por alguma vantagem negocial em contrapartida a anuência à cláusula de não indenizar e, ainda, possui ação direta em face do terceiro independente com o qual contratou muito embora tal demanda seja baseada na responsabilidade aquiliana o que se reconhece, acarreta maior dificuldade à atividade probatória. Não obstante, subsiste, ainda, a faculdade creditícia de exigir o cumprimento coercitivo da obrigação pelo devedor por meio de instrumentos hábeis para tanto, tais como a execução específica, o direito de retenção, a exceção do contrato não cumprido, entre outros3. Nuno Manuel Pinto Oliveira critica a tese defendida por António Pinto Monteiro. Neste sentido, confira o seguinte trecho: “(...) admitir a exclusão ou a limitação da responsabilidade por actos de auxiliares ou de representantes legais em caso de incumprimento imputável a título de dolo ou a título de culpa grave equivalerá a aceitar a exclusão ou a limitação da responsabilidade do dever por um dolo que é juridicamente seu ou por uma culpa grave que é juridicamente sua” (Cláusulas acessórias ao contrato: cláusulas de exclusão e limitação do dever de indemnizar e cláusulas penais. 3ª. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p. 60 apud AVELAR, Letícia Marquez de. A Cláusula de Não Indenizar: uma exceção do direito contratual à regra da responsabilidade civil. Curitiba: Juruá, 2012, p. 57). 2 Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. Op. Cit., p. 117. 3 A esse respeito, confira o item 1.2.2. 1 102 102 Após expor a doutrina de António Pinto Monteiro, necessária é a análise da tese à luz do direito brasileiro. Pois bem. O artigo 932, inciso III do Código Civil brasileiro, expressa de forma minuciosa e clara que são também responsáveis pela reparação civil, “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. Ao revés, o artigo 800, n. 1, ao dispor acerca do tema prevê que: “O devedor é responsável perante o credor pelos actos dos seus representantes legais ou das pessoas que utilize para o cumprimento da obrigação, como se tais actos fossem praticados pelo próprio devedor”. Da comparação entre os dispositivos, é possível concluir que o direito português alberga a responsabilização daquele a quem beneficia a atuação do terceiro de modo abrangente, possibilitando a inclusão de terceiros subordinados e terceiros independentes no âmbito de incidência do artigo 800 do Código Civil português, na forma da interpretação de António Pinto Monteiro. Ao revés, a legislação brasileira refere-se especificamente a responsabilidade dos empregados, serviçais e prepostos que atuam em nome e por conta daquele o qual representam. E, é sabido que empregado, serviçal ou preposto é todo aquele que presta serviço ou realiza alguma atividade por conta e sob a direção de outrem, podendo essa atividade ser permanente ou transitória. Ademais, a relação de emprego ou preposição traz sempre uma ideia de subordinação. Do exposto, percebe-se que no direito brasileiro, para esta hipótese – terceiros representantes legais ou auxiliares que por iniciativa do devedor, interfiram no cumprimento da obrigação - apenas é prevista a responsabilização por fato de outrem, quando se tratar de terceiro sem autonomia perante o devedor. Isto é, para que responda o empregador ou comitente, deve o resultado danoso ter sido causado pelo empregado, serviçal ou preposto, ou seja, terceiros dependentes. E, nestes casos, conforme entendimento de António Pinto Monteiro, o devedor será responsável por todos os atos dos terceiros a ele subordinados e eventual convenção limitativa ou excludente apenas operará afastando a indenização nos casos de culpa leve daqueles. Ao revés, o afastamento convencional do dever reparatório não produzirá nenhum efeito no caso de o dano ter sido causado por dolo ou culpa grave dos terceiros subordinados uma vez que esta disciplina é, segundo a tese defendida pelo doutrinador português, aplicável apenas aos terceiros autônomos em relação ao devedor. De rigor, notar que o mesmo se aplica para os atos praticados pelos presentantes da pessoa jurídica, já que, conforme defendido, a manifestação volitiva daqueles representa, em verdade, ato próprio da pessoa jurídica beneficiada. 103 103 Isto posto, desnecessária é a pretensão de exclusão ou limitação do dever de indenizar daquele que se beneficia de ato de terceiro independente, uma vez que nestes casos, segundo disposto no ordenamento jurídico pátrio, não restaria configurada a responsabilidade indireta, sendo, ao terceiro, atribuída responsabilidade direta pelos danos que causar. 2.4. EQUIPARAÇÃO A HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR A responsabilidade do devedor exclui-se, em regra, quando os prejuízos sofridos pelo credor se devam a caso fortuito ou de força maior. É o que explica o artigo 393 do Código Civil. Em que pese a conceituação destes termos ser polêmica, tanto o caso fortuito quanto o de força maior desincumbem o devedor de responder pelas perdas e danos a que a sua inexecução deu causa. O afastamento do dever de indenizar dar-se-á pela exclusão da responsabilidade civil a partir da interrupção ou quebra do nexo causal uma vez que há causa estranha à conduta do devedor a provocar a impossibilidade do cumprimento ou o cumprimento defeituoso do acordado 1. A despeito dos casos reconhecidamente enquadrados na conceituação de fortuito ou caso de força maior2, podem as partes convencionar que determinadas situações ou acontecimentos equiparar-se-ão a tais hipóteses para efeito de imputação do dever indenizatório. Neste sentido, configura-se a cláusula de não-indenizar em comento quando, nos dizeres de Ana Prata, verifica-se a presença de “casos de força maior assimilados” e/ou “presunções de fortuito”. Trata-se, portanto, de cláusula restritiva da reparação que equipara determinados acontecimentos a casos fortuitos ou de força maior, excluindo, assim, a indenização que seria devida na ocorrência de tais situações equiparadas. Assim, por meio de cláusula desta natureza, as partes poderão acordar que a inexecução decorrente da falta de um fornecedor ou de instabilidade econômica, por exemplo, constituirá fatalidade não atribuível ao devedor uma vez que se 1 2 104 Nesta linha, defende-se que as excludentes de responsabilidade civil – fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito ou de força maior – operam a partir da interrupção do nexo de causalidade. Por todos: CRUZ, Gisela Sampaio da.O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 192 e seguintes. É o caso do assalto a ônibus de transporte coletivo que quando não considerado acontecimento comum ou corriqueiro pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, caracterizar hipótese de fortuito externo. A esse respeito confira a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Assalto à mão armada. Força maior. Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, 2ª Seção, REsp. 435.865, Rel. Min. Barros Monteiro, julg. 09.10.2002, publ. DJ 12.05.2003). 104 tratará de casos fortuitos ou de força maior enumerados pelos contratantes de acordo com os seus interesses. Destarte, nas situações equiparadas o devedor não responderá pelos prejuízos, o que equivalerá à exclusão do dever de indenizar ou a limitação deste na hipótese de uma concorrência de causas. Neste contexto, António Pinto Monteiro1 elenca requisito próprio para a validade das cláusulas de não-indenizar em comento. Assim, para o autor português, é necessário que as hipóteses equiparadas a casos fortuitos ou de força maior resultem de circunstâncias estranhas ao controle do devedor bem como representem acontecimentos determinados e precisos. Concordamos com os ensinamentos do doutrinador na medida em que o caso fortuito ou de força maior constitui acontecimento alheio à atuação do agente, ou seja, trata-se de fatalidade. Destarte, equiparar situações imputáveis ao devedor ou controláveis por este a hipóteses de fortuito ou força maior iria de encontro ao cerne da referida excludente de responsabilidade, bem como representaria conduta contraditória do devedor reprimida pela teoria da contradição com a própria conduta ou venire contra factum proprium2. Por fim, pertinente é a observação de Fábio Henrique Peres 3 para quem a modalidade de cláusula de não-indenizar em análise apresenta importante vantagem prática uma vez que a especificação e concretização dos conceitos vagos e imprecisos subjacentes ao fortuito e a força maior assegura maior segurança jurídica à relação em que é aposta tal espécie de cláusula restritiva ou excludente da indenização. 2.5. CLÁUSULAS SOBRE ATOS OU ABSTENÇÕES DO CREDOR Ana Prata defende a possibilidade de excluir ou limitar a indenização devida em função da prática ou não, pelo credor, de determinados atos previstos no contrato4. Dito isto, vê-se que as convenções desta natureza, incidem, de um lado, sobre o conteúdo do negócio celebrado, mediante a estipulação de obrigação contratual para o credor, e de outro, sobre a limitação ou exclusão do dever de reparar do devedor como efeito de eventual não observância pelo credor da obrigação convencionalmente constituída. MONTEIRO, António Pinto. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, p. 109. 2 A esse respeito, confira a obra de Anderson Schreiber, A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e ‘venire contra factum proprium’. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 3 Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. Op. Cit., p. 98. 4 Cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade contratual. Coimbra: Almedina, 1985, p. 69. 1 105 105 Esta modalidade de cláusula de não-indenizar pode ser encontrada, por exemplo, nos contratos de aquisição do serviço de pagamento eletrônico de pedágio - “Sem Parar/ Via Fácil”, onde se obriga o consumidor a respeitar um limite de velocidade ao passar pelo pedágio eletrônico, sob pena de a cancela do equipamento não ser aberta a tempo de liberar a passagem do veículo e de ter o consumidor de arcar com todos os ônus decorrentes da colisão do veículo com a cancela. Trata-se, igualmente, desta espécie de cláusula, quando em contrato firmado entre o consumidor e a administradora do cartão de crédito impõe-se ao primeiro a obrigação de comunicar imediatamente a administradora de eventual roubo, furto ou extravio do cartão sob pena de imputar ao consumidor a responsabilidade absoluta pelas compras realizadas com o cartão de crédito roubado, furtado ou extraviado até o momento (data e hora) da comunicação do ocorrido1. Em que pese a ampla utilização das cláusulas de limitação ou exclusão do dever de indenizar por atos ou abstenções do credor, mormente nos exemplos citados, há que atentar-se para os requisitos de validade das cláusulas de nãoindenizar, quaisquer sejam as modalidades adotadas. Neste sentido, as cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar foram expressamente proscritas no âmbito das relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor conforme dispõe os artigos 25 e 51, inciso I do referido diploma. Do exposto, para aferir a validade das cláusulas citadas nos exemplos supra, há que se fazer ponderação com a proteção consumerista, mote da proibição da inserção de cláusula que exonere ou limite a obrigação de indenizar. Destarte, no caso do pedágio eletrônico, a cláusula que exclui o dever de reparar da prestadora do serviço na hipótese de o consumidor ultrapassar a cancela em velocidade superior ao estipulado, ocasionando danos ao veículo, visa, por fim último tutelar aquele que se utiliza do referido serviço uma vez que se fundamenta na segurança dos usuários. Ademais a condição para funcionamento do equipamento, qual seja, o respeito a um determinado limite de velocidade, não representa imposição desproporcional ao consumidor. É neste sentido que se defende a admissibilidade da exclusão do dever de indenizar nesta hipótese. De outro lado, no caso da administradora do cartão de crédito que exige a comunicação imediata do furto, roubo ou extravio do cartão sob pena de restar excluída a obrigação de reparar daquela pelas eventuais comprar realizadas até o momento da comunicação do ocorrido, entende-se que a obrigação imposta ao 1 106 Os exemplos citados foram retirados da obra de Letícia Marquez de Avelar. A Cláusula de Não Indenizar: Uma exceção do direito contratual à regra da responsabilidade civil. Curitiba: Juruá, 2012, p. 66. 106 consumidor, credor da indenização devida, é desarrazoada já que o coloca em situação de extrema desvantagem uma vez que nem sempre será possível perceber de imediato a falta do cartão de crédito. Em acréscimo, é dever das administradoras dos cartões de crédito e das lojas em geral, apurar a regularidade no uso dos cartões, exigindo, por exemplo, a apresentação de documento de identidade do portador do cartão a fim de conferir a assinatura aposta no ato da compra. Em face do exposto, defende-se ser inválida a inserção de cláusula de nãoindenizar nestes moldes. 2.6. LIMITAÇÃO DA GARANTIA PATRIMONIAL É sabido que o inadimplemento de uma obrigação ou a violação de um dever legal produz um desequilíbrio na relação entre as partes envolvidas. Nesta premissa e à luz do princípio da responsabilidade patrimonial, baseia-se o direito para conceder ao credor instrumentos para haver do responsável, por meio da execução dos bens deste, o equivalente à prestação ou a reparação, mais o ressarcimento por outros prejuízos a que a inexecução ou o desrespeito a preceito legal tenha dado causa. Esta possibilidade de responsabilização patrimonial do devedor pelo débito assumido nos direciona a noção de garantia. Em síntese, “pelos débitos assumidos voluntariamente ou decorrentes da força da lei, respondem os bens do devedor, tomado o vocábulo “bens” em sentido genérico, abrangentes de todos os valores ativos de que seja titular”1. E, no ordenamento jurídico brasileiro, os artigos 391 e 942, ambos do Código Civil, representam a adoção legislativa do mencionado princípio da responsabilidade patrimonial2 no campo da responsabilidade contratual e extracontratual, respectivamente. Assim, via de regra, todos os bens do devedor permanecem num “estado de sujeição” enquanto a obrigação não for cumprida. É possível, contudo, excepcionar tal sistemática, estabelecendo por meio de cláusula contratual limitativa e excludente do dever de indenizar, que nem todo o patrimônio do devedor responderá pelo inadimplemento obrigacional, ou seja, é ajustada a 1 2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. 4. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 273. A adoção do princípio da responsabilidade patrimonial com todas as consequências que lhe são advindas é, segundo nos informa Caio Mário da Silva Pereira, “uma conquista da civilização” (Instituições de direito civil, v. 4. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 273) 107 107 redução da garantia patrimonial de que dispõe o credor para satisfazer a prestação que lhe deve o obrigado1. Neste contexto, podem as partes optar por excepcionar determinados bens da garantia patrimonial, permanecendo, o devedor, responsável com todos os demais bens, o que, António Pinto Monteiro convencionou denominar delimitação negativa2. De outro lado, é possível destacar bens determinados do acervo patrimonial do devedor, hipótese em que apenas estes bens se sujeitarão à satisfação da obrigação inadimplida, o que, o mencionado autor português, convencionou chamar de limitação positiva3. Destarte, a constituição de avença desta natureza configura limitação indireta do dever de indenizar com efeitos semelhantes aos da modalidade de limitação do montante indenizatório pelo qual se estabelece limite máximo fixo ou determinável para a quantificação daquele quantum4. Isto porque a redução da garantia patrimonial do devedor não conduzirá necessariamente a limitação ou a exclusão do dever de indenizar daquele, uma vez que os bens do obrigado abrangidos pela cláusula de não-indenizar sob análise podem quedar-se suficientes para satisfazer a prestação inadimplida, hipótese em que a convenção não produzirá efeitos. Assim, em se optando pela inserção de limitação positiva da garantia patrimonial, o credor possui a vantagem de conhecer previamente o acervo que garante a eventual e futura indenização. Neste contexto, defende, Fábio Henrique Peres5, que ausente qualquer estipulação negocial a respeito da alienação dos bens abrangidos pela cláusula de limitação positiva, restará, obrigado, o devedor, via de regra, a substituir ou reforçar a garantia em caso de deterioração, alienação, depreciação, perecimento ou desapropriação dos bens destacados vez que necessário é manter eficaz a garantia outorgada ao credor, sob pena, de esvaziamento da limitação positiva operada pela cláusula de não-indenizar. A inserção de cláusula de limitação negativa, por sua vez, poderá importar ou não em prejuízo para o credor. Isto porque, conforme mencionado, em face do ajuste de cláusula desta natureza, o devedor permanecerá respondendo com todos A par desta possibilidade oriunda de ajuste contratual, o legislador excepcionou a regra do artigo 391 do Código Civil destacando alguns bens do devedor de modo a excluí-los da ‘garantia geral’ em que consiste o patrimônio do obrigado. Destacam-se, neste sentido, o imóvel residencial do devedor, os móveis que lhe guarnecem a residência e os equipamentos de uso profissional, impenhoráveis por força do art. 1o da Lei n. 8.009/1990; o bem gravado com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade (artigo 1.911 do Código Civil) ou, por outro motivo, inalienável (artigos 649, inciso I, 1.164, 1.331, § 2o e 1.339, § 1o, todos do Código de Processo Civil); o crédito alimentício (artigo 1.707 do Código Civil); o bem de família (artigo 1.711 do Código Civil), dentre outros. 2 Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, p. 113. 3 Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, p. 113. 4 A respeito da cláusula de não-indenizar que opera por meio da limitação do montante indenizatório, confira o item 2.1 o presente trabalho. 5 Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 105. 1 108 108 os seus bens, salvo os que expressamente excepcionar. Desta sistemática resulta a aplicação da acepção geral da garantia pelo qual o patrimônio do devedor visa à satisfação da pretensão creditória quando inadimplido o débito. Sendo assim, a extensão da garantia, neste caso, dependerá do aumento ou diminuição do patrimônio do devedor. Veja: pode ocorrer a diminuição patrimonial do devedor face a ocorrência de crise econômica que afete a atividade empresarial por aquele desenvolvida, via de exemplo. Registre-se, contudo, que, a possibilidade de redução do patrimônio do devedor é repudiada por António Pinto Monteiro, para quem a cláusula de limitação negativa apenas poderá ser benéfica para o credor1. Todavia, na esteira do defendido por Fábio Henrique Peres 2, entendemos que a obrigação suscitada de “não diminuir o patrimônio” poderá ocorrer por fatores alheios à vontade do devedor - crise econômica, desastres naturais que abalem o desenvolvimento da atividade empresarial, entre outros - constituindo, portanto, obrigação de meio e não de resultado. Dito isto, ressalvada a atuação maliciosa do devedor, não deve este ser responsabilizado pela diminuição do patrimônio sobre o qual incida a cláusula de limitação negativa. A par destas considerações, tanto no âmbito da cláusula de limitação positiva como no da limitação negativa, serão, nos termos da lei, especificamente punidas, a alienação/oneração fraudulenta dos bens do devedor que se prestam a garantia de suas obrigações. III. REQUISITOS DE VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIMITATIVAS E EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR A ausência de sistematização legal do regime das cláusulas de nãoindenizar no direito positivo brasileiro exige do intérprete e operador do direito o desenvolvimento de atividade integrativa de amplo espectro. Em verdade, as convenções excludentes e limitativas do dever de indenizar encontram guarida na lei de forma pontual uma vez que recebem tratamento legislativo esparso em normas específicas voltadas a regulamentar domínios próprios. Em que pese a omissão do legislador, as cláusulas de não-indenizar vem, atualmente, sendo admitidas no direito brasileiro3, uma vez respeitados os requisitos para sua validade e as vedações específicas que lhes são impostas. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, p. 113. Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. Op. Cit., pp. 105-106. 3 Admitindo a cláusula contratual excludente e limitativa do dever de indenizar no direito brasileiro: Fábio Henrique Peres (Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009), José de Aguiar Dias (Cláusula de não-indenizar. 4a ed. Rio de 1 2 109 109 E, visando fundamentar a admissibilidade das convenções acessórias ora analisadas, doutrina majoritária, após constatar, de um lado, a ausência de vedação genérica expressa e, de outro, a existência apenas de interdições pontuais1, elenca o princípio da autonomia da vontade e a liberdade de contratar como pilares a sustentar a validade das cláusulas limitativas e excludentes do dever de indenizar2. Isto porque, a ausência de expressa proibição faculta às partes o estabelecimento de sistemática indenizatória diversa da prevista no modelo legal quando sobre a relação jurídica específica não incida vedação pontual3. Assim, sendo certo que segundo o princípio da legalidade disposto no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, aos indivíduos, no campo privado, é permitido fazer tudo quanto a lei não vede, lícito é a estipulação da limitação ou Janeiro: Forense, 1980), Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010), Letícia Marquez de Avelar (A Cláusula de não-indenizar: Uma exceção do direito contratual à regra da responsabilidade civil. Curitiba: Juruá, 2012) No direito português, a cláusula de não indenizar também é admitida, entre outros, por: António Pinto Monteiro (Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003) e Ana Prata (Cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade contratual. Coimbra: Almedina, 1985). De outro lado, inadmitindo a cláusula de não-indenizar, confira a doutrina de Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “A existência de cláusula de não indenizar, celebrada anteriormente a resolução, é contrária a lei e, assim como a renúncia prévia do direito de resolver, não pode ser aceita” (Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003). Defendendo a admissibilidade da cláusula contratual limitativa do dever de indenizar e ao revés, a inadmissibilidade da cláusula contratual excludente do dever de indenizar afirma Nilson Lautenschleger Jr.: “(...) a limitação não pode ser total, pois seria vil e, como tal, não admitida, já que se equipararia à exclusão” (“Limitação de responsabilidade na prática contratual brasileira: permite-se no Brasil a racionalização dos riscos do negócio empresarial?”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 125. São Paulo: Malheiros, jan/mar. 2002, p. 11-12). 1 Neste ponto, tome-se por exemplos de previsões pontuais e específicas que proíbem ou restringem o campo de incidência destas convenções no direito brasileiro: a vedação da incidência de cláusula limitativa do dever de indenizar sobre prazos de prescrição ou de decadência (arts. 192 e 209) a não ser que se trate de prazo convencional de decadência (art. 211 do Código Civil); com relação aos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, segundo a regra do art. 618 do Código Civil, é vedada a redução do prazo de cinco anos durante o qual o empreiteiro de materiais e execução responderá pela solidez e segurança do trabalho, o que, representa a impossibilidade de se limitar, no tempo, o dever de indenizar do empreiteiro; é vedada a limitação ou exclusão do dever de indenizar nos contratos de transporte de pessoas (art. 734 do Código Civil); a impossibilidade de inserção destas convenções em contratos relativos a relações de consumo (arts. 25 e 51, inciso I do Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/1990). 2 Neste sentido, dentre outros, posiciona-se Álvaro Luiz Damásio Galhanone (“A cláusula de nãoindenizar”. In: Revista dos Tribunais. Vol. 565. São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 1982, p. 25) e Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p, 530). 3 No mesmo sentido, Antonio Junqueira de Azevedo (“Cláusula cruzada de não-indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro”. In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 203) e José de Aguiar Dias (Cláusula de nãoindenizar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 73) sustentam que a presença de interdições pontuais à cláusula de não-indenizar apenas em determinados campos, implicitamente conduz ao reconhecimento de sua validade em outros contratos. Entretanto, como bem nos lembra, Fábio Henrique Peres (Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. Op. Cit.,p. 130, nota de rodapé n. 293), a constatação de interdições pontuais à cláusula, é argumento que pode ser utilizado para justificar a validade genérica das referidas convenções nos campos em que não há vedação bem como poderá, de outro lado, fundamentar a sua inadmissibilidade uma vez que há determinados momentos em que o legislador expressamente admite a cláusula de não-indenizar, o que se pode extrair, via de exemplo, do artigo 450 do Código Civil, a saber: “Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído” (grifou-se). 110 110 exclusão de futura e eventual indenização pelas partes, se assim o desejarem e, repita-se, observados os requisitos de validade das mencionadas convenções. Insta, portanto, concluir pela admissibilidade das cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar, desde que atendidos os pressupostos de validade para os negócios jurídicos em geral 1, já que destes constituem espécies, bem como observadas as vedações expressas e requisitos específicos que lhe são aplicáveis, que serão a seguir analisadas. 3.1. A Ordem Pública Assim como à generalidade dos negócios jurídicos, às cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar não é dado furtar-se da observância das normas de ordem pública e dos bons costumes2. Destarte, a cláusula de não-indenizar só poderá ser estipulada quando a norma de direito comum que estabelece a obrigação de reparar (que, em função da convenção será restringida ou afastada) não tutela interesse de ordem pública. Este requisito de admissibilidade, em que pese a imperatividade que lhe é ínsita, possui conteúdo vago e indeterminado, o que, em última instância, torna imprecisos os contornos de sua aplicação. Assim é que a doutrina vem estabelecendo que a ordem pública condiz com um conjunto de ideias – sociais, morais, políticas, econômicas cuja conservação está ligada intrinsecamente a própria existência da sociedade que os localiza em patamar superior a vontade dos indivíduos, logo intangível pelas deliberações dos particulares3. É neste sentido que as cláusulas de não-indenizar não são admitidas nas relações de trabalho. Igualmente corolário da observância dos ditames de ordem pública é a vedação do estabelecimento de cláusulas de não-indenizar que interessem diretamente à vida ou à integridade física das pessoas naturais porque estes ajustes afrontariam o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no 1 2 3 Neste ponto, cabível a análise do artigo 104 do Código Civil: “A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável e III – forma prescrita ou não defesa em lei”. Acerca da observância obrigatória das normas de ordem pública, dentre outros: Álvaro Luiz Damásio Galhanone (“A cláusula de não-indenizar”. In: Revista dos Tribunais. Vol. 565. São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 1982, p. 28), Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp, 531-532), José de Aguiar Dias (Cláusula de não-indenizar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 43) e Antonio Junqueira de Azevedo (“Cláusula cruzada de não-indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro”. In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 203). Neste sentido, por todos, Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direito civil, v.3. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. pp, 22-23) e Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 531-532). 111 111 artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. Esta não é senão a razão do firme posicionamento no sentido da invalidade da cláusula de não-indenizar na seara da responsabilidade médica uma vez que neste âmbito a natureza do bem protegido pela obrigação de indenizar é a incolumidade da vida humana 1. A invalidade das cláusulas de não indenizar que interessem diretamente à vida ou à integridade psicofísica das pessoas naturais se projeta, igualmente, no repúdio à limitação ouexclusão da indenização por danos morais suportados por pessoas naturais2. Considera-se, ainda, que o respeito à ordem pública repudia as cláusulas que limitem ou excluam o dever de reparar oriundo da violação aos preceitos da boa-fé objetiva. Isto porque não seria dado às partes furtarem-se da observância de um padrão ético socialmente exigível dos contratantes. Destaque-se, por fim, que o rol acima traçado não é taxativo, impondo–se a análise concreta da relação jurídica a que adere a cláusula de não-indenizar, bem como da generalidade dos negócios jurídicos a fim de verificar o respeito à ordem pública. Demais disso, afirmou-se que a cláusula contratual limitativa e excludente do dever de indenizar deverá ser afastada em face de norma imperativa proibindo a sua estipulação3. Nestas hipóteses, dispensa-se a ponderação dos interesses envolvidos a fim de perquirir eventual ofensa à ordem pública uma vez que o legislador, de antemão, em face de situações que reclamam proteção, fixou a 1 2 3 112 Note que o rol acima disposto de circunstâncias em que a tutela da integridade e da vida das pessoas naturais servirá de fundamento para negar validade às cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar é meramente exemplificativo, razão pelo qual há que se proceder a análise do caso concreto a fim de verificar se a cláusula de não-indenizar refere-se diretamente a interesses extrapatrimoniais. Demais disso, é possível citar a proibição da convenção que pretenda limitar no tempo o dever de indenizar do empreiteiro pela solidez e segurança do edifício ou de outra construção considerável o que se depreende do artigo 618 do Código Civil posto que o dispositivo estabelece ser irredutível o prazo de cinco anos durante o qual o empreiteiro permanece responsável pela obra. Quanto à inserção de cláusula de não-indenizar relativa aos danos morais suportados por pessoas jurídicas, entende-se não se aplicar a mesma vedação. Isto porque, na esteira de Anderson Schreiber (Direitos da Personalidade. Atlas, São Paulo. 2011, pp. 21-23) e Gustavo Tepedino (“Crise de Fontes Normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002” In: A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. XXIX-XXX) somente as pessoas naturais sofrem dano moral uma vez que apenas a estas atribui-se dignidade humana. Entretanto, a jurisprudência diverge, defendendo em larga escala, que as pessoas jurídicas são suscetíveis de sofrer danos morais. Neste sentido, confira o enunciado da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Assim, adotando a premissa de que a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade e portanto admitindo o cabimento da indenização por danos morais em favor daquela, defende-se que eventual convenção de não-indenizar, observados os requisitos de validade, poderá incidir limitando ou excluindo a obrigação de indenizar a que se alude a uma pois não se vislumbra ofensa à ordem pública e a duas pois é igualmente inexistente a violação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, fundamento e razão última do cabimento de danos morais. Admitindo a validade da cláusula de não-indenizar em face da indenização por danos morais à pessoa jurídica, confira a obra de Fábio Henrique Peres (Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 151-153). Assim, é possível mencionar o disposto no artigo 734 do Código Civil onde se veda a inserção da cláusula de não-indenizar no contrato de transporte de pessoas e nos artigos 25 e 51, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, os quais afastam a possibilidade da utilização das convenções em tela no âmbito das relações de consumo. 112 inadmissibilidade da limitação ou exclusão do dever de reparar, excepcionando o princípio da autonomia da vontade. 3.2. O EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO A industrialização e consequente massificação das relações contratuais evidenciou a insuficiência da igualdade formal para garantir os interesses efetivos dos contratantes. Passa-se, então, a perquirir o equilíbrio econômico contratual, manifestado na paridade das relações,por meio da análise das condições efetivas de negociação das partes, afastando-se, assim, da visão clássica que propugnava pela justiça contratual tão só em face da presença da capacidade para contratar. Somase a este fenômeno a crescente propagação das relações jurídicas marcadas pela vulnerabilidade de uma das partes, especialmente face a elevada conclusão de contratos de adesão. Contudo, esta constatação não implica a afirmação da inexistência de contratos paritários celebrados em situação de razoável igualdade e frutos de ampla negociação. Neste contexto, cabe asseverar que para caracterizar a paridade de uma relação negocial não se faz necessário que as partes se localizem em perfeita simetria. Isto posto, admite-se, por ser dado real do qual não se poderá distanciar o Direito, que uma das partes poderá apresentar maior poder de negociação em função de questões econômicas, específicas ou gerais, ou mesmo em função de aspectos de índole psicológica. Fosse necessária uma equiparação minuciosa das condições de negociar das partes, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato não passaria de utopia. Do exposto, a paridade contratual restará presente no âmbito de uma relação na qual as partes tem um equal bargaining power1, verificando-se, ao revés, a vulnerabilidade quando um dos contratantes logre impor unilateralmente as condições de contratação que lhe aprouverem. Certo que há determinados indícios a indicar a vulnerabilidade da parte tais como as condições econômicas e profissionais, os conhecimentos específicos da parte acerca do objeto contratado, entre outros. O que se quer defender é que não se deve fixar aprioristicamente a inferioridade de um dos contratantes, uma vez ser necessária a análise de seu real poder de negociação em todos os seus aspectos – econômico, técnico e jurídico. Caracterizada a relação paritária ganha relevo a autonomia da vontade vez que face a presença da equidade e justiça contratuais emerge a obrigação nos 1 A expressão é utilizada por António Pinto Monteiro. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, p. 247. 113 113 moldes estabelecidos pelas partes, como corolário da liberdade de contratar e da relatividade e obrigatoriedade dos contratos. Registre-se que ao lado dos princípios mencionados, cumpre observar os novos paradigmas do direito contratual, mencionando-se desde logo que esta nova principiologia não se substitui aos ditames clássicos. Ao revés soma-se àqueles de modo a permitir sua releitura. Neste contexto, localiza-se a questão da validade das cláusulas de nãoindenizar. É dizer, as convenções de exclusão e limitação do dever de reparar encontrarão guarida apenas no campo das relações paritárias1, uma vez que pressupõem o expresso consentimento das partes bem como a compensação pela anuência à cláusula, mediante a concessão de alguma vantagem correspondente – por exemplo, a exoneração ou limitação recíproca do dever de indenizar, a redução do preço do bem adquirido ou do serviço a ser prestado ou, ainda, a concessão de condições de pagamento mais flexíveis, dentre outras. De certo que a anuência à cláusula de não-indenizar não poderá representar imposição unilateral de uma das partes, há que haver reciprocidade, encontrando a parte prejudicada pela eventual limitação ou exclusão de seu pleito indenizatório justa compensação. Esta não é senão a razão para a forte repulsa a validade de cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar em contratos de adesão. Contudo, conforme se vem defendendo, a verificação da paridade da relação deverá se dar a partir da análise do caso concreto. E assim, muito embora se admita que nos contratos de adesão há uma presunção da ausência de equilíbrio econômico, há que se aferir de acordo com as circunstâncias fáticas presentes se realmente a limitação ou exclusão do dever de indenizar foi imposta unilateralmente, destituindo-se a outra parte de qualquer contrapartida pela anuência à cláusula. Da presença da reciprocidade quando do ajuste de cláusula de nãoindenizar extrai-se o equilíbrio econômico contratual, ou seja, verifica-se a equivalência entre as vantagens obtidas pelos contratantes. De um lado, ao devedor, assegura-se o conhecimento prévio das regras que definirão o montante máximo da indenização, ou no caso específico das cláusulas excludentes, a ausência de indenização, no caso de eventual inadimplemento. De outro, o credor gozará de vantagem correlata pela anuência à convenção limitativa ou excludente do dever de indenizar. 1 114 Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “As cláusulas limitativas, contanto que atendam aos requisitos descritos, são consideradas válidas e eficazes, sendo admitidas pela jurisprudência, tanto mais quando inseridas nas chamadas relações paritárias em que as partes têm oportunidade de negociar: “(...) uma coisa é cláusula dessa natureza [cláusula de não indenizar], já vedada no direito brasileiro, e outra são cláusulas limitativas de responsabilidade em contratos firmados entre partes igualitárias, entre profissionais, que naturalmente têm a oportunidade de discuti-la ou, de alguma forma, têm a liberdade de contratar e a liberdade contratual amplamente assegurada” (STJ, 2ª Seção, REsp. 39.082/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, j. 09.11.1994, v. m., DJ 20.03.1995, p. 6.077 – trecho do voto-vista do Min. Cláudio Santos). 114 3.3. Obrigações Essenciais do Contrato Costuma-se negar validade à cláusula de não-indenizar que pretenda limitar ou excluir o dever de reparar nascido da violação de obrigação principal do contrato1 sob o argumento de que a convenção nestes termos pactuada importaria no desvirtuamento da essência da relação contratual bem como inviabilizaria a consecução dos fins pretendidos pelo negócio jurídico. Em outras palavras, a cláusula apenas seria admissível em face das obrigações acessórias do contrato. Assim, o repúdio da doutrina à cláusula contratual excludente e limitativa do dever de indenizar que se refira à obrigação principal do contrato dá-se, primordialmente, com o objetivo de garantir a eficácia das obrigações assumidas em contrato. Com efeito, há casos em que, descumprida a obrigação principal, não resta ao credor nenhuma alternativa útil a não ser a indenização devida em função do inadimplemento. É esta a hipótese presente nos contratos de depósito ínsitos aos estacionamentos comerciais de automóveisNeste contexto, verificada a perda ou deterioração dos referidos bens, nenhum dos instrumentos de cumprimento coercitivo da obrigação – tais como as astreintes, a exceção do contrato não cumprido, a cláusula resolutiva expressa ou tácita, o direito de retenção - se prestaria a tutelar a posição jurídica do credor privado de seus bens. De fato, o objetivo do proprietário do automóvel é a guarda e a segurança do veículo. Em ocorrendo o furto ou deterioração lhe restaria apenas o pleito indenizatório uma vez que os demais instrumentos previstos em lei não conduziriam a uma tutela efetiva da pretensão manifestada no contrato. Sendo assim, a validade da cláusula de não indenizar que incida sobre a obrigação principal do contrato depende da análise da manutenção ou não do substrato funcional do negócio jurídico celebrado. Explica-se. Analisando o exemplo do contrato de depósito supramencionado, vê-se que o dever de guarda e conservação da coisa depositada constitui a obrigação principal do contrato. O descumprimento da referida obrigação não encontrará tutela efetiva nos instrumentos de cumprimento coercitivo do contrato já que não será possível restituir a exata coisa depositada. Então, apenas restará ao credor, requerer 1 Defendem esta posição, dentre outros, Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 533-534), Antonio Junqueira de Azevedo (“Cláusula cruzada de nãoindenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro”. In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 201) e Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil: Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 60). 115 115 indenização pelo valor correspondente à coisa. Daí que subtrair ou restringir a possibilidade da indenização desfigura o contrato, tornando-o ineficaz ao credor. Nestas hipóteses, portanto, a convenção limitativa ou excludente do dever de indenizar deverá, em regra, ser repudiada. De outro lado, há determinados tipos contratuais nos quais a incidência da cláusula de não-indenizar sobre as obrigações principais não promoverá a descaracterização dos elementos de qualificação do negócio jurídico ou mesmo retirará a efetividade das prestações assumidas em contrato uma vez que, muito embora se limite ou se exclua o dever de indenizar resultante do inadimplemento da obrigação principal, subsistem mecanismos no ordenamento jurídico aptos a tutela efetiva do crédito. Demais disso, o cabimento da convenção de não-indenizar dependerá do preenchimento dos demais requisitos de validade. Neste diapasão, ressalte-se que o atendimento do requisito relativo à inexistência de dolo do agente corrobora a validade da cláusula que pretenda limitar ou excluir o dever de reparar decorrente do inadimplemento de obrigação principal do contrato uma vez que não poderá o devedor se utilizar da convenção nestes moldes pactuada para intencionalmente se furtar do cumprimento da avença. O mencionado raciocínio não é, contudo, adotado pela doutrina. Neste sentido, o entendimento predominante é o da invalidade da convenção de nãoindenizar incidente sobre a obrigação principal, sem ressalvar as hipóteses em que a inserção da cláusula mantém a eficácia das prestações assumidas em contrato mediante a subsistência dos mecanismos de tutela do crédito 1. Em que pese a oposição da doutrina majoritária, defendemos, na esteira de Fábio Henrique Peres2, que as cláusulas de não-indenizar que se refiram a obrigações principais do contrato apenas serão nulas quando a sua inserção ocasionar a descaracterização dos elementos do tipo contratual. Esta análise se dará pela constatação concreta da suficiência ou não dos demais instrumentos legais de tutela da posição jurídica do credor. 3.4. O Dolo e a Culpa Grave Muito embora inexista qualquer proibição legal expressa, é consenso na doutrina e na jurisprudência que as cláusulas de não-indenizar devam considerar-se inoperantes quando o fato gerador da obrigação de indenizar se originar de Neste sentido, posiciona-se, dentre outros, Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 533-534). 2 Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. Op. Cit., pp. 185-186. 1 116 116 inadimplemento ou conduta dolosa da parte beneficiada pela exclusão ou limitação da reparação1. Dentre outros, o principal argumento utilizado para repudiar a cláusula de não-indenizar nesta seara assenta na invocação da imoralidade, da ofensa aos bons costumes e à ordem pública. De fato, em que pese subsistirem os instrumentos de cumprimento coercitivo da obrigação, admitir a possibilidade do sujeito jurídico que ao expressar a sua vontade negocial, acorda a limitação ou exoneração do seu dever de indenizar face a inexecução obrigacional, descumprir intencionalmente o dever subjacente ao negócio firmado, foge à boa-fé e à justiça contratual. Demais disso, há autores que defendem que a exclusão ou limitação do dever de indenizar imputável ao devedor a título de dolo equivaleria a uma dissolução do vínculo jurídico obrigacional, destituindo de coercitividade a obrigação, convolando-a, em verdadeira obrigação natural . Acrescentam outros 2 doutrinadores que constituiria igualmente razão para a inadmissibilidade da cláusula em caso de dolo do devedor, o repúdio às condições puramente potestativas3. Contudo, ainda que tenha sido convencionada a exoneração ou a limitação do dever de indenizar em virtude de dolo, o que se admite apenas a título de argumentação, o credor tem a possibilidade de, diante do inadimplemento do devedor, requerer judicialmente o cumprimento coercitivo da obrigação, conforme expusemos no item 1.2.2. Com efeito, o débito assumido não se destituirá de exigibilidade em face da inclusão de cláusula de não-indenizar, razão pelo qual o adimplemento da obrigação sobre o qual incide a cláusula não se sujeita ao arbítrio do devedor. Destarte, em que pese concordarmos com a inadmissão da cláusula deindenizar incidente sobre a inexecução dolosa, cabe considerar que a eliminação das conseqüências do dolo do agente por meio das cláusulas em exame não teria o condão de afastar a força coercitiva do vínculo obrigacional. Neste sentido, posicionam-se, dentre outros: Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direito civil, v. 2. 23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 346), Antonio Junqueira Azevedo (“Cláusula cruzada de não-indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro”. In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 202-203), Fábio Henrique Peres (Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 169-179), Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 532-533) e Ana Prata (Cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade contratual. Coimbra: Almedina, 1985, pp. 279-317). 2 Defendendo este entendimento, Sergio Cavalieri Filho: “(...) a exoneração do dolo equivaleria à dispensa de prestar, à negação da própria obrigação, e não, simplesmente, do dever de reparar. Seria estabelecer a impunidade da má-fe prevista de antemão. O devedor que se reservasse o direito de não cumprir a obrigação por seu próprio arbítrio, em verdade, não a teria contraído” (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p, 532). 3 Neste sentido, posicionam-se, Sílvio Venosa (Direito Civil: Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p, 59) e Sílvio Rodrigues (Direito Civil: Responsabilidade Civil. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 181). 1 117 117 Do exposto, a invalidade das cláusulas limitativas e excludentes que pretendam afastar o dever de reparar oriundo de inadimplemento doloso dá-se não com base na destituição da obrigatoriedade do negócio e sim com fundamento na violação da ordem pública e da boa–fé objetiva, vez que admitir a utilização de cláusulas nestes moldes iria de encontro à observância de um padrão ético socialmente exigível dos contratantes. Cumpre mencionar a observação de Fábio Henrique Peres no sentido de que a cláusula de não-indenizar “deva ser reputada inválida apenas no que tange à sua aplicabilidade em situações de dolo, restando plenamente válida e eficaz em outras hipóteses”. É que, nos limites permitidos, busca-se preservar os contornos negociais definidos pelas partes no exercício da autonomia da vontade. Por fim, procederemos a análise da admissibilidade da cláusula de nãoindenizar que pretenda limitar ou excluir o inadimplemento ocasionado por culpa grave do devedor. Inicialmente, cabe mencionar que a doutrina amplamente majoritária afirma a validade das cláusulas que objetivem a eliminação ou restrição das consequências advindas da inexecução por mera culpa. Isto porque, nesta hipótese, não há violação frontal da ordem pública, ao revés, todo inadimplemento, salvo o proveniente de fortuito ou força maior, alberga certo desvio no padrão de conduta do agente. A discussão surge quando da análise da cláusula que pretenda afastar a reparação decorrente de inadimplemento por culpa grave do devedor. Com efeito, há autores a defender a admissibilidade das referidas cláusulas1 conquanto predomine a corrente que nega a validade daquelas face a equiparação da culpa grave ao dolo, afastando a validade da cláusula em ambas as hipóteses 2. Neste ponto cumpre asseverar que há distinção concernente à natureza entre a culpa grave e o dolo. Neste sentido, no dolo há o descumprimento de determinado dever jurídico primário pelo devedor que, almejando tanto ao ato em si como aos seus efeitos, descumpre voluntária e deliberadamente a obrigação. A culpa, por sua vez, prescinde da intenção de descumprir, ou seja, o devedor não visa ao inadimplemento mas o acaba provocando por falta de diligência ou prudência. Nesse sentido, por todos, José de Aguiar Dias (Cláusula de não-indenizar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, pp. 100 e seguintes). 2Manifestam este entendimento, António Pinto Monteiro (Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 235-236), António Junqueira de Azevedo (“Cláusula cruzada de não-indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro”. In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 202) e Marcelo Calixto Junqueira (A culpa na Responsabilidade Civil. Estrutura e Função. Rio de Janeiro. Renovar, 2008, p. 366). Em sentido contrário, negando a equiparação entre o dolo e a culpa grave, dentre outros, José de Aguiar Dias (Cláusula de não-indenizar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 98) e Fábio Henrique Peres (Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 174-179). 1 118 118 Esclarecido este ponto, há que se notar que, atualmente, adota-se uma concepção objetiva ou normativa da culpa, prescindindo-se, no sistema pátrio, da análise dos graus de culpa. É dizer, independentemente do grau de culpa, à conduta causadora do dano serão imputadas as consequências advindas da responsabilidade civil, segundo as regras do nexo de causalidade. Assim, dado a igualdade de efeitos, há que se defender uma unidade conceitual da culpa.E, desta argumentação resulta a impossibilidade de se referir à culpa grave já que esta nada mais é que simplesmente “culpa”. Contudo, em que pese o ordenamento jurídico brasileiro não sufragar a teoria do grau de culpa, admite-se a utilização excepcional da quando da determinação do montante indenizatório prevista no parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, bem como para determinar a invalidade das cláusulas de nãoindenizar nos casos de culpa grave. Disto, conclui-se, i) o dolo e a culpa grave são institutos distintos; ii) não se afigura cabível a referência à culpa grave vez que face ao não reconhecimento da teoria da gradação de culpa, impõe-se a consideração da unidade conceitual desta; iii) em que pese estas ressalvas, por motivos de ordem pública, utiliza-se da referência à culpa grave para equipará-la, em seus efeitos, ao dolo, vedando-se a possibilidade de isenção ou limitação da obrigação de indenizar quando o dano resulte de culpa grave do devedor. CONCLUSÃO Em tentativa de síntese do estudo é possível consignar as seguintes conclusões: I. Quanto ao papel da cláusula de não-indenizar: À cláusula de nãoindenizar é atribuída a função de limitar ou excluir determinada e eventual obrigação de reparar prevista em seu âmbito de incidência, oriunda do inadimplemento contratual ou da violação de um dever legal. Desta forma, logra assegurar aos contratantes a redução dos riscos do negócio por meio da ciência prévia das regras aplicáveis quando da eventual necessidade de definir o montante indenizatório. É dizer, a cláusula contratual limitativa e excludente do dever de indenizar opera seus efeitos no momento patológico da obrigação, alterando ou mesmo substituindo a solução legal prevista para as mencionadas hipóteses de inexecução contratual ou violação de dever derivado da lei. II. Quanto ao domínio em que desempenham suas funções: O campo de atuação, por excelência, das cláusulas de não-indenizar é o da responsabilidade contratual porquanto o estabelecimento contratual da exoneração ou da 119 119 restrição do dever de reparar dá-se mormente entre pessoas que possuem um vínculo contratual prévio entre si. III. Quanto à exclusão da responsabilidade: As cláusulas de nãoindenizar incidem tão somente em face das repercussões patrimoniais do dever jurídico secundário uma vez que a responsabilidade e o dever originário consubstanciado na obrigação contratada, se mantém incólumes. Neste particular, a cláusula acessória em questão apenas afetará a possibilidade de requerer perdas e danos em eventual ação judicial de reparação de forma que limitará ou excluirá tal pleito a depender do ajustado pelas partes permanecendo, de outro lado, a faculdade creditória de exigir o cumprimento da obrigação mediante a utilização de instrumentos jurídicos de imposição da satisfação do crédito tais como a execução específica, as astreintes, a exceção do contrato não cumprido, o direito de retenção, a cláusula resolutiva expressa ou tácita, entre outros. IV. Quanto às modalidades assumidas pelas cláusulas de não-indenizar: A ausência de sistematização legislativa somada ao dinamismo da prática contratual implica na utilização de formas de cláusulas de não-indenizar diversas das então enumeradas. Sendo assim, buscou-se traçar rol exemplificativo das formas de manifestação mais frequentes das convenções de não-indenizar. São elas: limitação do montante indenizatório, exclusão do dever de indenizar a determinados tipos de danos, limitação dos fundamentos do dever de indenizar, equiparação a hipóteses de caso fortuito ou força maior, cláusulas sobre atos ou abstenções do credor e limitação da garantia patrimonial. V. Quanto à fundamentação de validade das cláusulas de não-indenizar: Doutrina majoritária, após constatar de um lado, a ausência de vedação genérica expressa e de outro, a existência apenas de interdições pontuais à cláusula de nãoindenizar, elenca o princípio da autonomia da vontade e a liberdade de contratar como pilares a sustentar a validade das cláusulas limitativas e excludentes. Isto porque a ausência de expressa proibição faculta às partes o estabelecimento de sistemática indenizatória diversa da prevista no modelo legal quando sobre a relação jurídica específica não incida vedação pontual. Insta, portanto, concluir pela admissibilidade das convenções de não-indenizar, desde que atendidos os pressupostos de validade para os negócios jurídicos em geral, já que destes constituem espécies, bem como observadas as vedações expressas e requisitos específicos que lhe são aplicáveis. VI. Quanto aos requisitos próprios das cláusulas de não-indenizar: Assim como à generalidade dos negócios jurídicos, às cláusulas contratuais limitativas e excludentes do dever de indenizar não é dado furtar-se da observância das normas de ordem pública. É neste sentido que as cláusulas de não-indenizar não são admitidas nas relações de trabalho ou quando interessarem diretamente à vida ou 120 120 à integridade física das pessoas naturais, face a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana ou ainda, quando pretendam excluir ou limitar o dever de reparar oriundo da violação da boa-fé objetiva. Demais disso, afirmou-se que a cláusula contratual limitativa e excludente do dever de indenizar deverá ser afastada em face de norma imperativa proibindo a sua estipulação. Reputar-se-á válida a cláusula contratual em tela em face da existência de uma real contrapartida à sua estipulação, como corolário do equilíbrio econômico da relação sobre o qual incide. Note que este cenário se configurará apenas nas situações em que as partes estão em reais condições de negociar acerca das vantagens e concessões advindas da inclusão da cláusula de não-indenizar. É possível, então, concluir que as convenções de exclusão e limitação do dever de reparar encontrarão guarida apenas no campo das relações paritárias uma vez que pressupõem o expresso consentimento das partes bem como a compensação pela anuência à cláusula mediante a concessão de alguma vantagem correspondente – por exemplo, a exoneração ou limitação recíproca do dever de indenizar, a redução do preço do bem adquirido ou do serviço a ser prestado ou, ainda, a concessão de condições de pagamento mais flexíveis, dentre outras. Consideramos, ainda, que não se deve negar de plano a validade da cláusula de não indenizar que incida sobre a obrigação principal do contrato. Isto porque a questão dependerá da análise da manutenção ou não do substrato funcional do negócio jurídico celebrado.Assim, as cláusulas contratuais limitativas e excludentes que se refiram a obrigações principais do contrato apenas serão nulas quando a sua inserção ocasionar a descaracterização dos elementos do tipo contratual. Esta análise poderá se dar pela constatação concreta da suficiência ou não dos demais instrumentos legais de tutela da posição jurídica do credor. Por fim, muito embora inexista qualquer proibição legal expressa, é consenso na doutrina e na jurisprudência que as cláusulas de não-indenizar devam considerar-se inoperantes quando o fato gerador da obrigação de indenizar se originar de inadimplemento ou conduta dolosa da parte beneficiada pela exclusão ou limitação do dever de indenizar. A discussão surge quando da análise da cláusula que pretenda afastar a reparação decorrente de inadimplemento por culpa grave do devedor. Contudo, em que pese o ordenamento jurídico brasileiro não sufragar a teoria do grau de culpa, admite-se a utilização excepcional da gradação de culpa em grave, leve e levíssima para determinar a invalidade das cláusulas de não-indenizar nos casos de culpa grave. Assim, apesar destas ressalvas, por motivos de ordem pública, utiliza-se da referência à culpa grave, para equipará-la, em seus efeitos, ao dolo, vedando a possibilidade de isenção ou limitação da obrigação de indenizar quando o dano resulte de culpa grave do devedor. 121 121 Enfim, as controvérsias a respeito das cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar parecem infindáveis. Contudo, neste trabalho, procurou-se demonstrar os pilares em que se sustentam as mencionadas convenções, bem como elucidar os principais critérios utilizados na busca incessante pela demonstração de sua validade quantificação dos riscos financeiros do negócio. 122 122 enquanto ajustes caros a REFERÊNCIAS AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003. ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1972. AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A invalidade das cláusulas limitativas de responsabilidade nos contratos de transporte aéreo. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 26, abr.-jun.1998, p. 9–17. ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. AVELAR, Letícia Marquez de. A Cláusula de Não Indenizar: Uma exceção do direito contratual à regra da responsabilidade civil. Curitiba: Juruá, 2012. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. “Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado. Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento, função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual”. In: Revista dos Tribunais, v.750. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr.1998, pp. 113-120. ______. “Cláusula cruzada de não-indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro”. In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 198-207. _____. Responsabilidade Civil - Assalto em estacionamento de supermercado – Estacionamento gratuito como caso de “relação contratual de fato” – Admissão da prova de não culpa – Estupro tentado fora do estacionamento, seguido de morte – Falta da relação de causalidade adequada. Revista dos Tribunais: São Paulo, n. 735, 1997. BARBOSA DA SILVA, Joaquim Marcelo. “As cláusulas excludentes e limitadoras da responsabilidade contratual. Caso fortuito e força maior”. In: Revista de Direito Privado, v.6. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. 2001, pp. 96-123. BECKER, Anelise. Inadimplemento antecipado do contrato. In. Revista de do Consumidor, n. 12, 1994. BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civilconstitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. ______. “Risco, Solidariedade e Responsabilidade Objetiva”. In: Revista dos Tribunais, vol.854, São Paulo: Revista dos Tribunais, dez. 2006. ______. Deveres Parentais e Responsabilidade Civil. In Revista Brasileira de Direito de Família, v.31, 2005. BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 1ª ed. 3ª tiragem.Saraiva, 2009. CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na Responsabilidade Civil. Estrutura e Função. Rio de Janeiro. Renovar, 2008. CASTELLO BRANCO, Elcir. “Verbete: cláusula de irresponsabilidade”. Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 15. São Paulo: Saraiva, 1978, pp. 61-70. In: 123 123 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. COUTO E SILVA, Clóvis do. A obrigação como Processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. CUNHA GONÇALVES, Luiz da. Tratado de Direito Civil. São Paulo, Max Limonad, vol.I, t. II, 1957. DANTAS, San Tiago, Programa de Direito Civil, v. II: Contratos. Rio de Janeiro: Rio, 1978. DIAS, José de Aguiar. “Verbete: Cláusula de não indenizar”. In: SANTOS, J.M de Carvalho (org.). Repertório enciclopédico do direito brasileiro, v.8. Rio de Janeiro: Borsoi, 1947, pp. 308-393. ____. “Cláusula de não-indenizar”. In: Revista Forense, v. 119. Rio de Janeiro: Forense, set.1948, pp. 5-23. ____. Cláusula de não-indenizar, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. ____. Da responsabilidade civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. DIDIER Jr., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2012, v. 5. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. Artigo 944 do Código Civil: O problema da mitigação do princípio da reparação integral. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, n.63. Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/168750/DLFE29275.pdf/rev630304Ar tigo944CProblemaMitigacaoPrincipioReparacaoIntegral.pdf (Último acesso em: 20/03/2013). GALHANONE, Álvaro Luiz Damásio “A cláusula de não-indenizar”. In: Revista dos Tribunais. Vol. 565. São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 1982. GOMES, Orlando. Obrigações. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. _____. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. (coord.). Comentários ao Código Civil: parte especial, direito das obrigações. v. 11 (arts. 927 a 965). São Paulo: Saraiva, 2003. JUNQUEIRA, Marcelo Calixto. A culpa na Responsabilidade Civil. Estrutura e Função. Rio de Janeiro. Renovar, 2008. KFOURI NETO, Miguel. “Graus de culpa e redução equitativa da indenização”. In:Revista dos Tribunais, vol.839, set. 2005. KONDER, Carlos Nelson. Boa-fé objetiva, violação positiva do contrato e prescrição: Repercussões práticas da contratualização dos deveres anexos no julgamento do REsp 1276311. In: Revista Trimestral de Direito Civil , vol.50. abr/jun 2012. 124 124 LAUTENSCHLEGER JR., Nilson. “Limitação de responsabilidade na prática contratual brasileira: permite-se no Brasil a racionalização dos riscos do negócio empresarial?”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.125.São Paulo: Malheiros, jan/mar. 2002, pp.7-24. MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil. v.V, tomo II. Sálvio de Figueiredo Teixeira (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral, v. I, 44ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012. OLIVEIRA, Cláudia Vieira de. “Cláusula de não-indenizar”. In: Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, vol. 58. São Paulo: Revista dos Tribunais, out/dez. 1991. PEREIRA, Caio Mário da Forense, 1996. ____.Instituições de direito ____.Instituições de direito ____.Instituições de direito ____.Instituições de direito Silva. Responsabilidade Civil. 7ªed. Rio de Janeiro: civil, civil, civil, civil, v.1.25aed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. v.2.23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v.3.14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v.4.21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. PERES, Fábio Henrique. Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. PINTO MONTEIRO, António. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2003. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado deDireito Privado – Parte Geral – Tomo III – Negócios Jurídicos. Representação. Conteúdo. Forma. Prova. 3ª ed. Rio de Janeiro, Borsoi, 1970. PRATA, Ana. Cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade contratual. Coimbra: Almedina, 1985. RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. SAVI, Sérgio. “Inadimplemento das Obrigações, Mora e Perdas e Danos”. In: Obrigações: Estudos na perspectiva civil-constitucional. Gustavo Tepedino (coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2005. SCHREIBER, Anderson, A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e ‘venire contra factum proprium’. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. ______. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 4ª ed.- São Paulo: Atlas, 2012. TEPEDINO, Gustavo. “A Evolução da Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro e suas Controvérsias na Atividade Estatal”. In: Temas de Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 173-197. _____. “Crise de Fontes Normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002” In: A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva CivilConstitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. XXIX-XXX. _____. O Código Civil, os chamados microssistemas e Constituição: premissas para uma reforma legislativa. Disponível em: http://www.tepedino.adv.br/biblioteca (Último acesso em 27/11/2013). _____. BARBOZA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, v.1. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 125 125 _____. BARBOZA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, v.2. Rio de Janeiro: Renovar,2006. TERRA, Aline de Miranda Valverde. Inadimplemento Anterior ao Termo. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 7ªed. São Paulo: Atlas, 2007. _____. Direito Civil – Parte Geral. 3ª ed. São Paulo, Atlas, 2003. 126 126 Doutrina A Família Solidária como Proposta de Mitigação de Vulnerabilidades de Idosos, Pessoas com Deficiência e Famílias Monoparentais Jacqueline Lopes Pereira1 RESUMO: Por meio deste estudo procurar-se-á explanar a razão pela qual a Família Solidária é entidade familiar implícita ao texto constitucional, mediante a exposição das funções da família no direito brasileiro desde a Codificação de 1916 até os dias atuais. O trabalho observa e aponta quais são os princípios que lançam luz sobre essa entidade familiar, cujas características residem na cooperação entre seus membros diante de uma situação de vulnerabilidade em comum, como a enfrentada por idosos, por mães ou pais solteiros e por pessoas com deficiência. Sua união, com o propósito de dividir despesas e, principalmente, viver em ambiente de afeto e companheirismo, resulta na formação de família fundada na solidariedade e na busca da autonomia coexistencial. A partir da doutrina, de precedentes de tribunais e de pesquisas sobre casos concretos, analisam-se algumas situações em que se verifica a Família Solidária e os moldes para sua constituição. Palavras-chave: Direito Cooperação. Autonomia. de Família. Família Solidária. Socioafetividade. ABSTRACT: Through this study, the reason why is the Solidary Family considered an implicit familiar entity will be sought to explain by the exposition of the family functions on the Brazilian Law from the 1916 Codification to nowadays. The study notes and points which are the main principles that shed lights on this family, which characteristics lie on the cooperation between its members in face of a vulnerable situation in common, such as the faced by elderles, single mothers or single fathers and disabled people. Their union, with the proposal of expenses division and the share of life with affection and fellowship, results on the formation of a family based on solidarity and on the looking for coexistencial autonomy. From legal literature, courts precedents and researches on concrect cases, some situations will be analyzed where it is possible to verify the Solidary Family and the ways for its constitution. Keywords: Family Law. Solidary Family. Affection. Cooperation. Autonomy. Sumário:1 INTRODUÇÃO. 2. Família: do individualismo à solidariedade 2.1 família transpessoal: a célula do estado 2.2 a família fusional e a família eudemonista 2.3 a família solidária como família eudemonista 3 princípios norteadores da família solidária 3.1 o princípio da dignidade da pessoa humana 3.2 o princípio da solidariedade 3.3 o princípio da igualdade 3.4 o princípio da liberdade 3.5 o princípio da pluralidade das formas de família 3.6 o princípio da afetividade 4 a família solidária ou “irmandade socioafetiva” 4.1 idosos 4.2 pessoas com deficiência 4.3 famílias monoparentais: “nós, os meus e os seus” 4.4 constituição da família solidária 5. Considerações finais. Referências 1 Primeira colocada no Concurso de Monografias "Aloysio Maria Teixeira" na categoria acadêmico 127 127 1 INTRODUÇÃO O presente estudo visa demonstrar os motivos pelos quais a denominada “Família Solidária” é entidade familiar implícita ao texto constitucional, bem como traçar suas características à luz da principiologia do direito de Família constitucionalizado. Para tanto, vislumbram-se as funções que a família tem no direito brasileiro desde o Código Civil de 1916 – com forte influência do movimento de Codificação existente a partir do século XIX na Europa continental – até os dias atuais, sob a regência da Constituição Federal de 1988. Dos dados retirados de pesquisas sobre a sociedade brasileira, nem toda família emana o ideal de afetividade propagado pelo “eudemonismo”. A situação de vulnerabilidade que idosos, mães e pais solteiros e pessoas com deficiência enfrentam pode ser agravada pelo alto custo de vida nas cidades brasileiras, pelo abandono por seus parentes, pela violência moral e/ou física, dentre outros motivos. A Família Solidária, “Irmandade” ou “Irmanada”, é família eudemonista, já que se contrapõe à realidade de abandono e miséria para buscar a proteção da dignidade da pessoa humana através da cooperação de seus membros. O presente estudo pretende expor – de modo não exaustivo – que os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da igualdade, da liberdade, da pluralidade das formas de família e da afetividade regem a Família Solidária em busca da tutela e desenvolvimento das pessoas que a integram. Ao levar em consideração os critérios apresentados por Paulo Luiz Netto Lôbo da publicidade, ostensibilidade e afetividade, pela análise de casos judiciais e demais pesquisas de dados busca-se a identificação da Família Solidária formada pela união socioafetiva de idosos, famílias monoparentais ou pessoas com deficiência. A busca por casos referentes a esses grupos funda-se nos exemplos propostos pela doutrinadora Ana Carla Harmatiuk Matos ao tratar da referida entidade familiar. A carência de bibliografia aprofundada sobre essa entidade familiar no Brasil é um desafio que instiga a pesquisa sobre o tema e, por outro lado, é um limite considerável no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso de graduação. O que se pretende discorrer na presente monografia é um esboço do que ainda pode ser aprofundado em grupos de estudo em sede de pósgraduação de Direito, por conta da diversidade contida no estudo da Família Solidária e das questões que essa envolve. Uma visão interdisciplinar, que beba das demais Ciências, como Medicina, Psicologia e Sociologia, além da busca por dados de pesquisas, pode ajudar no desenvolvimento de estudos mais amplos. 128 128 2 FAMÍLIA: DO INDIVIDUALISMO À SOLIDARIEDADE 2.1 FAMÍLIA TRANSPESSOAL: A CÉLULA DO ESTADO Em momento inicial deste estudo, é importante desenvolver o tema da noção do que seria, afinal, a família. As tradições jurídicas ocidentais formaram a concepção de família a partir de suas experiências históricas, mas no presente estudo se dará ênfase ao processo evolutivo da denominada Civil Law ou direito europeu continental e sua repercussão no direito brasileiro, especialmente a partir do período em que se desenvolveu o movimento da codificação. Desde logo se ressalta que esse movimento verificado ao longo dos séculos XIX e XX nos países europeus contribuiu para o nascer do Código Civil Brasileiro de 1916 e o recorte temporal a ser feito se limita na amplitude do desenvolvimento das Codificações, conforme se confere nas linhas a seguir. Roger Raupp Rios (2007, p. 109-114) aponta que a partir do Código Napoleônico de 1804 houve menção à família como aquela composta pelo casamento entre homem e mulher. Para esse momento histórico (início do século XIX), a família relacionava-se intimamente com o Estado e havia uma preocupação prevalente sobre aspectos patrimoniais a ela relacionados. Paulo Luiz Netto Lôbo resume o fenômeno da patrimonialização do Direito de Família nas codificações ocidentais: Seria o direito de família o mais pessoal dos direitos civis. As normas de direito das coisas e de direitos das obrigações não seriam subsidiárias do direito de família. Entretanto, os códigos civis, na maioria dos povos ocidentais, desmentem essa recorrente afirmação. Editados sob inspiração do liberalismo individualista, alçaram a propriedade e os interesses patrimoniais a pressuposto nuclear de todos os direitos privados, inclusive o direito de família. (LÔBO, 2011, p. 23, grifos nossos). O homem branco, burguês e chefe de família exercia o poder marital perante os demais membros da família, tal qual o Estado exercia sua soberania perante os cidadãos. Roger Raupp Rios salienta a relação da configuração jurídica da família e o modelo de Estado: Tratava-se de fundar a ordem pública sobre a ordem privada, a ordem social sobre a ordem doméstica, a grande pátria sobre a pequena. Neste contexto, devem ser salientados o reforço drástico do poder marital, a supremacia absoluta da família legítima, a condição jurídica submissa da mulher e a criminalização do adultério feminino. Além disso, a hierarquia familiar repousava em uma disciplina machista do pátrio poder, reforçada por seu controle público. (RIOS, 2007, p. 110, grifos nossos). 129 129 Nota-se que o modelo transpessoal era apresentado por uma perspectiva machista que rechaçava a igualdade entre os membros da unidade familiar. Os interesses que o guiavam divergiam daqueles individuais pertencentes às pessoas que integravam a família. Para essa concepção, o sinônimo para família se limitava ao casamento civil e heterossexual. Tal configuração é observada no Código de Beviláqua e, conforme pondera o professor Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, em terras brasileiras o autoritarismo da figura paterna prevaleceu do mesmo modo que no continente europeu: Esse modelo brasileiro do século XIX (que se reflete na codificação de 1916), apesar de partir de uma formação histórica diversa, não conflita com os caracteres da família nuclear europeia do século XIX, em que o lar, supostamente compreendido como um espaço essencialmente privado, acaba por conhecer uma ampliação da autoridade dos pais sobre os filhos e do marido sobre a esposa. (PIANOVSKI RUZYK, 2011, p. 320). No Brasil, independente em 1822 e República somente em 1889, a “família” dos estratos sociais detentores do poder político e econômico era a patriarcal, fundada no casamento, fortemente influenciada pelo direito canônico, com marcantes desigualdades entre seus membros e voltada a atender interesses do próprio Estado. O Código Civil de 1916 encontrou famílias com muitos filhos, fato este dado em razão, dentre outros fatores, do predomínio da população rural do país e a necessidade de mão de obra para o trabalho agrário. Além do número de membros nas famílias, outra característica do período, como já apontado, era o patriarcalismo. Era ele quem detinha o poder diretivo, controlador e punitivo sobre a vida de esposa e filhos. Família no contexto do Código Civil de 1916 era instituição que só poderia nascer do casamento entre pessoas de sexos diferentes, em que a autoridade marital ou patriarcal era a detentora total de direitos civis. A posição de chefe da família trazia atrelada a si a busca pela concretização dos objetivos perseguidos pelo Estado no pequeno núcleo familiar, os autores Francisco José Ferreira Muniz e José Lamartine Correa de Oliveira enfatizam: A família – tal como o Estado – perseguiria um fim ético superior aos interesses individuais de seus membros. O que caracterizaria este organismo seriam os vínculos de interdependência entre as pessoas e a sua dependência a um fim superior. Trata-se – como se vê – de uma concepção supra-individualista de família. Verifica-se desse modo, que a noção de família como organismo dotado de caráter transpessoal está ligada a uma concepção hierarquizada da família: hierarquizada nas relações entre marido e mulher e nas relações entre pais e filhos. (MUNIZ; OLIVEIRA, 2003, p. 17). Havia rígida divisão de papéis entre os membros da família, o que traz a impressão de um engessamento de modelo familiar. Os estudiosos Ligia Ziggiotti de 130 130 Oliveira e Ábili Lázaro Castro de Lima sintetizam outras características do Código Civil Brasileiro de 1916 que se remete à lógica da família transpessoal: O projeto de Clóvis Beviláqua mantinha as luzes do século XIX. Consagrou o direito à propriedade, elevando-o à categoria de absoluto, e conferiu amplas liberdades para contratar, ainda que às custas da opressão de parte eventualmente mais fraca, a quem restaria honrar com quaisquer compromissos pactuados. Quanto às relações familiares, fez jus ao objetivo de moldar, artificialmente, a moral que deveria defini-las e assim se fez conservador ao fundá-las pelo matrimônio, proibido o divórcio; preferir a segurança dos laços sanguíneos ao acaso dos laços afetivos, na filiação, também legitimada pelo casamento; e declaradamente patriarcal ao encarregar pela direção da família exclusivamente o homem. (LIMA; OLIVEIRA, 2014, p. 59, grifos nossos). Além da hierarquia interior à estrutura familiar, também é percebido o especial status conferido à família fundada no casamento. Esse foi reforçado pela Constituição de 1946 que em seu artigo 163 dispunha que “A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado”. Pontes de Miranda (1974, p.174) assinala que a família a que se fez referência dizia respeito à “instituição social da família, o que vale por diretriz programática da Constituição de 1946”. Prevalecia a noção de que o casamento seria “mais família” do que outras entidades familiares. A experiência transpessoal estava prestes a se alterar principalmente por conta de mudanças sociais que adentraram no Brasil no século XX. No entanto, ressalta-se que o Código Civil de 1916 permaneceu vigente até o início do século XXI 2.2 A FAMÍLIA FUSIONAL E A FAMÍLIA EUDEMONISTA O crescimento demográfico, o processo de migração interna, o aumento de desigualdades sociais e bolsões de pobreza contribuíram para a transformação da família no decorrer do século XX, conforme explica Carbonera (2013, p. 44), “a multiplicidade de costumes, crenças religiosas, orientação sexual, enfim, a diversidade populacional colocou fim, de forma definitiva, na possibilidade de o sistema jurídico manter a tutela a uma única forma de família”. Com as conquistas legislativas, como o divórcio e a cada vez mais propagada ideia de igualdade entre os cônjuges, foi observada a construção da família fusional, explicada pelo autor Roger Raupp Rios (2007, p. 113): “[...] observou-se a instauração de um tipo de relação familiar que privilegiava a satisfação afetiva conjunta dos cônjuges, pelas aspirações de intimidade e reciprocidade no seio familiar – é o advento da ‘família fusional’”. Tal modelo, o da 131 131 família “feliz”, não se preocupava com a felicidade individual de seus membros, mas da felicidade como somente possível com a satisfação conjunta. A função, ou as funções da Família no Direito brasileiro dos dias atuais não são essas propagadas pela família fusional. A Constituição Federal de 1988 reconhece o papel da família como atriz no cenário social e a autonomia do indivíduo participante da entidade familiar desatrelada a interesses transpessoais ou fusionais. Por meio do disposto nos artigos 226 a 230, inseridos no título VIII – “Da Ordem Social”, o constituinte brasileiro garantiu proteção às entidades familiares, admitindo uma ideia plural e democrática de família em detrimento da concepção anterior de família transpessoal e também de uma possível idealização da família. Segundo José Afonso da Silva: A família é afirmada como base da sociedade e tem especial proteção do Estado mediante assistência na pessoa de cada um dos que a integram e criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Não é mais só pelo casamento que se constitui a entidade familiar. Entendese também como tal a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes e, para efeito de proteção do Estado, também, a união estável entre homem e mulher [...]. (SILVA, 2012, p. 852-853, grifos nossos). Com efeito, hoje, por meio da Constituição Federal de 1988, vislumbra-se no Brasil um sistema mais dinâmico que o existente nos primórdios do século XX. O fenômeno da constitucionalização do Direito Civil trouxe uma releitura do direito de Família. Enquanto a ordem jurídica anterior reconhecia e conferia efeitos somente à família “legítima”, o atual sistema jurídico primao pela pluralidade de entidades familiares e a proteção do indivíduo. A constituição da pessoa humana em uma entidade familiar autoevidente que privilegia a coexistência é o que promove uma vida digna e livre. Os professores José Lamartine Correa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz introduziram na doutrina brasileira a família eudemonista, que se adéqua à proposta de desenvolvimento dos membros da família em detrimento de aspectos instrumentais e transpessoais: “A concepção eudemonista da família progride à medida que ela regride ao seu aspecto instrumental. E, precisamente por isso, a família e o casamento passam a existir para o desenvolvimento da pessoa – para a realização dos seus interesses afetivos e existenciais”. (MUNIZ; OLIVEIRA, 2003, p. 13, grifos nossos). Nesse sentido, família não é considerada uma convenção social: é reflexo de dados culturais, históricos e sociais. É estrutura básica social em que a pessoa 132 132 se desenvolve e, por não admitir uma forma pré-determinada, é compatível com a ideia de pluralidade. Apesar disso, não se pode fechar os olhos à realidade brasileira: ainda é no seio das famílias onde residem os maiores índices de abusos e violência no país. Embora o Direito tenha passado por mudanças paradigmáticas, ainda a realidade de muitas mulheres, crianças e idosos é a de abandono e abusos de todas as formas. Essas pessoas vulneráveis são as que mais sofrem com a violência por parte de seus familiares e com o descaso estatal. Essa triste realidade, que se contrapõe à concepção da família democrática e eudemonista, provoca o estudioso do Direito a buscar saídas ou tentativas de mitigação de tais situações. Uma possível solução é admitir como entidades familiares aquelas formadas por pessoas que se tratam como se irmãos fossem em cooperação e socioafetividade. Afinal, o Direito brasileiro dos dias atuais não se coaduna com situações de exclusão, conforme observam os doutores Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk: “A contemporaneidade não mais se compatibiliza com o sistema de direito que, em sua pretensão de completude, exclua relações sociais que não estejam estritamente subsumidas a modelos pré-ordenados” (FACHIN; PIANOVSKI RUZYK, 2006, p. 269). O atendimento de vulneráveis em uma relação humana onde há comunhão de vida, solidariedade e afeto instiga o estudo da ora denominada Família Solidária, que consiste na união de pessoas em situação semelhante de vulnerabilidade para construir e viver em família. Ela é entidade familiar não prevista expressamente no corpo do texto constitucional, mas tão família como as demais, conforme será exposto ao longo do presente trabalho. 2.3 A FAMÍLIA SOLIDÁRIA COMO FAMÍLIA EUDEMONISTA Quando se trata de matéria de direito de família, a vida como ela é se encontra um passo à frente do legislador. A afetividade como elemento caracterizador de entidade familiar aponta a falência do modelo tradicional transpessoal, que muito mais levava em conta o ter do que o ser. Rosana Amaro Girardi Fachin (2001, p. 96) ressalta o caráter patrimonialista do direito de família do Código Civil de 1916, afirmando que “[...] É incontestável a superação do tipo de família codificado, que se constituía como grupo econômico patrimonialista, no qual os indivíduos viviam para o fortalecimento da instituição, não para a sua realização pessoal”. A família eudemonista mostra que a entidade familiar é local onde os mais profundos sentimentos e estruturas pessoais se formam e onde direitos são exercidos, em consonância com a dignidade da pessoa humana e a afetividade. Os 133 133 professores Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk discorrem sobre a relação entre o eudemonismo e a dignidade da pessoa humana como princípios : Trata-se do princípio eudemonista, diretamente derivado do princípio da dignidade da pessoa humana. A ‘felicidade’ coexistencial objetivada pelo princípio eudemonista não é, por óbvio, ‘produzida’ por meio da lei, como a estabilidade artificial imposta pela perspectiva que valorava as funções institucionais da família como superiores às funções pessoais. O objetivo, aqui, ao contrário, é instrumental: prestar assistência para propiciar que os sujeitos, livremente, busquem essa felicidade que, por coexistencial, não ignora o outro. (FACHIN; PIANOVSKI RUZYK, 2011, p. 22-23). Os autores ressaltam que a dignidade da pessoa humana na família é propiciada pela coexistência pautada pela busca da felicidade que supera os desejos individuais. A coexistência com afeto possibilita a convivência em família sem que existam cenários de opressão e imposição da vontade de um em detrimento das vontades dos demais. Considerando os propósitos da família eudemonista, os autores supracitados entendem que “a configuração jurídica da família prescinde de características tradicionais, como a coabitação, a existência de filhos, a prática de relações sexuais, sendo a comunhão do afeto sinônimo de comunhão de vida”. (FACHIN; PIANOVSKI RUZYK, 2006, p. 265). Desse modo, admite-se como entidade familiar a ora estudada, pois a Família Solidária – assim denominada pela professora Ana Carla Harmatiuk Matos – “trata-se daquelas realidades de convívio com esforço mútuo para a manutenção de pessoas que têm em comum a necessidade premente de auxiliar-se” (MATOS, 2008, p. 45). Há fuga das características tradicionais da família, aquelas que preponderavam no conceito de família transpessoal. Esse modelo de família também pode ser denominado de “irmandade socioafetiva”, havendo a possibilidade de até mesmo identificar a “posse de estado de irmãos” entre os que a compõem, sendo irrelevante, portanto, a existência de laços biológicos. A Família Solidária volta-se à proposta democrática de proteção dos vulneráveis e do estímulo à convivência familiar onde pessoas em situação semelhante constroem laços de ajuda mútua, conquistam sua autonomia. O capítulo 4 do presente trabalho abordará alguns casos em que é possível identificar a existência da referida entidade familiar para os grupos de idosos, pessoas com deficiência e famílias monoparentais que contam com a cooperação para minimizar sua situação de vulnerabilidade. 134 134 3 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA FAMÍLIA SOLIDÁRIA Conforme a exposição das páginas anteriores, a ideia que circundava a família para o ordenamento jurídico brasileiro até meados do século XX seguia predominantemente um modelo transpessoal, hierarquizado, patrimonial, heterossexual e patriarcal. O cenário se alterou aos poucos com o nascer de novas concepções de funções da família como local de construção da pessoa em coexistência afetiva. A Família Solidária, como traçado no item 2.3, insere-se no contexto da família eudemonista e, para uma compreensão do que isso significa, propõe-se o estudo de alguns princípios jurídicos que a fundamentam e se aplicam imediata e diretamente. O insigne professor italiano Norberto Bobbio define o que são princípios gerais: Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A palavra princípio leva a engano, tanto que é velha questão entre juristas se os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as outras. [...] Se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, não se vê por que não devam ser normas também eles: se abstraio da espécie animal obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. (BOBBIO, 1995, p. 158-159). Para o autor, princípios são normas que devem nortear a função do legislador e do aplicador do produto legislativo. Elas se voltam à regulação da conduta humana, estruturando e dando coesão ao sistema jurídico de determinada sociedade, sendo, portanto, normas que, como tais, contêm “regras e valores de caráter universal” (PEREIRA, 2013, p. 93). Isso significa dizer que princípios só serão princípios se inexistirem exceções a seus conteúdos. Transferindo a discussão para o cenário específico da sociedade brasileira, é cediço que o sistema de regras positivas não é suficiente para abranger todos os fatos que se referem à proteção da dignidade da pessoa humana e é função do hermeneuta buscar fontes do Direito que alcancem esse objetivo. O professor Rodrigo da Cunha Pereira aponta que princípios jurídicos constróem a fundamentação de decisões judiciais quando insuficientes as normas positivas: A jurisprudência brasileira passou a aplicar diretamente os princípios aos casos concretos, de modo a atribuir ao julgado, de acordo com os parâmetros hermenêuticos e valorativos existentes na sociedade e inscritos na Constituição e com a inevitável interferência da subjetividade na objetividade. É com este rico material que se tornou possível construir o conteúdo normativo dos princípios e, por conseguinte, aplicá-los diretamente às relações interprivadas. (PEREIRA, 2013, p. 38). 135 135 Assim, por serem uma das fontes do Direito, aplicáveis direta e imediatamente às relações interprivadas com o objetivo de alcançar a dignidade da pessoa humana, é necessário discorrer sobre alguns princípios – uns expressos, outros não expressos – que fundamentam o presente objeto de estudo: a Família Solidária. Nas páginas que seguem, serão trazidas algumas questões que permeiam os princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade, liberdade, pluralidade das formas de família e afetividade. Não é pretensão de o presente trabalho monográfico discorrer sobre cada um desses princípios de forma exaustiva. Serão apresentadas algumas das discussões doutrinárias latentes e, principalmente, será lançada luz à sua adequação ao estudo da Família Solidária. 3.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Um dos fundamentos da Constituição da República de 1988 é a dignidade da pessoa humana, prevista no inciso III de seu artigo 1º, dispositivo esse que a prevê nos seguintes termos: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana”. É na filosofia de Immanuel Kant onde se encontra a compreensão sobre o conteúdo da dignidade. No Brasil, o desenvolvimento de uma definição doutrinária do que seria compreendido por “dignidade da pessoa humana” é traçada por Ingo Sarlet, o qual discorre: Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2007, p. 62). Sendo o ser humano um fim em si mesmo, já que a ele é inerente à dignidade, passa-se a pensar a dignidade da pessoa humana no Direito de Família sob a perspectiva da coexistência e cumprimento de deveres que preservam a dignidade de cada um, inclusive dos membros de uma relação em família. Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk ressaltam que: a preservação e a promoção da dignidade da pessoa humana passam, pois, pela disciplina das relações concretas de coexistencialidade. É nessa dimensão que se dá a concretização do princípio da dignidade, que, a seu turno é tarefa do Estado, ‘de todos e de cada um’. O espaço privado é, por 136 136 isso, inequivocamente, lugar fértil e propício à incidência do princípio.” (FACHIN; PIANOVSKI RUZYK, 2011, p. 4-5). Assim, o âmbito da tutela da dignidade da pessoa humana deve repercutir na coexistência combinada com a realização de cada pessoa dentro da relação familiar, sem opressões entre si. A visão do professor Gustavo Tepedino indica a correlação do Direito de Família com o Estado brasileiro e seu compromisso de proteger o ser humano: [...] a dignidade da pessoa humana alcançada pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, a fundamento da República, dá conteúdo à proteção da família atribuída ao Estado pelo artigo 226 do mesmo texto maior: é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas do direito positivo, em particular, aquelas que disciplinam o direito de família, regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo social. (TEPEDINO, 2001, p. 328). No capítulo 2, foram expostas as funções da família em momento inicial das codificações ocidentais até o nascer de sua concepção eudemonista. As funções da família sofreram mudanças em meio a crises e movimentos evolutivos e revolucionários, sociais e culturais para cada vez melhor proteger a pessoa humana, conforme afirma a jurista Rosana Fachin: Os princípios constitucionais, calcados na valorização da pessoa humana, trazem uma nova ordem de valores insculpidos na Constituição e visam à realização integral da pessoa. Essa realização significa a plena dignidade da pessoa humana e, como princípio central, o Direito de Família encontra-o como pedra basilar: amor, afeto e solidariedade conformam e amoldam a família constitucional. Nessa linha, o dever de mútua assistência decorre da solidariedade e compreende um dos pilares daquilo que se pode valorar como princípio da dignidade da pessoa humana. (FACHIN, 2001, p. 81, grifos nossos). Ora, dentro da proteção da pessoa humana, a tutela dos mais vulneráveis demanda maior atenção do Direito. Nesse sentido, a Família Solidária exerce o papel de mitigação da situação de vulnerabilidade que muitas pessoas enfrentam em decorrência de sua idade, condição econômica ou outras, pois ao se unirem para construção da convivência em socioafeitividade, observa-se a consequente proteção da Dignidade da pessoa humana. 3.2 O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE Assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade é um dos fundamentos da Constituição da República Brasileira, previsto no inciso I de seu artigo 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária”. 137 137 A noção de que o indivíduo existe enquanto coexistir amolda-se à solidariedade familiar. A autora Maria Celina Bodin de Moraes expõe algumas compreensões sobre a Solidariedade: Fato social, virtude, vício, pragmatismo e norma jurídica são os diferentes significados do termo. Do ponto de vista jurídico [...] a solidariedade está contida no princípio geral instituído pela Constituição de 1988 para que, através dele se alcance o objetivo da “igual dignidade social.” O princípio constitucional da solidariedade identifica-se, assim, com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados. (MORAES, 2001, p. 8, grifos nossos. Logo, mitigado o individualismo e trazida à superfície a solidariedade como princípio jurídico, tem-se, no Direito de Família, o nascimento de institutos que a concretizam, verbi gratia, os Alimentos para idosos (artigos 11 a 14 do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003) e para crianças (artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Maria Celina Bodin de Moraes entende ser a solidariedade um fato social, já que o ser humano não pode ser concebido como um ser isolado, somente sendo possível enxergá-lo em sociedade. Divide-se Solidariedade como objetiva e como subjetiva. A primeira “decorre da necessidade imprescindível da coexistência”, já “a solidariedade como valor deriva da consciência racional dos interesses em comum, interesses esses que implicam, para cada membro, a obrigação moral de não fazer aos outros o que não deseja que lhe seja feito.” (MORAES, 2001, p. 4). Além das dimensões objetiva e subjetiva da Solidariedade, Paulo Luiz Netto Lôbo a identifica em duas outras dimensões: “a primeira, no âmbito interno das relações familiares, em razão do respeito recíproco e dos deveres de cooperação entre seus membros; a segunda, nas relações do grupo familiar com a comunidade, com as demais pessoas e com o meio ambiente em que vive”. (LÔBO, 2008, p. 10). A ideia de reciprocidade compõe a solidariedade, mas não é bastante, pois também deve ter como fim a igualdade entre os que compõem a relação e as pessoas externas a ela. O princípio da solidariedade promove a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família em proteger não somente a entidade familiar, mas também os que nesta são mais vulneráveis. Paulo Luiz Netto Lôbo complementa: “O macroprincípio da solidariedade perpassa transversalmente os princípios gerais do direito de família, sem o qual não teriam o colorido que os destacam, a saber, o princípio da convivência familiar, o princípio da afetividade, o princípio do melhor interesse da criança. ” (LÔBO, 2008, p. 5). 138 138 Como decorrência desse princípio, é possível identificar a partir da leitura do texto constitucional o dever de proteção do grupo familiar, previsto no artigo 226, a proteção à criança e ao adolescente, em conformidade com o artigo 227 e a proteção de pessoas idosas prevista no artigo 230 da Constituição da República. No âmbito da Família Solidária – cuja nomenclatura apresentada pela autora Ana Carla Harmatiuk Matos (2008, p. 35-48) já indica sua relação com o princípio – os seus membros a formam com o objetivo de cooperação e suprimento de necessidades em conjunto. Nessa entidade familiar, o dever de cuidado derivado da solidariedade entre seus membros é latente, ante a responsabilidade existente um pelo outro, que se concretiza desde a convivência socioafetiva até a divisão de deveres, como o de pagar despesas com serviços de saúde. Observa-se que a Solidariedade aliada ao Afeto constrói o vínculo familiar por permitirem o desenvolvimento afetivo e coexistencial dos que o compõem. 3.3 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE Outro princípio geral do ordenamento jurídico brasileiro que norteia a Família Solidária é o princípio da igualdade. Esse é previsto no preâmbulo, no artigo 5º e em demais dispositivos da Constituição Federal de 1988. O aludido princípio parte do pressuposto de que existem diferenças entre sujeitos e contextos, mas que elas não podem justificar privilégios ou preferências que não sejam consoantes aos preceitos eleitos constitucionalmente. O referido princípio, sob a ótica de Celso Antonio Bandeira de Mello (2010, p. 9-10), deve ser considerado sob um duplo aspecto: o de igualdade na lei e perante a lei. Esta diz respeito à igualdade formal, enquanto aquela à igualdade material. Sobre essa distinção, o professor Rodrigo da Cunha Pereira ensina (2013, p. 169-170) que “O princípio da igualdade e da diferença pressupõe a igualdade formal, isto é, perante a lei, e a igualdade material, que é o direito à equiparação mediante a redução das desigualdades”. Hoje, pela leitura do artigo 226 em conjunto com os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade, é possível interpretar que no Direito de Família contemporâneo, prevalece a existência de igualdade entre os membros das famílias e o tratamento igual entre entidades familiares. O respeito às diferenças existentes uns nos outros se vincula intimamente a tratamento de igualdade material. Essa não implica simplesmente em uma igualdade formal, mas em uma igualdade substancial, que considera as peculiaridades de cada pessoa e de cada entidade familiar, conforme leciona Paulo Luiz Netto Lôbo: 139 139 A igualdade e seus consectários não podem apagar ou desconsiderar as diferenças naturais e culturais que há entre as pessoas e entidades. Homem e mulher são diferentes; pais e filhos são diferentes; criança e adulto ou idoso são diferentes; a família matrimonial, a união estável, a família monoparental e as demais entidades familiares são diferentes. Todavia, as diferenças não podem legitimar tratamento jurídico assimétrico ou desigual, no que concernir com a base comum dos direitos e deveres, ou com o núcleo intangível da dignidade de cada membro da família. (LÔBO, 2011, p. 67). Dessa forma, e pensando na Família Solidária, não se pode exigir para o reconhecimento dessa o mesmo grau de publicidade exigido para comprovação de uma união estável entre homem e mulher, já que aquela situação pode dizer respeito a idosos ou pessoas com deficiência que têm dificuldade de locomoção e, portanto, não têm meios de vir a público com a mesma assiduidade que um casal. A existência de posse de estado de irmãos, em que a verificação do modo que um convivente trata o outro e como esse tratamento é notado, é determinante para constatar a existência de vínculo de parentesco parabiológico. A partir do exposto, conclui-se ser possível haver tratamento desigual entre entidades familiares, desde que observados os interesses protegidos pela Constituição Federal de 1988. 3.4 O PRINCÍPIO DA LIBERDADE O autor Conrado Paulino da Rosa (2013, p. 43) destaca que o princípio da liberdade apresenta duas vertentes quando incidente no estudo do Direito de família: “liberdade da entidade familiar, diante do Estado e da sociedade, e liberdade de cada membro diante dos outros membros e diante da própria entidade familiar”. Quanto à liberdade da entidade familiar diante do Estado, uma questão relevante para o Direito de Família decorre das formas que a família pode apresentar e do interesse do Estado em intervir ou não para protegê-la. A liberdade se insere na escolha dos membros da família em mantê-la e nela conviverem de acordo com os interesses e peculiaridades individuais, desde que no espírito de solidariedade, cooperação e afetividade. Ao público, cabe tutelar, sem interferir ostensivamente na família para que essa continue a ser o espaço de liberdade e desenvolvimento do ser humano. Rodrigo da Cunha Pereira evidencia o que interessa ao Estado na relação familiar: Ao garantir ao indivíduo a liberdade por intermédio do rol de direitos e garantias contidos no art. 5º, bem como de outros princípios, [a Constituição Federal] conferiu-lhe a autonomia e o respeito dentro da família e, por conseguinte, assegurou a sua existência como célula mantenedora de uma sociedade democrática. Isto sim, é que deve interessar ao Estado (PEREIRA, 2013, p. 183). 140 140 Previsão legal que se coaduna com o apresentado pelo doutrinador mencionado é a constante no artigo 1.513 do Código Civil Brasileiro: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família”. Isto é, frize-se, o legislador foi claro em não permitir que o Estado direcione as pessoas a seguirem um modelo de família estanque ou que interfira positivamente na relação familiar decorrente do exercício da Liberdade, desde que essa relação esteja em consonância com os demais princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Além dessa primeira perspectiva, ainda há a liberdade de cada um dos membros da família diante dos demais e diante da própria entidade familiar. De acordo com Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, (2011, p. 322-323) a função da família reside no espaço de “autoconstituição coexistencial”. Como visto no capítulo 2 do presente trabalho, de acordo com o Direito de Família correspondente ao Código Civil Brasileiro de 1916, embora prevalecesse o pensamento liberal, de que tudo o que não estivesse vedado por lei poderia ser realizado pelo indivíduo, persistia o pensamento de que só era família aquela derivada do casamento entre homem e mulher. As demais configurações sociais, como a hoje chamada união estável, mas que à época era denominada de “concubinato puro”, eram entidades familiares de “segunda classe” 1. O inciso II do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ora, a partir de tal previsão constitucional, aliada ao previsto no artigo 1.513 do Código Civil, conclui-se que há a liberdade negativa das pessoas em escolherem o modo que melhor lhes aprouver para viver em família de modo a potencializar a dignidade da pessoa humana em relação de coexistência autoevidente. Como as duas vertentes da Liberdade na família se interligam, é importante frisar que em que pese a liberdade negativa de não restringir a formação de entidades familiares que fujam do rol do artigo 226 da Constituição Federal, há situações que demandam a atuação estatal, especialmente em que haja condição de vulnerabilidade. O Estado, justamente por ter como fundamento a dignidade da pessoa humana, não pode fechar os olhos para abusos e, portanto, deve atuar positiva e pontualmente. Pela Família Solidária, permite-se que pessoas em situação de fragilidade convivam e compartilham a vida para evitar sua institucionalização e reduzir a necessidade de intervenção estatal. 1 Cita-se Carlos Alberto Bittar, que defendeu ser o casamento o único modo de formação de família. BITTAR, C. A. Direito de Família. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 10-11. 141 141 Verifica-se, nesse caso, que a aludida entidade familiar permite o exercício da liberdade substancial, para além da autonomia privada e que garanta um conjunto mínimo de capacidades a serem exercidas pelas pessoas que a compõem. O professor Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, ao realizar o estudo sobre a Liberdade “substantiva”, isto é, a “liberdade como efetividade”, concluiu que quanto mais ampla essa for, tanto mais será o conjunto de capacidades de uma pessoa: “ O conjunto de funcionamentos que uma pessoa consegue realizar compõe seu conjunto capacitório, ou seja, a capacidade de alguém é medida pelos funcionamentos que ela pode realizar efetivamente. Assim, tão maior será a liberdade efetiva de uma pessoa quanto maior for o seu conjunto capacitório” (PIANOVSKI RUZYK, 2011, p. 58). O propósito da Família Solidária é ampliar as capacidades dos que a compõem, permitindo, dessa forma, o exercício de demais liberdades e a manutenção de um mínimo existencial, conforme se verá no decorrer deste trabalho. Assim, ressalta-se que não pode ser entendida como função do Estado apresentar um rol taxativo de formas que as entidades familiares possam assumir. Isso obstaria o reconhecimento de efeitos de formações familiares que fogem da tríade do artigo 226 da Constituição Federal e, por conseguinte, não se atenderia o ideal de Eudemonismo, tampouco a garantia de liberdades substanciais de pessoas consideradas mais vulneráveis. 3.5 O PRINCÍPIO DA PLURALIDADE DAS FORMAS DE FAMÍLIA Tendo em vista os princípios e direitos à igualdade e à liberdade de constituição de entidades familiares em observância à dignidade da pessoa humana, à solidariedade e à igualdade entre os membros da família, impende apresentar a discussão sobre a admissão das pluralidades de formas de família no ordenamento jurídico brasileiro. O reconhecimento de entidades familiares pelo artigo 226 da Constituição Federal de 1988 é objeto de debate doutrinário e jurisprudencial. O dispositivo refere-se expressamente ao casamento, à união estável e à comunidade monoparental. A questão levantada pela doutrina decorre da cogitação sobre a existência ou não de entidades familiares implícitas ao texto constitucional. O doutrinador Rodrigo da Cunha Pereira posiciona-se contrariamente à existência de uma norma de clausura no texto constitucional sobre a família. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) defende que a vida precede a lei e, ao mencionar os estudos do psicanalista Jacques Lacan, enriquece a perspectiva lançada: 142 142 A vida como ela é vem antes da lei jurídica. Jacques Lacan, em 1938, demonstrou em seu texto A família (publicado no Brasil com o nome Complexos familiares) a dissociação entre família como fato da natureza e como um fato cultural, concluindo por essa última vertente. Ela não se constitui apenas de pai, mãe e filho, mas é antes uma estruturação psíquica em que cada um de seus membros ocupa um lugar, uma função, sem estarem necessariamente ligados biologicamente. Desfez-se a ideia de que a família se constituiu unicamente, para fins de reprodução e de legitimidade para o livre exercício da sexualidade. (PEREIRA, 2013, p. 193, grifos nossos). O trecho realçado resume em termos a virada de Copérnico que essa interpretação da Constituição Federal de 1988 promoveu para o Direito de Família brasileiro. Para essa corrente, família não mais se volta à mera função de reprodução e formação de prole: é vista de forma renovada pelo Direito e exige para tantas novas formas de identificação. A discussão não se limita aos manuais doutrinários. Os precedentes 1 dos tribunais superiores brasileiros se pronunciam sobre o assunto e em decisões paradigmáticas trazem delineamento da pluralidade das entidades familiares em casos concretos. Exemplo recente e de grande repercussão é o da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277, que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski fundamenta: Com efeito, a ninguém é dado ignorar – ouso dizer – que estão surgindo, entre nós e em diversos países do mundo, ao lado da tradicional família patriarcal, de base patrimonial e constituída, predominantemente, para os fins de procriação, outras formas de convivência familiar, fundadas no afeto, e nas quais se valoriza, de forma particular, a busca da felicidade, o bem estar, o respeito e o desenvolvimento pessoal de seus integrantes. (STF, 2011, p. 717). O Poder Legislativo não se exime de abordar o tema. No projeto de lei nº 6.583/2013, proposto pelo Deputado Federal Anderson Ferreira (Partido da República- Pernambuco), pretende-se criar o Estatuto da Família. A Câmara dos Deputados colocou em enquete em seu sítio eletrônico 2 a discussão sobre a elasticidade do conceito de família, já que o referido projeto de lei institui o Estatuto da Família e dispõe em seu artigo 2º o que é considera ser família: “Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir 1 2 Ressalta-se que o termo precedente não se confunde com jurisprudência. Esse segundo termo, no entanto, não é empregado de modo acertado, conforme leciona o doutor Luiz Edson Fachin: “Jurisprudência é método. A palavra jurisprudência deve corresponder ao resultado de compreensão dos sentidos sobre determinado campo jurídico, propostos pela doutrina e explicitados nos julgamentos por meio de entendimentos consolidados que, emergindo nos tribunais, se projeta na cultura jurídica no país. [...] Não se pode focar apenas o papel do juiz, pois precedente não se confunde com jurisprudência. O que existe entre nós é um conjunto de precedentes elevados ao patamar de teses, ou colocados, em certos assuntos, no âmbito de um recurso especial repetitivo ou até mesmo de uma eventual súmula, mas isso não tem dado estabilidade e segurança jurídica que se espera de uma verdadeira jurisprudência” (FACHIN, 2014, p. 5). A pesquisa pode ser consultada no seguinte sítio eletrônico: <http://www2.camara.leg.br/agenciaapp/listaEnquete>. 143 143 da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. A enquete apresentada pela Casa Legislativa contava no final do mês de maio de 2014 com 1.074.846 (um milhão, setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis) votos, tendo como título: “Conceito de núcleo familiar no Estatuto da Família” e questionando os participantes da votação da seguinte forma: “Você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família?”. Como o próprio portal informa, embora a pesquisa não seja vinculante, tampouco os dados gerados tenham valor científico, há a proposta de promover a interação com os usuários. Os índices apresentados pela enquete mostram que 62,61% (673.038 votos) dos participantes concordam com o conceito do artigo 2º do referido projeto de lei, 37,02% (397.900 votos) exteriorizaram opinião contrária e 0,37% (3.956 votos) indicaram não ter opinião formada. Denota-se que a pluralidade das entidades familiares desperta no Brasil diferentes opiniões na doutrina, nas decisões judiciais e na própria sociedade. A partir do proposto no artigo 2º do referido projeto de lei, verifica-se que há membros do Poder Legislativo brasileiro de posicionamento conservador, que desconsideram fundamentos e princípios da Constituição da República Brasileira. Isso porque uma lei em tais termos dificulta o reconhecimento de famílias que fogem do “padrão” heterossexual e tradicional, como é o caso da Família Solidária, bem como das famílias recompostas, das famílias simultâneas, das uniões entre pessoas do mesmo sexo, das famílias unipessoais, dentre outras. O reconhecimento dessas entidades familiares não explícitas e a proteção das pessoas que as integram é tarefa de interpretação do julgador, que deve preservar os postulados constitucionais em detrimento de produtos legislativos que possam restringir direitos por conta de parlamentares com pensamento retrógrado. A doutrina de Paulo Lôbo auxilia o trabalho do hermeneuta ao apresentar três critérios para constatação de entidades familiares: a afetividade, a estabilidade e a ostensibilidade. O primeiro, “como fundamento e finalidade da entidade, com desconsideração do móvel econômico”; o segundo como elemento que exclui “relacionamentos casuais, episódicos ou descomprometidos, sem comunhão de vida”; e o último exigindo como “pressuposto uma unidade familiar que se apresente assim publicamente” (LÔBO, 2011, p. 81). Levando em conta tais critérios, conclui-se ser possível a verificação de entidades familiares em contextos plurais. Já que não é possível nomear ou listar no artigo 226 da Constituição Federal todas as possibilidades existentes ou futuras de formação familiar, tais critérios possibilitam identificar entidades familiares. Rodrigo da Cunha Pereira 144 144 expõe que “basta lembrarmos que irmãos vivendo juntos, avós e netos, constituem família e, no entanto, esta forma de família não está ali numerada”. (PEREIRA, 2013, p. 194). A Família Solidária surge da relação entre pessoas que vivem em vínculo socioafetivo, que prescinde da consanguinidade, mas que não pode ser descartado como entidade familiar. 3.6 O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE A fim de possibilitar o reconhecimento de entidades familiares não expressas no texto constitucional, promove-se uma reflexão sobre as questões que circundam a afetividade. Seu reconhecimento como princípio jurídico proporciona a tutela da dignidade da pessoa humana, com consequente realização individual dentro do que se reconhece como família. Primeiramente, sobre a eleição da afetividade como critério de identificação de entidades familiares, relevantes são as observações de José Fernando Simão, as quais servem de base para responder o questionamento de “qual seria o afeto correspondente à existência de uma entidade familiar?”. Simão oportuniza uma visão interdisciplinar entre Direito e Psicanálise, afirmando: [...] afeto, segundo a Psicanálise, decorre da noção de afetar, conviver, criar laços. Afeto não se opõe ao ódio, pois o ódio é uma manifestação do afeto. Afeto se opõe à indiferença. [...] O afeto, para ter importância, exige o alter. Afeto em potência tem nenhum significado. Afeto que interessa ao Direito é aquele que se transforma em relação humana, seja ela relação jurídica ou metajurídica. (SIMÃO, 2014, p. 38, grifos nossos). Admite-se que o afeto é conceito ligado a subjetivismos, mas como negritado no excerto, o afeto que interessa ao Direito é que se transforma em relação humana, jurídica e nisso se inclui a família. A afetividade com o desenvolver dos estudos doutrinários recebeu status de princípio pela doutrina de Paulo Luiz Netto Lôbo, o qual o conceitua com as acertadas palavras: [Afetividade] é o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico. Recebeu grande impulso dos valores consagrados na Constituição de 1988 e resultou da evolução da família brasileira, nas últimas décadas do século XX, refletindose na doutrina jurídica e na jurisprudência dos tribunais. O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da solidariedade (art. 3º, I), e entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente biológica da família. (LÔBO, 2011, 70-71). 145 145 Cumpre anotar que existem outras duas correntes doutrinárias que discutem a aprovação da afetividade como princípio jurídico. Ricardo Calderón didaticamente apresenta as três posições prevalentes: Atualmente é possível distinguir as principais correntes doutrinárias em três: a primeira sustenta expressamente a afetividade como princípio jurídico do direito de família, a segunda reconhece a importância do afeto para a família, mas o restringe à categoria de valor relevante (sem qualificá-lo como princípio); e a terceira repele explicitamente a perspectiva principiológica no trato da afetividade e argumenta, ainda, que o afeto não deve ser objeto do Direito. (CALDERÓN, 2013, p. 289). A primeira corrente que Calderón sintetiza é a defendida por Paulo Lôbo e demais doutrinadores brasileiros, tais como Maria Helena Diniz e José Fernando Simão. A segunda perspectiva, que reconhece a importância do afeto, mas não o admite como princípio é articulada por Eduardo de Oliveira Leite e Arnoldo Wald. Finalmente, a terceira visão é a trazida por Gustavo Tepedino, que afirma “Nos escombros da desconstituição da família inexistem certamente amor e afeto – que, de resto, não se constituem em princípios jurídicos e, por isso mesmo, carecem de força coercitiva” (TEPEDINO, 2005, p. iv). Apesar dos contrapontos, a afetividade, seja como princípio, seja como sentimento humano jurígeno, é indispensável para a noção de família eudemonista. O doutor Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk em sua obra “Institutos fundamentais do direito civil e liberdade (s)” explana: Se é certo que o “ser” da família não encontra no afeto, mesmo contemporaneamente, seu único cimento, a compreensão de que ele é um dos elementos mais relevantes de conformação estrutural das comunidades familiares traz relevantes subsídios para uma nova configuração de um “dever-ser” da família que apreende a relevância da afetividade, de modo coerente com uma “repersonalização” dessas relações. Pode-se entender que essa compreensão diferenciada sobre uma família que não encontra fundamento em si mesma – e com funções vinculadas à sua própria reprodução –, mas, sim, busca seu fundamento na formação de vínculos de afeto – e, nessa medida, abre-se a novas possibilidades funcionais, sendo compreendida, inclusive, como meio no qual as pessoas buscam sua felicidade coexistencial –, constitui o que se costuma denominar de família eudemonista. (PIANOVSKI RUZYK, 2011, p. 326). Para a doutrina filiada a primeira corrente, a afetividade é princípio constitucional implícito, que atinge todas as entidades familiares e suas configurações. A professora Maria Berenice Dias notou que o princípio da afetividade também não é explícito no texto do Código Civil Brasileiro de 2002, o que levou à seguinte observação: O Código Civil também não utiliza a palavra afeto, ainda que, em alguns dispositivos, se possa entrever esse elemento para caracterizar situação merecedora de tutela. Invoca somente o laço de afetividade como elemento indicativo para a definição da guarda do filho quando da separação dos pais 146 146 (CC 1.584 parágrafo único). Ainda que com grande esforço seu consiga visualizar na lei a elevação do afeto a valor jurídico, mister é reconhecer que tímido mostrou-se o legislador. (DIAS, 2007, p. 68). O Direito objetiva a afetividade para mais bem utilizar o termo. Assim como o fenômeno pelo que passou a “Boa-fé” para ser referida como princípio no direito privado (especialmente no direito do consumidor), Paulo Lôbo identifica uma “afetividade objetiva”, que independe da constatação profunda e subjetiva da existência de afeto como sentimento entre os membros da relação familiar. O professor Calderón aprofunda a tese de Lôbo e faz referência a “fatos signo-presuntivos da afetividade” (CALDERÓN, 2013, p. 312-313). Embora afirme não serem estanques os delineamentos desses fatos, o autor demonstra a possibilidade de identificá-los como “signo-presuntivos”. A doutora Ana Carla Harmatiuk Matos apresenta algumas das características objetivamente observáveis da afetividade nas relações familiares: é dentro da família que os sujeitos oferecem e recebem suporte psicológico, fazem companhia uns aos outros nas atividades privadas e sociais; há auxílio econômico mútuo, com o consequente amparo nas adversidades financeiras; ocorre a divisão das atribuições necessárias no atendimento da casa, da alimentação e das demais atividades cotidianas; verifica-se o apoio de um para conceder a possibilidade de desenvolvimento profissional ao outro; há troca de afetividade entre os parceiros e entre eles e os filhos, bem como comum se torna a divisão das tarefas de socialização das crianças. Estes fatores estão presentes nos diversos modelos de entidades familiares. (MATOS, 2011, p. 139). Como será à frente melhor explicitado, no cenário da Família Solidária é possível identificar os ditos fatos signo presuntivos de afetividade objetivamente por meio da divisão de gastos, como despesas hospitalares e de medicamentos, mas também por atos de companheirismo e responsabilidade uns pelos outros. Logo, para o Direito é relevante dar ênfase à dimensão objetiva da afetividade, pois a partir dela surge o desdobramento do cumprimento de deveres familiares. Não deixa de ser relevante sua dimensão subjetiva, pois se refere à essencialidade da proteção da dignidade da pessoa humana em sentir-se em família. Tendo em vista a concepção de família eudemonista, a afetividade pode ser o elo preponderante para a identificação da entidade familiar, pouco importando a existência de laços de sangue ou a verdade registral para o “sentir-se família”. A existência de fatos signo presuntivos de afetividade identifica a incidência do princípio. Na Família Solidária, a existência de afetividade e a aplicação dessa como princípio geral é determinante para a identificação como entidade familiar não explícita no texto constitucional e como família eudemonista. 147 147 4 A FAMÍLIA SOLIDÁRIA OU “IRMANDADE SOCIOAFETIVA” Os capítulos 2 e 3 estruturam o que se propõe realizar nessa etapa. Apresentada a família como conceito sociológico inapreensível aprioristicamente, mas cujas funções dadas pela legislação brasileira desde o Código Civil de 1916 até os dias atuais são discutíveis, bem como expostos os princípios que estruturam a Família Solidária, parte-se para o estudo específico sobre essa entidade familiar, também denominada “Irmandade Socioafetiva”. Deve-se ressaltar que essa família, de acordo com a autora Ana Carla Harmatiuk Matos, tem por propósito a união de pessoas em situação similar de vulnerabilidade que, dessa forma, passam a conviver suprindo necessidades físicas em meio de socioafetividade e coexistência. Conrado Paulino da Rosa (2013, p. 68) observa que a Família Solidária pode ser formada em decorrência do “alto custo da manutenção da moradia nos grandes centros urbanos [...] [o que] tem impulsionado a criação de núcleos familiares que também podem ser chamados de ‘irmandade’”. Tendo por premissas a afetividade, a dignidade e o desenvolvimento da pessoa humana por meio da constituição da família, não se pode atrelar esse fenômeno a formas pré-definidas. O exercício de hermenêutica do texto constitucional deve ser feito de forma sistemática, conciliando a leitura do artigo 226 com os fundamentos (artigo 1º) e objetivos fundamentais (artigo 3º) da República Federativa do Brasil. Logo, concilia-se a existência e a proteção de entidades familiares com os fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa humana e a finalidade de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde o bem de todos é promovido, sem preconceitos e desigualdades que inferiorizem uns aos outros. De mesma forma, a entidade familiar e o modo pelo qual é exteriorizada também não podem representar inferiorização, nem serem fontes de discriminação. Como já abordado no Capítulo 3, a pluralidade das entidades familiares é princípio aplicado diretamente com o propósito de potencializar o tratamento isonômico e, conforme o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, a interpretação do texto constitucional deve ser pautada pela tutela dos vínculos familiares formados pelo afeto: A hermenêutica do texto constitucional e, sobretudo, da aplicação do princípio da pluralidade das formas de família, sem o qual se estaria dando um lugar de indignidade aos sujeitos da relação que se pretende seja família, tornou-se imperioso o tratamento tutelar a todo grupamento que, pelo elo do afeto, apresente-se como família, já que ela não é um fato da natureza, mas da cultura. Por tratamento tutelar entenda-se o reconhecimento pelo Estado que tais grupamentos não são ilegítimos e, portanto, não estarão excluídos do laço social. (PEREIRA, 2013, p. 195, grifos nossos). 148 148 Admite-se, no Direito de Família contemporâneo, a existência de entidades familiares não constituídas pelo vínculo sanguíneo, mas por relações de afeto entre duas ou mais pessoas com o objetivo comum de constituir família e reduzir a condição de vulnerabilidade que todos ou alguns de seus membros se encontram. No âmbito infraconstitucional, há legislações que se coadunam com a visão do Direito de Família dos dias atuais. Um primeiro dispositivo é o artigo 5º, inciso II da Lei nº 11.340/2006, que, apesar de ter como objeto principal a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica, traz noção sobre família, a qual é “compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa” (grifos nossos). A expressão em negrito, em interpretação sistemática, convoca o resgate do disposto no artigo 1.593 do Código Civil Brasileiro, que por sua vez define o que seja o parentesco: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem”. A Família Solidária se adéqua da interpretação desses dispositivos, já que é composta por pessoas que se consideram aparentadas por outra origem, que não a biológica. Nessa entidade familiar, também conhecida por “irmanada” ou “irmandade”, seus membros, apesar de não compartilharem a mesma genética, nem terem sido criados no mesmo núcleo familiar, são unidos por sentimento fraternal da solidariedade e buscar a vida em comunhão, que pode configurar até mesmo a “posse de estado de irmãos”. A doutora Ana Carla Harmatiuk Matos se reporta à Família Solidária nos seguintes termos: [...] Trata-se daquelas realidades de convívio com esforço mútuo para a manutenção de pessoas que têm em comum a necessidade premente de auxiliar-se. Como exemplo mencionam-se as pessoas de terceira idade que, em razão da ausência da possibilidade de seus parentes atendê-los, acabam encontrando em pessoas com as mesmas características um modo de conviver “como se família fossem”. (MATOS, 2008, p. 45). Os exemplos apontados pela autora são os de idosos que convivem dividindo despesas, pessoas com deficiência que adaptam casas, contratam profissionais da saúde e suprem demais necessidades comuns, coabitando em “alto grau de solidariedade mútua”, além de famílias monoparentais, como de mães ou pais sem companheiros, que se unem com outras em mesma situação para convívio solidário que busca suprir necessidades para o desenvolvimento de seus respectivos filhos. Todos esses exemplos são amalgamados pela relação de afeto e cooperação entre seus participantes. Tendo em vista os exemplos propostos, parte-se para a análise de cada uma das possibilidades hipotéticas lançadas para apontar de que modo é verificável a existência da Família Solidária. 149 149 4.1 IDOSOS Antes de analisar propriamente a Família Solidária ou Irmandade constituída por idosos, algumas informações são relevantes para esclarecer o contexto em que surge essa entidade familiar. Um desses dados é o referente ao envelhecimento da população, que é fenômeno mundial e traz preocupações a governos e a entidades internacionais. A Assembleia das Nações Unidas realizou em 2002 a 2ª Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, na Itália, com o objetivo de discutir o assunto e buscar medidas a serem convertidas em políticas públicas que visassem atender os idosos em todo o mundo. No Brasil, a definição legal para idosos está inserida no artigo 2º da Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/1994: “considera-se idoso, para todos os efeitos desta lei, a pessoa maior de 60 anos de idade”. O presente trabalho monográfico tomou por parâmetro conceitual o aludido critério legal, tendo em vista sua objetividade e que é inesgotável a discussão sociológica e psicológica sobre o tema da categorização de pessoas como “idosas”1. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos resultados da Tábua completa de mortalidade (IBGE-b), a expectativa de vida do brasileiro no ano de 2012 alcançava a média de 74,6 anos, sendo que as mulheres teriam a expectativa de viver 78,3 anos, enquanto os homens, 71 anos. A melhoria dos índices de desenvolvimento humano do país influi no envelhecimento da população e, consequentemente, exige do Estado e da sociedade preparação para atender as necessidades desses brasileiros. Uma resposta a esse cenário foi a promulgação do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.481/2003, o qual complementou as previsões da Constituição Federal de 1988 acerca da proteção e direitos dessas pessoas. O artigo 230, caput, do texto constitucional prevê que o amparo aos idosos é dever da família, da sociedade e do Estado: “Art. 230. Família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. O aumento da população idosa, além de trazer impacto à sociedade e aos orçamentos da seguridade social, também reflete em novas formas de famílias. 1 150 A visão do estudioso da área da saúde Renato Veras problematiza a legislada: “São considerados idosos aqueles indivíduos que ultrapassam os 60 anos de idade. No entanto, é difícil caracterizar uma pessoa como idosa utilizando como único critério a idade. Além disso, neste segmento conhecido como terceira idade estão incluídos indivíduos diferenciados entre si, tanto do ponto de vista socioeconômico como demográfico e epidemiológico”. (VERAS, 2004, p. 150). 150 Cada vez mais diferentes gerações convivem em um mesmo lar, dividindo deveres e responsabilidades de uma geração para com a outra. Alguns filhos e netos contratam profissionais “cuidadores de idosos”, ou gerontólogos, para acompanhar a saúde física e mental de seus pais e avós diariamente. Taisa Maria Macena de Lima e Maria de Fátima Freire de Sá (2013, p. 848) afirmam que “a profissionalização do cuidado do idoso em substituição ao cuidado familiar não significa o abandono dos idosos por seus familiares. É, antes, um imperativo da vida moderna”. No entanto, há filhos, netos e demais familiares que não buscam essa solução e, vendo aqueles que outrora administravam a família adentrarem a terceira idade, os internam em asilos ou instituições similares, quando não apenas os condenam à tristeza e ao sofrimento da violência ou do abandono. A convivência familiar e comunitária é direito fundamental preconizado ao idoso no artigo 227 da Constituição Federal e, diante do panorama do Direito de Família Contemporâneo, pode-se pensar em diferentes modelos de família que não somente a formada pelo matrimônio ou por união estável, pois nem sempre esses modelos se aplicam a pessoas idosas. Sob a proposta da Família Solidária, tem-se que idosos, que já vivem juntos há décadas, ou que foram vítimas de abandono e estão sós, podem formar uma entidade familiar. Por mais que seja importante a interação entre gerações, não é fato inédito que pessoas idosas, amigas de longa data, acabem por residir em conjunto no final da vida. Deve-se ter em mente que família é o lugar onde deve haver socioafetividade, solidariedade e comunhão de vida. Família não se resume a laços de sangue, podendo muito bem ser admitida entidade familiar formada por laços de afeto construídos pela convivência. A afetividade pode ser notada, nesses casos com a preocupação da saúde e o cuidado exercido pelos conviventes entre si, o que pode ser exemplificado com a contratação de profissionais de saúde para tratamento domiciliar. Como a Família Solidária é implícita ao texto constitucional, há o desafio de assegurar seu reconhecimento pleno e proteção de seus efeitos. Os seus membros acabam por buscar socorro em mecanismos já reconhecidos para outras entidades familiares, como é o exemplo do ajuizamento de ação declaratória de união estável a fim de assegurar efeitos para os membros da entidade familiar. Para que esse estudo fique mais completo, é imprescindível a análise de dois casos concretos: um primeiro trazido pelo parecer dos professores Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, publicado no 388º volume da Revista Forense e, um segundo, apresentado por um precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O primeiro consistia em um questionamento apresentado pelo patrono de três senhoras que buscavam judicialmente a declaração de vínculo de parentesco 151 151 constituído por socioafetividade. Em 1943 as três senhoras conheceram um senhor, com quem estreitaram vínculo de amizade e o meio social em que viviam reconhecia os quatro como irmãos. Décadas depois, estando os amigos com avançada idade, o idoso faleceu sem deixar descendentes e os únicos parentes consanguíneos localizados eram primos com os quais o de cujus sequer mantinha contato. As conviventes sobreviventes, em meio à ação judicial por meio da qual buscavam o reconhecimento do vínculo de parentesco socioafetivo, formularam o referido parecer, que entendeu pela viabilidade de admissão de vínculo parabiológico a ensejar parentesco, além de identificar no caso a “posse de estado de irmãos”. Já o segundo caso, com dados e deslinde mais detalhados é o do acórdão de 2005 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no que julgou a Apelação Cível nº 7001.206.7096. Um idoso havia ajuizado ação declaratória de união estável com sua cunhada, que falecera em 2002. Os herdeiros da senhora falecida interpuseram recurso de Apelação ao tribunal após sentença de primeiro grau favorável ao autor, alegando que entre os cunhados não havia indícios suficientes que configurassem união estável, mas meramente uma situação de “amizade”. No caso, o cunhado fora casado com a irmã da falecida por mais de cinquenta anos e os três idosos viveram na mesma residência por décadas. No voto do relator, desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, consta que houve produção de prova oral em que o enfermeiro que prestou atendimentos às duas irmãs recebia o pagamento por seus serviços diretamente do marido, demandante da ação declaratória. A esposa do Recorrido faleceu em março de 1994 e até o falecimento da cunhada em maio de 2002, o viúvo e essas continuaram a viver no mesmo lar (TJ-RS, 2005, p. 3-5). Isto é, por oito anos os dois cunhados idosos conviveram, cuidando e amparando um ao outro, constituindo família. De acordo com as provas produzidas ao longo do processo, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou por unanimidade o provimento do Recurso de Apelação interposto pelos herdeiros da cunhada. No entanto, a Corte não entendeu que a entidade familiar formada pelos idosos era como uma união estável propriamente dita, mas como uma relação familiar de companheirismo e comunhão de vida com afeto e solidariedade: “Por todo o exposto, resta incontroverso que H. e N., após a morte de sua esposa, mantiveram a coabitação preexistente, mas com as características necessárias à formação de uma entidade familiar unidos por laços de afeto, solidariedade e companheirismo em etapa já avançada da vida que mantiveram juntos” (TJ-RS, 2005, p. 5, grifos nossos). 152 152 Ora, a partir do elaborado até o momento neste trabalho acadêmico, conclui-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apreciou um caso de Família Solidária formada por pessoas idosas. Partindo-se para a análise dos casos, retomam-se os critérios apresentados por Paulo Luiz Netto Lôbo a fim de identificar a existência de entidade familiar implícita ao artigo 226 da Constituição Federal. A Família Solidária formada por pessoas idosas será identificada e devidamente reconhecida com a estabilidade da relação, isto é, não se deve considerar meramente o lapso temporal pelo qual os membros da família convivem, mas se a relação tem como objetivo se manter indefinidamente. Poderia ser possível provar a estabilidade com a existência de contas bancárias conjuntas, pela contratação pelos idosos dos mesmos profissionais da saúde no endereço em comum. No caso da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, antes mesmo de a esposa do demandante falecer, já havia estabilidade na entidade familiar composta pelos cônjuges e a irmã de um deles. No entanto, com o falecimento do cônjuge virago, perdurou a convivência entre os cunhados, que abriram conta poupança como cotitularidades, dividiram despesas e responsabilidades entre si, sendo mencionado no voto do Relator que em nota fiscal de prestação de serviços de um hospital em 1998, constava como responsável pelo demandante da ação a sua cunhada. Por outro lado, no caso que originou o parecer previamente citado, os idosos conviveram por décadas se tratando no âmbito interno da relação e no meio social como irmãos. A ostensibilidade, ou publicidade, poderá ser verificada pelo conhecimento social de que aquelas pessoas que convivem o fazem “como se família fosse”. Ou seja, amigas de longa data que a vida acabou por agraciar com a convivência na terceira idade podem se tratar como se irmãs fossem no meio social em que vivem. De acordo com o caso concreto trazido pelo Acórdão do Tribunal de Justiça sulriograndense, a existência de fotos dos idosos juntos em eventos sociais (festa de 15 anos) também auxiliou no reconhecimento da publicidade da relação. Já a afetividade é verificada pelo objetivo da proteção mútua da dignidade das pessoas que integram esse meio familiar. Esse critério de Paulo Lôbo pode ser adequadamente aplicado ao se notar que as pessoas que fazem parte da Família Solidária expressam atos de cooperação entre si, em elementos de afetividade objetiva, elucidada por Ricardo Lucas Calderón (capítulo 3, item 3.6). No caso dos sujeitos do segundo caso apresentado, a nota fiscal, já mencionada, além da existência de conta poupança tendo ambos como titulares, são pontos que demonstram o objetivo de cuidado e solidariedade entre si. Assim, feita a análise desses dois casos, resta a conclusão da adequação da relação entre os idosos à Família Solidária, bem como a possibilidade de ser 153 153 reconhecido o vínculo de parentesco parabiológico, se verificados os elementos da “posse de estado”. Nesse caso, o reconhecimento de vínculo parabiológico pode ser determinante para efeitos sucessórios, já que pode acontecer de um grupo de idosos restar em situação de instabilidade ao ver o proprietário da casa em que habitam falecer, sem deixar herdeiros e sem ter feito testamento. A questão dos efeitos da Família Solidária será mais bem tratada no item 4.4 deste Capítulo. Por ora, se propõe delinear a Família Solidária para os casos de pessoas com deficiência e da união de famílias monoparentais. 4.2 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA No concernente às pessoas com deficiência, ao se abordar o tema da formação de entidade familiar formada por elas, deve-se pontuar que a presente monografia tem como foco principal as pessoas com deficiência e civilmente capazes. Um estudo que abranja também as realidades de famílias em que um dos membros seja pessoa com deficiência que a debilite para os atos da vida civil não é objeto do presente trabalho, por ser tema amplo a ser debatido e melhor estudado em outras oportunidades. Algumas considerações sobre as pessoas com deficiência devem ser tecidas, antes de abordar especificamente a “irmandade socioafetiva”. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base nos dados decorrentes do Censo Demográfico realizado em 2010, apresentou a porcentagem de pessoas com deficiência no Brasil. As perguntas formuladas se voltaram para identificar pessoas com deficiência visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. Conforme os dados, 45.606.048 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e seis mil e quarenta e oito) brasileiros declararam estarem com uma dessas deficiências, o que corresponde a 23,9% da população brasileira no período (IBGE-a, 2010, p. 72-73). A pesquisa também demonstrou que 67,7% das pessoas com deficiência no Brasil são idosos, enquanto 24,9% têm idade compreendida entre 15 e 64 anos e os outros 7,5% têm até 14 anos (IBGE-a, 2010, p. 75). Da população residente na região Sul do Brasil, 22,5% são de pessoas com deficiência. Tendo em vista esses números, e com a cautela de considerar que a pesquisa não forneceu uma divisão de pessoas civilmente incapazes ou capazes, conclui-se que quase um quarto da população brasileira é composto por pessoas com deficiência. O modo como essas pessoas se organizam e vivem em família é variado. João B. Cintra Ribas aborda a questão da reação que muitas famílias apresentam diante da deficiência de um de seus membros: Uma família não tem a ideia de que um membro poderá um dia sofrer um acidente que o faça deficiente. A palavra deficiente adquire uma conotação negativa. Deficiente será aquele membro que dará sempre muito trabalho, que viverá encostado às custas da família. Pode ser que o deficiente congênito ou adquirido seja realmente portador de uma limitação ou 154 154 incapacidade grave. Porém, enorme parte dos casos é passível de reabilitação a ponto de se conseguir que, mesmo com graves lesões, uma pessoa deficiente leve uma vida independente e até com contribuições para a família e para a sociedade. (RIBAS, 1994, p. 52-53). Além das questões internas às famílias de pessoas com deficiência, há também questões sociais, temas de discussão em âmbito nacional e internacional. A Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência reconheceu em seu preâmbulo a situação de vulnerabilidade das pessoas com deficiência e a necessidade do tratado para potencializar a tutela da dignidade dessas pessoas. Nota-se a partir do documento que os princípios que o regem voltam-se à promoção da autodeterminação, liberdade, independência e desenvolvimento das pessoas com deficiência. O tratado aponta a importância do trabalho de conscientização das famílias e, em seu artigo 23, dispõe sobre o “Respeito ao lar e a família”, consignando que os Estados deverão assegurar os direitos de livre estabelecimento da família e ao planejamento familiar. Tendo tal documento o status de Emenda à Constituição, deve-se reconhecer a possibilidade de livre formação de família pelas pessoas com deficiência, sendo a Família Solidária uma das formas que pode adotar. O estudioso Romeu Kazumi Sassaki aponta em sua obra três conceitos que denomina “inclusivistas”, são eles os de: autonomia, independência e empowerment. O primeiro “é a condição de domínio no ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a dignidade da pessoa que a exerce. [...]”, o segundo “é a faculdade de decidir sem depender de outras pessoas, tais como: membros da família ou profissionais especializados” e o terceiro é “o processo pelo qual uma pessoa, ou um grupo de pessoas, usa o seu poder pessoal inerente à sua condição [...] para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo assim o controle de sua vida” (SASSAKI, 1997, p. 36-38). Tomando os sentidos propostos por Sassaki, depreende-se que apesar de todos se coadunarem com o princípio da liberdade, não são sinônimos entre si. A autonomia e a independência nessa perspectiva não se confundem, pois uma pessoa com deficiência pode não ter autonomia no ambiente físico em que se encontra, no entanto, ser independente para tomar suas decisões. A Família Solidária permite justamente tanto a autonomia, quanto a independência dessas pessoas. Embora não haja decisões judiciais sobre essa forma que a Família Solidária pode assumir, é possível que pessoas na mesma situação adaptem casas e contratem serviços de home care em mútua cooperação. Os membros da Família Solidária formada por pessoas com deficiência podem trabalhar, codividindo despesas para a manutenção da vida em comum, 155 155 tendo a Seguridade Social papel importante ao pagar auxílio para a renda das pessoas que não conseguem inserir-se no mercado de trabalho. Sobre os papéis da sociedade e do Estado na conquista da autonomia, o professor Sassaki, ao levar em conta os movimentos reivindicatórios nos Estados Unidos em 1972 e no Brasil a partir de 1988, expõe: “O estilo de vida independente é fundamental no processo de inclusão, pois com ele as pessoas portadoras de deficiência terão maior participação de qualidade na sociedade, tanto na condição de beneficiários dos bens e serviços que ela oferece como também na de contribuintes ativos no desenvolvimento social, econômico, cultural e político da nação.” (SASSAKI, 1997, p. 53), Ao observar fatores como os levantados por esses movimentos e, concomitantemente, presenciar o desejo de seus filhos se tornarem independentes, três mães de pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro se uniram para a construção do Instituto “JNG” (João, Nicolas e Gabriella) com a finalidade de prover a pessoas com deficiência intelectual a possibilidade de viver com independência e com o suporte necessário para tanto. O caso do trabalho do Instituto “JNG” 1 não se enquadra perfeitamente ao caso de Família Solidária, mas é indicativo de um passo importante para o estímulo da independência e autonomia dessas pessoas, que podem trabalhar dignamente, prover suas necessidades e viver em núcleos de irmandade socioafetiva. A afetividade, nesse caso, é identificada em seu aspecto objetivo pelo cuidado empenhado entre os conviventes, através da compra de medicamentos, responsabilidade pelo pagamento de serviços de saúde e auxílio na adaptação da residência de acordo com as necessidades dos membros com deficiência. A estabilidade pode ser constatada, do mesmo modo que nas famílias compostas por pessoas idosas, com a existência de contas bancárias conjuntas, pela contratação dos mesmos profissionais da saúde no domicílio em comum e, ainda, pela adaptação da casa de acordo com as necessidades da pessoa, obra que tem a tendência de ser permanente. Por fim, a ostensibilidade é verificada por passeios realizados em conjunto ou presença em diversos eventos sociais. Esse critério não pode ser exigido com rigor, pois muitas vezes a autonomia espacial dessas pessoas pode ser comprometida em razão de suas limitações. O mais importante, no entanto, é o sentimento de “sentir-se em família”, em lar onde a pessoa com deficiência possa livremente se desenvolver e sentir-se digna, em conformidade com os preceitos de autodeterminação e independência, 1 156 O projeto do Instituto pode ser observado no seguinte sítio eletrônico: <http://jngprojetosinclusao.org.br/web/>. 156 previstos na Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade, Liberdade, afetividade e igualdade. A inexistência de vínculos biológicos não pode ser empecilho para o reconhecimento da entidade familiar existente, sendo a socioafetividade e a comunhão de vida os laços que ensejam o reconhecimento da família e de efeitos dela decorrentes. A seguir, interessante observar um terceiro modo de Família Solidária. 4.3 FAMÍLIAS MONOPARENTAIS: “NÓS, OS MEUS E OS SEUS” Outra forma de Família Solidária cogitada é a formada por duas ou mais famílias monoparentais. Essas, quando individualmente consideradas, são entidades familiares explícitas no texto constitucional. No entanto, se duas famílias monoparentais, isto é, dois pais ou duas mães e seus respectivos descendentes, se unem para residir em um só lar, codividir despesas, afeto e vivências em família, vislumbra-se a formação de uma Família Solidária pela aferição de posse de estado de irmãos. O parágrafo 4º do artigo 226 da Constituição Federal dispõe como entidade familiar a “comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. A definição doutrinária decorrente da interpretação do dispositivo é encontrada em diversos autores. Paulo Luiz Netto Lôbo as conceitua e ressalta que nas famílias monoparentais há saliência da relação de poder familiar e estado de filiação: Pode ter causa em ato de vontade ou de desejo pessoal, que é o caso padrão da mãe solteira, ou em variadas situações circunstanciais, a saber, viuvez, separação de fato, divórcio, concubinato, adoção de filho por apenas uma pessoa. Independentemente da causa, os efeitos jurídicos são os mesmos, notadamente quanto ao poder familiar e ao estado de filiação. [...] (LÔBO, 2011, p. 87-89). Desse modo, diversas podem ser as causas de formação de uma família monoparental, podendo decorrer da liberdade de casais se desunirem, pela viuvez, pela adoção unilateral (artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente), pela reprodução humana assistida (Capítulo II, item 2 da Resolução nº 2013/2013 do Conselho Federal de Medicina), dentre outros motivos nem um pouco nobres, como a violência doméstica e a gravidez precoce não planejada. Considerando-se o conceito de família monoparental para a lei e para a doutrina, cogita-se, por exemplo, que amigas, por razões diversas, unam-se com a finalidade de proporcionar melhor desenvolvimento de seus filhos. 157 157 Giorgio Agamben em seu ensaio denominado “Amizade” (2009, p. 92) discorre sobre o sentimento e a comunhão de experiências que dele decorre “Os amigos não condividem algo (um nascimento, uma lei, um lugar, um gosto): eles são com-divididos pela experiência da amizade. A amizade é condivisão que precede toda divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida.” Assim, amigas ou amigos podem ser “com-divididos” pela experiência de relacionar-se em família para a construção de uma vida mais digna. A condição de vulnerabilidade econômica dessas entidades familiares – considerando-se como um dos fatores principais a infeliz diferença salarial existente entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções e que grande parte das famílias monoparentais tem como chefe a figura feminina – se adéqua à proposta da Família Solidária, qual seja, a constituição de entidade familiar por fortes laços de afeto e solidariedade que permitam a vida em comum. Como visto no início do presente capítulo, o custo de vida nos grandes centros urbanos vem crescendo e por vezes há dificuldade de mães solteiras e chefes de família prover o mínimo a seus filhos menores de idade, ou maiores e dependentes econômicos. Uma triste realidade brasileira, constatada principalmente em famílias monoparentais de baixa renda em que a guarda permanece com a mãe, é a desqualificação profissional da genitora, tendo em vista que desde o início da união estável, do casamento ou mesmo de uma gravidez na adolescência, a mulher deixa de estudar para cuidar exclusivamente dos filhos e da casa. Destarte, é possível reconhecer a existência de famílias monoparentais que se unem e se organizam de forma que uma das mães possa trabalhar fora e a outra cuidar dos filhos de ambas, evitando a institucionalização das crianças em centros educacionais precocemente. A professora Ana Carla Harmatiuk Matos vislumbra a hipótese: Ainda se poderiam mencionar as iniciativas de aproximação de famílias monoparentais – geralmente mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas com a guarda de seus filhos –, as quais unem-se, até mesmo coabitando, de tal modo que pelo auxílio mútuo consigam continuar inseridas no mercado de trabalho e atendendo às necessidades das crianças, evitando-se, destarte, a necessidade da precoce institucionalização das crianças (em creches, préescolas, entre outras). (MATOS, 2008, p. 46). A observação da professora de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná sobre a institucionalização de crianças desde muito cedo em instituições de ensino deve ser objeto de atenção. A educação e precoce institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo ocidental pode provocar o sentimento de abandono que estigmatiza a pessoa por toda a sua vida. O papel da família em evitar esse efeito é determinante. 158 158 A mestra em Ciências Sociais Aplicadas Virginia de Souza fez estudo no município de Ponta Grossa acerca das famílias monoparentais e suas vulnerabilidades a partir dos Centros Municipais de Educação Infantil, doravante CMEIS, nos anos de 2007 e 2008. Tais instituições são voltadas ao atendimento de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos provenientes de famílias de baixa renda. Foram coletados dados de 34 (trinta e quatro) chefias de famílias monoparentais que tinham filhos que frequentavam os CMEIS. Da amostra de famílias monoparentais, 88,2% eram chefiadas por mulheres, enquanto somente 11,8% por homens (SOUZA, 2008, p. 62-63). A pesquisadora constatou a existência de redes de apoio e de solidariedade que auxiliam pais e mães chefes de famílias monoparentais. Nessas redes, tias, avós, amigas, padrinhos, madrinhas e até mesmo vizinhos auxiliam os pais e mães na criação dos filhos e na manutenção financeira. Tais redes de solidariedade e de apoio auxiliam a minimizar a situação de vulnerabilidade em que se encontram as pessoas envolvidas. A mestra Virginia de Souza observa uma diferença entre a ajuda buscada pelos homens e pelas mulheres na condição de chefes dessas famílias “tanto o homem numa condição monoparental como a mulher utilizam a rede de apoio e de solidariedade. Porém, os homens utilizam esses serviços (ajuda) nos cuidados com a prole, e a mulher, no cuidado com a prole e na manutenção financeira e da família [...]” (SOUZA, 2008, p.139). Considerando esse cenário, a coabitação de famílias monoparentais para prover o sustento de seus filhos e, em cooperação, educá-los, não foge da realidade brasileira. Para reconhecimento da Família Solidária que se apresenta dessa forma, mais uma vez, remete-se aos critérios de Paulo Lôbo. A afetividade é denotada objetivamente pela união dessas pessoas com a finalidade de, solidariamente, auxiliar umas às outras na criação e educação de seus filhos, sendo o cuidado e atenção às crianças e adolescentes um indicativo de afeto. A presença em reuniões escolares de ambas as mães ou pais, o revezamento em buscar as crianças na escola, dentre outras situações que demonstram a divisão de responsabilidades entre os adultos que antes formavam família monoparental indica fatos signo presuntivos de afetividade, não podendo ser negada a existência de família. A estabilidade pode ser verificada pela coabitação dessas pessoas, pela matrícula das crianças e adolescentes em uma só instituição de ensino, pelo pagamento de contas em nome de um e de outro pai ou mãe. Por fim, a ostensibilidade é critério averiguado pela publicidade da entidade familiar no meio social. Diferentemente dos idosos e pessoas com deficiência, no 159 159 caso de Família Solidária formada por comunidades monoparentais, não há obstáculos na exteriorização da relação familiar. A cultura do “apadrinhamento” é vista com naturalidade no Brasil, que traça laços de afeto público entre as pessoas envolvidas – pai/mãe, padrinho/madrinha, afilhado/afilhada –, sendo mais um indicativo de publicidade da Família Solidária. 4.4 CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA SOLIDÁRIA Após observar alguns modos pelos quais a Família Solidária ou “Irmandade Socioafetiva” pode se manifestar, é chegado o momento de analisar juridicamente de que modo pode ser reconhecida sua constituição. Um modo de ajudar no reconhecimento e proteção de entidades familiares não explícitas no texto constitucional é evidenciar que houve cooperação, convivência, ostensibilidade da relação, afeto e estabilidade na relação dos conviventes. Embora para alguns casos concretos – como o apontado no parecer dos professores Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk – a “posse de estado” seja uma solução para comprovação de que houve na Família Solidária um vínculo socioafetivo que ensejou o parentesco entre os conviventes, é exercício do estudioso do Direito propor outros mecanismos de reconhecimento e consequente tutela de entidades familiares não explícitas no rol do artigo 226 da Constituição Federal. Outros países de tradição jurídica continental buscam soluções para proteger as diferentes formas que relações de convivência familiar podem manifestar. Ressalta-se que não é pretensão do presente trabalho fazer um estudo detalhado de direito comparado, apenas trazer algumas características de legislações de outros países que trazem soluções peculiares no Direito de Família para determinadas questões. A França instituiu a lei de Parceria Civil, denominada “Pacte Civil de Solidarieté1”, representada pela sigla “PaCs” (Anexo I), na última década do século XX. Conforme o artigo 515-1 do Código Civil Francês, “Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune” 2. Sua positivação foi precedida 1 2 160 Em tradução livre: Parceria Civil de Solidariedade. Em tradução livre: Um pacto civil de solidariedade é um contrato celebrado por duas pessoas físicas maiores, de sexos diferentes ou do mesmo sexo, para organizar a vida em comum. 160 por diversos projetos1 com o escopo de regular a vida comum entre duas ou mais pessoas. O pacto civil de solidariedade proíbe sua celebração por pessoas com parentesco em linha direta e colaterais até 3º grau (artigo 515-2) e, ainda, prevê para os que optam em viver em conjunto, o compromisso em darem apoio moral e assistência mútua um ao outro, havendo liberdade de ampliação da ajuda material. Observa-se no caso francês a preocupação com os efeitos patrimoniais da união civil no artigo 515-4, o qual estabelece que os conviventes sejam solidariamente responsáveis perante terceiros pelas dívidas decorrentes das necessidades da vida cotidiana, exceto se tratarem-se de gastos manifestamente excessivos. Além disso, há preocupação no diploma francês de que os conviventes convencionem um regime de bens. Mesmo que a legislação mereça alguns reparos cogitados pela doutrina francesa, há que se admitir que o “PaCS” é um exemplo de inclusão e proteção de entidades familiares que fogem dos padrões tradicionais. Há quem defenda no Brasil a celebração de um pacto civil com o escopo de regular as relações de convivência, como a verificada na Família Solidária. Silvio Neves Baptista (2008, p. 443) entende que o pacto civil de solidariedade pode ser celebrado no Brasil com a classificação de “contrato atípico ou inominado”, embora possa ser muito semelhante ao “contrato de convivência” para união estável. Além do exemplo francês, há ainda a legislação do estado da Catalunha, na Espanha, que amplia as possibilidades de organização de formações sociais equiparadas a família. São raras as fontes doutrinárias brasileiras que trazem aspectos do Código Civil da Catalunha (CCCat), o qual trata das denominadas situações de “convivência de ajuda mútua”. A presente monografia busca apresentar alguns aspectos dessa legislação, a partir da leitura do trabalho das catedráticas de Direito Civil da Universidad Autónoma de Barcelona, Maria Del Carmen Gete-Alonso y Calera, Maria Ysàs Solanes e Judith Solé Resina. Na terceira edição do manual “Derecho de Familia Vigente em Cataluña”, as autoras explicam que em seu país tais relações não são consideradas família em sentido estrito, mas recebem tratamento jurídico incluído no Direito de Família: La relación de convivencia que, como enseguida se estudia, tiene origem voluntario o factual, pese a que no alcanza la condición jurídica de família sí debe considerarse incluída em el âmbito del Derecho de Familia, ya que afecta a la esfera personal de relación de la persona. Ha de nortarse que en lo referente a determinadas medidas y prestaciones sociales, el art. 3 LAF considera situación equiparada a la familia la derivada de estas convivencias 1 Contrat de partenariat civil, de 1990; Contrat d’union civile (CUC), de 1992; Contrat d’union sociale (CUS), de 1997; Contrat d’union civile et sociale (CUCS), de 1997. 161 161 de ayuda mutua1. (CALERA; RESINA; SOLANES, 2013, p. 25-26, grifos nossos). Como se nota, na legislação catalã, essas relações não são consideradas entidades familiares, embora recebam tratamento equiparado. De acordo com o manual de Derecho de família vigente em Cataluña, das autoras supramencionadas, a “convivência de ajuda mútua” é conceituada como: “ Situación en la que se encuentran dos o más personas, mayores de edad, entre las que no existe parentesco en la línea recta que por medio de um contrato o por el transcurso de un período de dos años desarollan su vida en una misma vivienda habitual y comparten con voluntad de permanencia y ayuda recíproca lós gastos comunes o el trabajo domestico”2. (CALERA; RESINA; SOLANES, 2013, p. 26). Como se depreende, assim como a lei francesa, a legislação catalã não permite que parentes em linha reta componham a relação. Aspecto interessante que se nota é a possibilidade dada pela lei de que, na falta de um pacto entre os conviventes, haja comprovação de que transcorreu um período de dois anos de desenvolvimento da vivência em solidariedade. Outra característica relevante é que as partes pactuantes devem ser maiores de idade, além de não poderem ter uma relação familiar concomitante (como um vínculo matrimonial não dissolvido) e, ainda, há delimitação a um número máximo de quatro pessoas para a formação da relação de convivência mútua (conforme artigos 240-2.1 a 240-3 do Código Civil da Catalunha). O modo de constituição da convivência de ajuda mútua na Catalunha não é expresso na lei, mas as doutrinadoras Calera, Solanes e Resina entendem que há lugar para o contrato com escritura pública, assim como pela constituição de forma tácita pelo transcurso de dois anos de convivência, pela imposição legal do artigo 240-3 do Código Civil da Catalunha: “Article 240-3 – Constitució: Les relacions convivencials d’ajuda mútua es podem constituir en escriptura pública, a partir de la qual tenen plena efectivitat, o pel transcurs d’um període de dos anys de convivència.”3 A prova do transcurso desse período pode ser realizada por todos os meios admitidos em direito. No caso de haver um pacto com escritura pública, o conteúdo 1 2 3 162 Em tradução livre: A relação de convivência que, como a seguir se estuda, tem origem voluntária ou factual, embora não alcance a condição jurídica de família deve ser considerada incluída no âmbito do Direito de Família, já que afeta a esfera pessoal da relação do indivíduo. Nota-se que no referente a determinadas medidas e prestações sociais, o art. 3 LAF considera situação equiparada à família a derivada dessas convivências de ajuda mútua. Em tradução livre: Situação na que se encontram duas ou mais pessoas, maiores de idade, entre as quais não existe parentesco na linha reta que por meio de um contrato ou pelo transcurso de um período de dois anos desenvolvem sua vida em uma mesma vivência habitual e compartem com vontade de permanência e ajuda recíproca os gastos comuns ou o trabalho doméstico. Em tradução livre: Constituição - As relações de convivência de ajuda mútua podem se constituir em escritura pública, a partir da qual têm plena efetividade, ou pelo transcurso de um período de dois anos de convivência. 162 poderá versar sobre a convivência habitual, o que se tem para compartilhar, com vontade de permanência e ajuda mútua, especialmente no que diz respeito a gastos comuns ou trabalho doméstico, ou ambos os temas. O manual de Direito de Família da Catalunha consultado apontou que a forma de contribuição dos conviventes pode ser em dinheiro ou através da ajuda no trabalho doméstico. Por fim, no que se refere às características da “convivência de ajuda mútua”, são apontados os efeitos da extinção da relação, que decorre por mútuo acordo dos conviventes, denúncia unilateral ou pela morte de um dos membros. Feitas as considerações sobre o pacto civil de solidariedade francês e sobre a relação de convivência mútua catalã, retorna-se à Família Solidária ou “Irmandade Socioafetiva” brasileira. Em uma perspectiva de mitigar a vulnerabilidade de famílias monoparentais, idosos e deficientes e tendo em vista o alto custo de vida nas cidades brasileiras, surgem relações de cooperação e solidariedade entre sujeitos que por si têm grande afeto. Embora não haja legislação semelhante no Brasil, a ideia central da Parceria Civil de Solidariedade e da Convivência de Ajuda Mútua propostas pelas leis francesa e catalã, respectivamente, podem lançar luz às entidades familiares implícitas ao texto constitucional. O doutor Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, como já mencionado no capítulo 3, item “3.4”, entende que a expressão jurídica da família tem como função “o exercício, a proteção e a promoção de liberdade (s)” (PIANOVSKI RUZYK, 2011, p. 333). O eudemonismo constitucional tem como finalidade proteger juridicamente cada pessoa que compõe a família, não sendo relevante saber qual o modelo em que se insere ou de que forma há a constituição da entidade familiar, mas sim quais são as liberdades vividas por essas pessoas: A liberdade na família, seja ela qual for, quando exercida, não se reduz a uma expressão pontual de autonomia privada que se constitui em um dado momento genésico a que se pode, no caso do casamento, denominar de negócio jurídico. Essa liberdade é mais ampla: é a liberdade que se vive, na qual se constroem compromissos recíprocos que não cabem normalmente em um contrato ou em um pacto, mas que constituem no comportamento que forja a vida comum. Exercer a liberdade com caráter normativo não é só contratar: é também viver a liberdade (positiva) em relação, e dela poder extrair posições juridicamente sustentáveis e oponíveis. (PIANOVSKI RUZYK, 2011, 334-335). Como já ressaltado, no caso da Família Solidária, está-se diante não do mero exercício da autonomia privada, mas do exercício de uma liberdade substantiva, ou efetiva, que, considerando a realidade da sociedade brasileira – de seus idosos, famílias monoparentais e pessoas com deficiência – garante um mínimo, patrimonial e existencial, que garanta o próprio exercício de demais 163 163 liberdades. O exemplo do convívio de pessoas com deficiência em Família Solidária retrata com maior evidência o exercício das liberdades mais básicas pelos membros que convivem em autonomia coexistencial. É possível que haja futuramente uma maior influência das ideias provenientes das legislações estrangeiras na brasileira. O que se ressalta é que a formação familiar no Brasil se dá de modo mais informal e espontâneo, o que pode obstar a tutela de seus efeitos, por conta da dificuldade em provar a existência da entidade familiar quando finda. Poder-se-ia mitigar a função constitutiva da entidade familiar pelo pacto civil –tal como é na lei francesa – e trabalhar com uma noção mais semelhante ao já existente pacto de união estável. Assim, considerando que a constituição da Família Solidária se dá de modo informal e, visando a manutenção de seus efeitos, é possível cogitar a celebração de pactos civis para meramente organizar alguns aspectos do convívio. O tema da constituição da Família Solidária é amplo e carece de discussão doutrinária, assim como o tema dos efeitos decorrentes de sua dissolução. O tema ainda carece de estudo aprofundado e de análise de casos concretos, especialmente dos que surjam de precedentes de tribunais brasileiros. Embora haja legislações estrangeiras que já admitam a existência de entidades familiares ou relações de convivência equiparadas a entidades familiares, nota-se que, no Brasil, o assunto sequer é discutido com amplitude na doutrina, o que obsta trazer demais efeitos decorrentes da dissolução da ora denominada Família Solidária. CONSIDERAÇÕES FINAIS A pluralidade das entidades familiares permite que famílias não explícitas no texto da Constituição Federal de 1988 sejam reconhecidas e tuteladas. A Família Solidária aparece como família que foge da tríade do artigo 226 da Constituição Federal e tem como finalidade a redução dos níveis de vulnerabilidade que alguns grupos de pessoas enfrentam. Como família eudemonista, tem o objetivo de proteger a Dignidade da Pessoa Humana e seu desenvolvimento em espaço de coexistência com respeito e solidariedade. Os princípios de direito que lançam luz sobre a Família Solidária são o da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da igualdade, da liberdade, da pluralidade das formas de família e da afetividade. Verifica-se da análise do precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Capítulo 4, item 4.1, que a Família Solidária pode existir pela união de pessoas idosas que convivem para fazer companhia um ao outro, nutrindo 164 164 sentimento mútuo de afeto e responsabilidade, sem querer significar uma união estável ou como se cônjuges fossem, mas sim como “irmãos de vida”. Ainda, diante do parecer dos professores Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, é relevante a possibilidade de reconhecer o vínculo socioafetivo existente entre os conviventes como ensejador de vínculo de parentesco “parabiológico”, após verificados os elementos do “tratactus” e “fama” ou “reputatio” e em conformidade com a interpretação decorrente do artigo 1.593 do Código Civil Brasileiro. No caso de pessoas com deficiência, não se localizou precedente apreciado pelo Poder Judiciário, no entanto, projetos como o do Instituto JNG – “João, Nicolas e Gabriela” – apontam a busca por autonomia e independência dessas pessoas cujas liberdades mais básicas, como de locomover-se com autonomia ou ter acesso a locais públicos de modo facilitado, são obstadas por sua condição física ou intelectual, agravada pelo descaso do poder público e de particulares, inclusive familiares. As redes de solidariedade, estudadas pela mestra em Ciências Sociais Virginia Souza, demonstram que, ao menos na amostra do município paranaense de Ponta Grossa, famílias monoparentais de baixa renda se unem para divisão de despesas e tarefas domésticas em prol da educação de seus filhos, ante o alto custo de vida urbano. Em todos os casos, o que há em comum é a amizade e afeto nutrido entre essas pessoas que verdadeiramente manifestam sentimento fraternal entre si. Essa relação, que transcende o texto legal, pode ser mais bem tutelada pela celebração de pactos civis de solidariedade que, como visto a partir das experiências da França e da região espanhola da Catalunha, permitem que pessoas sem laços consanguíneos formem entidade familiar. Diante desse cenário, verifica-se que a Família Solidária tem o condão de ampliar a liberdade substantiva, ou liberdade como efetividade, de pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem nessa relação familiar. O presente estudo de modo algum pretendeu esgotar a temática da Família Solidária. Embora essas sejam as conclusões finais desta monografia, apresentam introdução a uma entidade familiar pouco estudada no Brasil, mas que se coaduna com a realidade de muitos brasileiros (como destacado no trabalho, não é inédita a verificação de pessoas idosas sem vínculos de parentesco coabitarem, cuidando um do outro e alimentando sentimento de fraternidade até o final da vida, ou de mães ou pais solteiros que vivem com demais em mesma situação para prover o desenvolvimento dos filhos com dignidade e conforto). Há necessidade de pesquisa aprofundada sobre essa e demais entidades familiares implícitas – o que não é sinônimo de inexistentes – na academia e doutrina brasileiras. Estudos interdisciplinares e de direito comparado podem 165 165 futuramente permitir o aprofundamento do assunto, propor soluções de reconhecimento e proteção a essas entidades familiares e, principalmente, às pessoas que por meio delas coexistem em socioafetividade. 166 166 REFERÊNCIAS AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Editora Argos, 2009. BAPTISTA, Silvio N. Contratos no Direito de Família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e Solidariedade: Teoria e Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 429-445. BITTAR, C. A. Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 10-11. BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. BRASIL. Câmara Notícias, Enquetes Ativas. Conceito de Núcleo familiar no Estatuto da Família. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/agenciaapp/listaEnquete>. Acesso em: 30/05/2014. ________. IBGE-a. Censo demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Disponível em: < ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Reli giao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 22 de junho de 2014. ________. IBGE-b Tábua completa de mortalidade. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2012/>. Acesso em: 20/06/2014. ________. Senado Federal. Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=104257&tp=1>. Acesso em: 20/07/2014. ________. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.277, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, Brasília, DF, julgado em 05 mai. 2011, publicado em 14 out. 2011. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 11/05/2014. ________. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.° 70012067096. Apelante: Paulo S. O. Apelados: N. M. S. e outros. Sétima Câmara Cível. Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, Porto Alegre, RS, julgado em 27 de julho 2005, publicado em 04 de agosto de 2005. Disponível em: < http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=Uni%E3o+est%E1vel+mitigada&tb=jurisnova&par tialfields=tribunal%3ATribunal%2520de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520 RS.%28TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%7CTipoDecisao%3Amo nocr%25C3%25A1tica%7CTipoDecisao%3Anull%29&requiredfields=&as_q=>. Acesso em: 20/06/2014. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. CALERA, M. C.G-A y; SOLANES, M. Y.; RESINA, J. S. Derecho de Familia vigente en Cataluña. 3. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 167 167 CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: MENEZES, Joyceane Bezerra; MATOS, Ana Carla Harmatiuk (Org.). Direito das famílias: por juristas brasileiras. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 33-66. DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. FACHIN, Luiz Edson. Um país sem jurisprudência. Revista IBDFAM, n. 11, mai. 2014. p. 5-7. Entrevista. FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. A dignidade da pessoa humana no direito contemporâneo: uma contribuição à crítica da raiz dogmática do neopostivismo constitucionalista. Ânima Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet, Curitiba, 5. ed. v. 5. Seção I. jan-jun/2011. Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima5-Conselheiros/Luiz-Edson-Fachin.pdf>. Acesso em: 09/07/2014. ________. Parentesco parabiológico. Fraternidade Socioafetiva. Possibilidade Jurídica. Efeitos que podem ensejar. In: Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 388, ano 102, nv-dez- 2006. p. 260-273. FACHIN, Rosana Amara Girardi. Em busca da família do novo milênio: uma reflexão crítica sobre as origens históricas e as perspectivas do direito de família brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. INSTITUTO JNG. Ações de Inclusão. Disponível em: <http://jngprojetosinclusao.org.br/web/>. Acesso em: 21/07/2014. LIMA, Abili Lázaro Castro de; OLIVEIRA, Ligia Ziggiotti de. Uma análise pósmoderna das relações familiares no direito civil brasileiro. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 23, 2014, Florianópolis. Artigo... p. 54-72. Disponível em: < http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=86877d253ef37907 >. Acesso em: 11/07/2014. LIMA, Taisa Maria Macena; SÁ, Maria de Fátima Freire de. A família no amparo da pessoa idosa. In: MATOS, Ana Carla Harmatiuk; MENEZES, Joyceane Bezerra (Org.). Direito das famílias: por juristas brasileiras. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 839-850. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Conferência Magna: Princípio da Solidariedade Familiar. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e Solidariedade: Teoria e Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 1-17. ________. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. MATOS, Ana Carla Harmatiuk. “Novas” Entidades Familiares e seus Efeitos Jurídicos. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e Solidariedade: Teoria e Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 35-48. ________. Perspectiva Civil Constitucional. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Tomo VII. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. 168 168 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da Solidariedade. Instituto de Direito Civil, 2001. Disponível em: <http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf>. Acesso em: 16/06/2014. MUNIZ, Francisco José Ferreira; OLIVEIRA, José Lamartine Côrrea de. Curso de direito de família. 4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2003. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Institutos fundamentais do direito Civil e Liberdades: Repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família. Rio de Janeiro: Editora GZ, 2011. RIBAS, João B. Cintra. O que são pessoas deficientes. 6. ed. São Paulo: editora Brasiliense, 1994. RIOS, Roger Raupp. Uniões Homossexuais: adaptar-se ao direito de família ou transformá-lo? Por uma nova modalidade de comunidade familiar. In: GROSSI, Miriam; UZIEL, Anna Paula; MELLO, Luiz. Conjugalidades, parentalidades e identidades lésbicas, gays e travestis. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. p. 109129. ROSA, Conrado Paulino da. iFamily: Um novo conceito de família? São Paulo: Saraiva, 2013. SARLET, Ingo W. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 2. ed. Rio de Janeiro: WVA, 1997. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. SIMÃO, José Fernando. Afetividade e responsabilidade. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, ed. 01, jan/fev- 2014. p. 35-53. SOUZA, Virginia. Famílias Monoparentais e vulnerabilidades: uma abordagem a partir dos Centros Municipais de Educação Infantil de Ponta Grossa – PR – 2007/2008. Ponta Grossa, PR: UEPG. Originalmente apresentada como dissertação de Mestrado. Disponível em: < http://bicentede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=252 >. Acesso em: 25/06/2014. SZYMANSKI, Heloisa. Viver em família como experiência de cuidado mútuo: desafios de um mundo em mudança. In: Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, ano XXIII, n. 71, setembro-2002. p. 09-25. TEPEDINO, Gustavo. Bases Teóricas Para o Novo Direito de Família. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, Padma, v. 23, jul./set. 2005. ________. Temas de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. VERAS, Renato. Novos desafios contemporâneos no cuidado ao idoso em decorrência da mudança do perfil demográfico da população brasileira. In: LEMOS, Maria Teresa Brittes; 169 169 ZAGAGLIA, Rosângela Alcântara (Org.). A arte de envelhecer: saúde, trabalho, afetividade, Estatuto do Idoso. 2. ed. Aparecida: Editora Ideias e Letras, 2004, p. 148-174. 170 170 Doutrina O Dano Moral no Casamento por Infração Grave aos Deveres Conjugais Fabia Larissa Almeida Cerqueira1 RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo examinar a possibilidade da aplicação do instituto do dano moral no casamento por infração grave aos deveres conjugais de fidelidade recíproca; vida em comum, no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; respeito e considerações mútuos previstos no artigo 1566 do Código Civil brasileiro. Inicialmente, apresenta algumas noções acerca do direito de família. Traça uma análise sobre o instituto do casamento e sobre os deveres impostos aos cônjuges. Faz-se, também, uma breve apreciação das regras da responsabilidade civil, apresentando as espécies e seus pressupostos e inclina-se ao estudo do dano moral, apresentando um panorama sobre a sua admissibilidade nas relações familiares. Após, põe-se a um exame acerca da aplicação do instituto do dano moral nas relações conjugais, buscando identificar hipóteses de infração grave em que seria cabível a indenização. Em casos específicos, a pesquisa concluiu pela possibilidade de tal aplicação, desde que verificada a infração grave, no caso concreto. Palavras-Chave: CASAMENTO. DANO MORAL. DEVERES CONJUGAIS. INFRAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABSTRACT: This is study aims to examine the possibility of applying the institute for moral damages in marriage by severe infringement of conjugal duties of fidelity mutual; common life, on marital domicile; mutual assistance; support, custody and education of children; mutual respect and consideration provided for in article 1566 of the Brasilian Civil Code. Initially, presents some notions of family law, provides an analysis on the institution of marriage and the duties imposed on spouses. It also makes a brief assessment of liability rules, with the species and its presuppositions and leans to the study of moral damages presenting an overview about admissibility in family relationships. After goes down to an examination on the implementation of the institute of moral damages in marital relations, seeking to identify the chances of a serious offense to the conjugal duties that would be applicable to indemnification. In specific cases, the research concluded that the possibility of such application, provide that verified serious infraction in this case. Keywords: MARRIAGE. MATERIAL DAMAGE. CONJUGAL DUTIES. VIOLATION. FAMILY LAW. CIVIL RESPONSIBILITY. SUMÁRIO: 1.INTRODUÇÃO 2. NOÇÕES ACERCA DO DIREITO DE FAMÍLIA 2.1 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 2.1.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 2.1.2 Os Princípios da Liberdade e da Igualdade 2.1.3 Princípios da Afetividade e Facilitação da Dissolução do Casamento 2.1.3.1 O Princípio da AfetividadE 2.1.3.2 Princípio da Facilitação da Dissolução do Casamento 2.2 O 1 Segundo colocado no concurso de monografias "Aloysio Maria Teixeira" na categoria acadêmico 171 171 INSTITUTO DO CASAMENTO 2.2.1 Noções Conceituais 2.2.2 Natureza Jurídica 2.2.3 Finalidade 2.3 DEVERES CONJUGAIS 2.3.1 Dever de Fidelidade 2.3.2 Dever de Vida em Comum, no Domicílio Conjugal 2.3.3 Dever de Mútua Assistência 2.3.4 Dever de Sustento, Guarda e Educação dos Filhos 2.3.5 Dever de Respeito e Considerações Mútuos 2.3.6 Deveres Implícitos 3. O INSTITUTO DO DANO MORAL 3.1 Definição 3.2 Configuração do Dano Moral Indenizável 3.3 Consolidação da Reparabilidade do Dano Moral no Direito Brasileiro 3.4 Natureza Jurídica da Reparação 4. DO CABIMENTO DO DANO MORAL POR INFRAÇÃO GRAVE AOS DEVERES CONJUGAIS 4.1 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE FIDELIDADE 4.2 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE VIDA EM COMUM, NO DOMICÍLIO CONJUGAL 4.3 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA 4.4 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS 4.5 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE RESPEITO E CONSIDERAÇÃO MÚTUOS 4.6 DA INFRAÇÃO AOS DEVERES IMPLÍCITOS 4.7 AS SEVÍCIAS 4.8 A PRESCINDIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO PARA O CABIMENTO DA REPARAÇÃO 4.9 A NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO PELA SIMPLES EXTINÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. 5 CONCLUSÃO 6. REFERÊNCIAS 172 172 1.INTRODUÇÃO Afirmou Aristóteles que “as primeiras uniões entre pessoas, oriundas de uma necessidade natural, são aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da mulher e do homem”. Sabe-se que sendo oriunda de uma necessidade natural, essa primeira união entre as pessoas possui extrema relevância e é inerente ao ser humano enquanto ser social por natureza. Assim, devido a essa importância tanto para a sociedade quanto para os sujeitos que ‘compõem tais vínculos, o Estado sempre buscou regulá-la detalhadamente. A relação conjugal é constituída pelo afeto, marcada por sentimentos e expectativas das mais variadas, contudo é também uma relação jurídica da qual decorre direitos e deveres. Diante dessa importância e da singularidade da relação conjugal, o Direito cuidou de estabelecer na lei, vários de seus aspectos, desde sua possibilidade, constituição, formas, espécies, impedimentos, efeitos patrimoniais e, como não poderia deixar de ser, impôs deveres a ambos os cônjuges. Há, portanto, que se atentar ao regular cumprimento destes deveres. O casamento, a rigor, deverá observar os deveres de fidelidade recíproca; vida em comum, no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; respeito e considerações mútuos estabelecidos no artigo 1566 do Código Civil brasileiro. De modo que a infração grave a estes deveres também deve ser regulada pelo Direito, principalmente quando causar danos a um dos cônjuges. Esta é a proposta do presente trabalho, a de buscar a aplicação do Instituto do dano moral no casamento de forma a responsabilizar o cônjuge infrator pelos danos morais ocasionados ao cônjuge lesado quando decorrentes de infração grave aos deveres do artigo 1566 do Código Civil. Utilizando-se, para tal, das regras da responsabilidade civil. No intuito de desenvolver tal linha de pensamento, parte-se do pressuposto de que o direito de família e a responsabilidade civil possuem suas bases arraigadas na Constituição, a qual determina os fundamentos e princípios orientadores das relações sociais. Dentre tais preceitos encontram-se a valorização do ser humano enquanto ser dotado de dignidade, preceito, este, que contribuiu para a consolidação do instituto do dano moral. Diante disso, busca-se fazer uma análise do direito de família, destrinchando sua importância para a sociedade e discorrendo sobre os princípios constitucionais aplicáveis a este ramo do direito civil. Aborda-se acerca do instituto do casamento e, especificadamente, sobre os deveres impostos aos cônjuges quando da sua constituição. É necessário um estudo para compreender em quais situações, diante da infração grave aos deveres conjugais, será aplicável o instituto do dano moral. O presente tema, O dano moral no casamento por infração grave aos deveres 173 173 conjugais, consiste em relevante pesquisa, cuja fundamentação se assenta nos parâmetros da doutrina especializada nos ramos envolvidos, bem como nas previsões legislativas que integram ordenamento jurídico pátrio. Importante ressalvar, de logo, que não se trata de uma tentativa de monetarização das relações conjugais, e sim de uma compensação ao cônjuge que suportou um dano moral provocado pelo outro, bem como de gerar a responsabilização do cônjuge infrator. O método utilizado foi o dialético, envolvendo análise de textos e obras correlatas bem como estudo jurisprudencial, legislativo e o meio eletrônico, via internet, que auxiliou o trabalho de pesquisa, para alcançar os objetivos pretendidos. A tentativa é de demonstrar que na relação conjugal, em certas situações, diante do caso concreto, é amplamente possível e pertinente a condenação em danos morais. Pretende-se apontar quando há uma infração grave aos deveres conjugais para demonstrar que, quando identificado, in concreto, que esta infração gerou danos morais a um dos cônjuges, será possível a condenação em danos morais, com vistas a reparar o dano suportado, responsabilizar o infrator e, por consequência, estimular a observância e cumprimento dos deveres conjugais. 2 NOÇÕES ACERCA DO DIREITO DE FAMÍLIA O direito de família é o ramo do direito civil mais diretamente voltado para o próprio ser humano. Ele trata da primeira e principal forma de relação social, pois cada pessoa existe, inicialmente, em um ambiente familiar, sendo ali constituído o primeiro agrupamento humano. Só após existir em uma família, seja ela consangüínea ou afetiva, é que a pessoa se projeta na sociedade, criando outras relações. Dentre essas surge a relação conjugal que enseja uma nova família através do casamento ou da união estável. O casamento é uma das formas predominantes de constituição da família, merece total proteção jurídica e nesse sentido, o direito cuidou de instituir deveres conjugais a serem observados pelos cônjuges. Embora se trate de vínculo afetivo, é indispensável à observância desses deveres que devem ser entendidos não apenas como uma imposição legal, e sim como a forma mais adequada de convivência harmônica, de respeito aos direitos do outro e de manutenção do afeto. A violação grave a esses deveres conjugais, que acarrete dano a um dos indivíduos integrantes da relação conjugal, nos remete à hipótese de responsabilidade civil ainda que no âmbito do direito de família. Contudo, antes de adentrarmos na questão acerca da possibilidade desta inter-relação entre, 174 174 especificadamente, o instituto do dano moral e o casamento, faz-se necessário um estudo mais aprofundado acerca do direito de família e do casamento. A família constitui o próprio meio de formação do individuo, pois que instrumento de formação da sua personalidade, e desse modo, a base da sociedade. É o que, de forma expressa, prevê o artigo 226 da Constituição Federal, ao considerar a família a estrutura básica social, in verbis: “Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” 1 Nesse mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem (XVI-3) traz a seguinte previsão: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.” 2 No dizer de Tânia da Silva Pereira: “A família é o primeiro agente socializador do ser humano”3. E Giselda Hironaka sustenta não importa a posição que o indivíduo ocupa na família, ou qual a espécie de agrupamento familiar a que ele pertence – o que importa é pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado lugar onde é possível integrar sentimentos, valores e se sentir, por isso, a caminho da realização de seu projeto de felicidade.4 Ensina Antunes Varela, citado por Rui Stoco, que “a família é o núcleo familiar primário mais importante que existe, antecede o Estado e decorre de uma profunda e transcendente necessidade do ser humano.” 5 Contudo, é interessante referir-se às relações entre os vários membros da família sem tentar apresentar, de forma definitiva, um conceito de família. Isto porque, não é coerente identificar a família como aquela que decorre pura e simplesmente do casamento. Sendo assim, é possível considerar a família como uma instituição jurídica e social, decorrente do casamento ou da união estável, que surge da sociedade conjugal, de fato e/ou de direito, cujo vínculo de parentesco, seja natural ou civil, deve ser considerado. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. 2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Resolução nº 217 A (III), de 10 de dezembro de 1948. Declaração universal dos direitos humanos. Paris: 1948. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-DireitosHumanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 12 jul. 2014. 3 PEREIRA, p. 151apud DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed., rev., atual. e ampl.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 28. 4 HIRONAKA, p. 8apud DIAS, op. cit., p. 27. 5 VARELA apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 8. ed., rev., atual. e ampl., com comentários ao Código civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1065. 1 175 175 2.1 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA Os princípios são fontes do direito, são normas jurídicas que permitem a exegese jurídica e possibilitam uma maior aproximação entre o direito e a idéia de justiça. Devido ao conteúdo axiológico que carregam, “os princípios são normas que tem a função de fundamento normativo para a tomada de decisão, são deveres de otimização aplicáveis em vários graus segundo as possibilidades normativas e fáticas”1. São vários os princípios que norteiam o direito de família. É difícil quantificar ou tentar especificar todos eles. No entanto, importa discorrer brevemente sobre alguns destes que, consagrados pela nossa Carta Magna, permeiam o direito de família, especificamente na contemporaneidade, onde se verifica diversas mudanças e inovações. Neste sentido, discorreremos sobre os princípios constitucionais da liberdade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade, que, no dizer de Berenice Dias, são “verdadeiros mandatos de otimização que constitucionalizaram o direito civil.”2 2.1.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana Positivado no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, este principio é fundamental ao nosso ordenamento jurídico, principalmente por estarmos diante de um Estado Democrático de Direito. Trata-se de “verdadeiro macro princípio constitucional no qual se concretizam direitos fundamentais e do qual se desdobram subprincípios ou princípios implícitos” 3. É base para a comunidade familiar, que tem como “pedra angular” o afeto e a felicidade de seus membros, “isto porque a família só faz sentido para o Direito a partir do momento em que ela é veículo funcionalizador da promoção da dignidade dos seus membros.”4 Para Sumaya Pereira,“a família passou a ter o papel funcional de servir de instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana. Passou a ser tutelada como instrumento de estruturação e desenvolvimento da personalidade dos sujeitos que a integram.”5 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed., rev. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 27. 2 DIAS, 2013, p. 60. 3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 5, p. 55. 4 Ibid., p. 56. 5 PEREIRA apud PEREIRA, op. cit., p. 53. 1 176 176 A vida em família é válida até o momento em que proporciona, no seio desta, uma vida digna a cada um dos seus membros, onde haja o respeito aos direitos da personalidade de cada integrante, como, por exemplo, a honra (art. 5º, X da CF), intimidade (art. 5º, X e LV da CF), vida privada (art. 5º, XII da CF), liberdade (art. 5º caput da CF), enfim, às características e sentimentos de cada um. 2.1.2 Os Princípios da Liberdade e da Igualdade Estão consagrados no artigo 5º, caput da Constituição, onde a Carta Magna cuidou de assegurar que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”1. O princípio da liberdade é facilmente percebido no âmbito do direito de família quando se fala na faculdade que, salvo os casos de impedimento, todo indivíduo possui, de livremente constituir uma comunhão de vida familiar através do casamento ou união estável, bem como ao direito de deixar de constituí-la. O princípio constitucional da igualdade, assegurado no caput do artigo 5º da Constituição Federal e reafirmado no inciso I deste, enfatizou que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (CF 5º I). Adentrando o direito de família, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 226, parágrafo 5º que: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.” 2Consagrando assim, o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros, assegurandolhes, portanto, igualdade de direitos e deveres. 3 Por força deste princípio, os deveres conjugais foram igualmente estabelecidos de forma recíproca. 2.1.3 Princípios da Afetividade e Facilitação da Dissolução do Casamento Ademais, vale destacar os princípios da afetividade e facilitação da dissolução do casamento. Não são princípios explícitos na Constituição Federal, mas, incontestavelmente, decorrem das garantias e proteções ali asseguradas. 2.1.3.1 O Princípio da Afetividade BRASIL, 1988. Ibid. 3 Código Civil de 2002, artigo 1511:“O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. Cf. Id., 2002b. 1 2 177 177 Este princípio é de extrema relevância, visto que o afeto é o pilar das relações familiares, notadamente da relação matrimonial. No casamento e principalmente na união estável não há consangüinidade, o afeto é quem dá inicio a relação e é o que a sustenta. A comunhão plena de vida prevista em lei e naturalmente esperada da relação matrimonial só pode ocorrer de fato, se houver afeto, afinal “cessado o afeto, está ruída a base de sustentação da família”1. O que marca o direito de família é a socioafetividade, embora nem sempre tenha sido assim, hoje os vínculos afetivos merecem aceitação social e reconhecimento jurídico. Conforme defende Berenice Dias, “a família e o casamento adquiriram novos perfis, voltados muito mais a realizar os interesses afetivos e existenciais de seus integrantes”2. “Essa é a concepção eudemonista da família, que progride à medida que regride o seu aspecto instrumental”3. 2.1.3.2 Princípio da Facilitação da Dissolução do Casamento O casamento era tido como vínculo indissolúvel e o Estado buscava preservá-lo, entendendo que a manutenção do casamento era a melhor forma de obter uma sociedade mais regular. “A tônica era o interesse de ordem pública, mais prevalente do que o interesse dos próprios cônjuges, que não merecia maior atenção.”4 Contudo, a Constituição Federal em 1988 trouxe em seu artigo 5º, parágrafo 6º a seguinte previsão: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”5, estipulando, assim, o princípio da facilitação da dissolução do casamento.6 Reconheceu-se a liberdade do indivíduo de casar-se e de não manterse casado. A partir de então diversas alterações no que tange à regulamentação do divórcio ocorreram no sentido de efetivar esse principio. “A Lei nº 11.441/07 autorizou a dissolução consensual do casamento em via administrativa, por escritura pública lavrada em cartório, quando não houvesse interesse de incapaz” 7. A nova Lei do divórcio, a Emenda Constitucional 66/2010, alterou o texto do § 6º do art. 226 da Constituição Federal que passou prevê que: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”8. . Esta Emenda, também conhecida como “PEC do amor”, intitulou o divórcio FARIAS apud DIAS, 2013, p. 28. DIAS, 2013, p. 74. 3 OLIVEIRA;MUNIZ apud DIAS, op. cit., p. 74. 4 DIAS, 2013, p. 155. 5 BRASIL, 1988. 6 Ibid. 7 Ibid., loc. cit. 8 BRASIL, op. cit. 1 2 178 178 como único meio de extinção do matrimônio, derrubando um dos maiores paradigmas deste direito, o da indissolubilidade do casamento. Diante disso, entende-se que prevalece no atual direito de família brasileiro, o princípio da facilitação da dissolução do casamento. E, de acordo com a doutrina mais avançada, afastou-se a idéia de cônjuge culpado e buscou-se tutelar a liberdade e dignidade dos indivíduos. 2.2 O INSTITUTO DO CASAMENTO 2.2.1 Noções Conceituais O Código Civil brasileiro reserva 110 artigos para tratar do casamento, mas, não traz nenhuma definição acerca deste instituto. Desse modo, são diversas as tentativas de conceituação do casamento apresentadas por doutrinadores brasileiros. Alguns apresentam uma noção mais clássica e conservadora, outros uma noção mais relacionada com as modificações da família contemporânea. Na concepção clássica de Lafayette Rodrigues Pereira, “o casamento é um ato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para sempre, sob promessa recíproca de fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de vida” 1. Tem-se, nesta concepção, uma visão contratualista do casamento, em que se valoriza o caráter solene do instituto e a indissolubilidade do vínculo. Muitos doutrinadores apresentavam um conceito que restringia o casamento à união de um homem com uma mulher com o intuito de uma comunidade de existência, como se lê na definição de van Wetter 2. Esta noção restrita foi superada em 2011 pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, quando em decisão do Recurso Especial 1.183.378 a 4ª Turma do STJ no Rio Grande do Sul decidiu que não há óbices legais à celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo.3 A partir de então, passou-se a considerar válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o denominado casamento homoafetivo. Um conceito mais atento às modificações da família contemporânea, desassociado da idéia de indissolubilidade ou diferença de sexos entre os cônjuges, foi o trazido por José Lamartine C. de Oliveira e Francisco José F. Muniz, pois para estes doutrinadores, “o casamento tanto significa o ato de celebração do PEREIRA apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. v. 5, p. 52. 2 WETTER apud PEREIRA, op. cit., p. 53. 3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.183.378/RS. Relator: Min. Luis Felipe Salomão.4. Turma. Brasília, 25 out. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 1. fev. 2012b. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=109902 1&num_registro=201000366638&data=20120201&formato=PDF>. Acesso em: 28 maio 2014. 1 179 179 matrimônio como a relação jurídica que dele se origina: a relação matrimonial. O sentido da relação matrimonial melhor se expressa pela noção de comunhão de vidas, ou comunhão de afetos”1. Cristiano Chaves de Farias defende que é preciso apartar o casamento da idéia de procriação, visto que para ter filhos não é preciso casar, e o casamento é “comunhão plena de vida entre pessoas humanas”2, independente da procriação. O autor sustenta também que, não se pode enxergar no casamento a feição de sua indissolubilidade, pois, conforme expressa previsão constitucional (CF, art. 226, § 6º)3, o casamento pode ser dissolvido por vontade de um ou de ambos os cônjuges. Apesar desses contornos não há um conceito exato, objetivo e unicamente válido, menos ainda um conceito imutável. O direito se adéqua aos fatos, estes antecedem o direito e, obviamente, que no casamento também é assim. 2.2.2 Natureza Jurídica Há três teorias diferentes acerca da definição da natureza jurídica do casamento, a primeira apresenta uma concepção contratualista do instituto; a segunda o vê como uma instituição social; a terceira é mista, entende que há no casamento, um caráter contratual, bem como institucional. A concepção clássica e também individualista foi aceita pelo racionalismo jus naturalista do século XVIII e penetrou, com o advento da Revolução Francesa, no Código francês de 1804, influenciando a Escola Exegética do século XIX e sobrevivendo até nossos dias da doutrina civilista.4 Esta concepção prioriza a livre disposição de vontade dos nubentes quando da constituição do vínculo, o consentimento necessário para a sua formação, que sendo recíproco e manifesto por sinais exteriores dariam eficácia e validade ao casamento. Assim, o casamento é entendido como um contrato civil regido pelas regras comuns a todos os contratos. A concepção institucionalista ou supra individualista, defendida pelos elaboradores do Código Civil italiano de 1865 e escritores franceses como Haurion e Bonnecas5, vê o casamento como uma instituição social, regido por regras de ordem pública, em que os nubentes manifestavam sua vontade apenas em relação OLIVEIRA; MUNIZ apud DIAS, 2013, p. 155. FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 188. 3 Artigo 226,§ 6º:”O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Cf.BRASIL, 1988. 4 PEREIRA, LIMA, RODRIGUES apud DINIZ, 2007, p. 38. 5 GONÇALVES, 2013, p. 41. 1 2 180 180 a aderi-lo e ao cônjuge escolhido e uma vez constituído o casamento, refletir-se-ia uma situação jurídica, cujos efeitos e contornos estariam pré-fixados em lei. Maria Helena Diniz1 afirma que a concepção institucionalista sofreu algumas variações, pois alguns civilistas passaram a vislumbrar o casamento como um contrato especial ou sui generis, em razão dos seus efeitos peculiares e das relações específica que cria. A terceira teoria surgiu como resultado da polêmica entre as duas primeiras (contratual e institucional), tornando-se mista e eclética. Tal teoria reconhece o elemento vontade e o une ao elemento institucional, considerando o casamento um ato complexo por ser ao mesmo tempo um contrato e instituição. Para Rouast2 o casamento seria um ato complexo, contrato na sua formação e instituição no seu conteúdo. Importa frisar, não haver que se falar em vontade dos nubentes, por exemplo, quanto à extensão dos direitos e deveres dos cônjuges, nem em relação aos efeitos do casamento, a forma de dissolução do vínculo ou reconhecimento dos filhos. Estas regras têm natureza cogente, são de ordem pública, “tem o objetivo de dar a família uma organização social moral compatível com as aspirações do Estado e a natureza permanente do homem, definidas em princípios insculpidos na Constituição Federal e nas leis civis”3. Acerca desta discussão sobre a natureza jurídica do casamento, Berenice Dias4 diz ser descabido tentar identificar o casamento com institutos que tenham por finalidade exclusivamente questões de ordem obrigacional, pois o casamento é negócio jurídico bilateral que não está afeito a teoria dos atos jurídicos. É regido pelo direito de família, diferenciando dos demais negócios de direito privado, também por ser o envolvimento afetivo o gerador do desejo de constituir família. 2.2.3 Finalidade Diversas são as finalidades já atribuídas ao casamento, dentre elas a finalidade de procriação e educação dos filhos, de legalização das relações sexuais ou de satisfação sexual, de constituição da família legítima e atribuição do nome do cônjuge, e do nome do cônjuge aos filhos, bem como a de legalização do estado de fato. Hoje, no entanto, grande parte dos doutrinadores entende que a finalidade principal do casamento é a de estabelecer uma comunhão plena de vida. DINIZ, 2007, p. 39. PLANIO; RIPERT apud DINIZ, op. cit., p. 40. 3 Ibid., p. 44. 4 DIAS, op. cit., p. 157, grifos do autor. 1 2 181 181 Nesta senda, afirma Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que: “a finalidade precípua do casamento é o estabelecimento de uma comunhão de vida, não se prestando a fins específicos que podem, ou não, estar presentes nas mais diferentes relações de casamento”,1“a finalidade do casamento é estabelecer uma comunhão de afetos”2. 2.3 DEVERES CONJUGAIS O Código Civil de 2002 apresenta diversas normas reguladoras do casamento, e em meio a toda regulamentação legal, impõe aos cônjuges deveres recíprocos, “reclamados pela ordem pública e interesse social, e que não se medem em valores pecuniários”3. Estes deveres estão listados no artigo 1566 do Código Civil 4, e são: o dever de fidelidade recíproca; dever de vida em comum, no domicílio conjugal; dever de mútua assistência; dever de sustento guarda e educação dos filhos; dever de respeito e considerações mútuos. Todos estes deveres devem ser exercidos, conforme prevê o artigo 226, § 5º da Constituição Federal 5, em igualdade por ambos os cônjuges. Insta frisar que o rol do artigo 1566 não é taxativo, “pois a vida conjugal pode exigir outros deveres entre os consortes para que seja possível e viável, no tempo, a consolidação da vida em comum” 6. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald defendem que os deveres recíprocos entre os cônjuges são estabelecidos para que se aperfeiçoe a plena comunhão de vida instalada entre eles. Mas, a infração destes deveres não atinge a existência, validade ou eficácia do casamento. Está mais vinculado à idéia de violação da boa-fé objetiva, podendo ser hipótese de causa de pedir em ações de indenização por danos morais, questão objeto desse trabalho. 2.3.1 Dever de Fidelidade O dever de fidelidade, previsto no inciso I do artigo 1566 do Código Civil, decorre diretamente da tentativa do Estado de manter uma base familiar FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 192. Ibid., p.193. 3 PEREIRA, MONTEIRO apud DINIZ, op. cit., p. 127. 4 Código Civil brasileiro, artigo 1566: “São deveres de ambos os cônjuges: I – fidelidade recíproca;II – vida em comum, no domicílio conjugal;III – mútua assistência;IV – sustento, guarda e educação dos filhos;V – respeito e consideração mútuos.” Cf. BRASIL, 2002b. 5 Artigo 266, §5º:“Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.” Cf.BRASIL, 1988. 6 Ibid., loc. cit. 1 2 182 182 estruturalmente monogâmica, “consiste no dever de cada cônjuge de abster-se de praticar relações sexuais com terceiro.”1. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho2, defendem que a fidelidade é (e jamais deixará de ser) um valor juridicamente tutelado, e, tanto o é, que fora exigido como dever legal decorrente do casamento. Sustentam que a sua violação, independente da dissolução da sociedade conjugal, poderá trazer conseqüências jurídicas, inclusive indenizatórias. A infração ao dever de fidelidade se configura com o adultério. Nas palavras de Maria Helena Diniz, essa infração e, portanto, o adultério, constitui ilícito civil e indica falência da moral familiar, desagregando a vida familiar. Importante dizer que, “para que se configure o adultério (ilícito civil) basta uma só transgressão ao dever de fidelidade por parte do marido ou da mulher (RT, 181:221); não se exige, portanto, a continuidade de relações carnais com terceiro”3. Para uma parte da doutrina, “o adultério só se caracteriza pela conjunção carnal”4, os demais atos sexuais são considerados injúria grave. Contudo, outra parte da doutrina sustenta que essa compreensão restrita é inadmissível, pois o dever de fidelidade há de ser atrelado à lealdade e entendido de forma ampla. Nesta corrente de pensamento, defende Maria Helena Diniz5, não ser apenas o adultério (ilícito civil) que viola o dever de fidelidade recíproca, mas também, atos injuriosos que pela sua licenciosidade, com a acentuação sexual, quebram a fé conjugal. Esta autora apresenta como exemplos: o relacionamento homossexual, namoro virtual, inseminação artificial heteróloga não consentida, etc. Em relação à infidelidade virtual, que surge das relações formadas e mantidas pela internet sem o contato físico, Maria Helena Diniz a aponta como exemplo de infração ao dever conjugal, já Maria Berenice Dias sustenta que sua prática não implica em violação ao dever de fidelidade recíproca, pois a “imposição do dever de fidelidade simplesmente visa a impedir a concepção de prole ilegítima”6. 2.3.2 Dever de Vida em Comum, no Domicílio Conjugal DIAS, op. cit., p. 146. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de família : as famílias em perspectiva constitucional. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 6, p. 289. 3 DINIZ, 2007, p. 146. 4 CARVALHO NETO apudFARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 303. 5 DINIZ, op. cit., p. 148. 6 DIAS, op. cit., p. 275. 1 2 183 183 O dever de vida em comum, no domicilio conjugal, segundo do rol do art. 1566 do Código Civil, é também chamado de dever de coabitação. Para a doutrina mais antiga, este dever engloba a convivência dos cônjuges sob o mesmo teto e também o débito conjugal, entendido como o dever dos nubentes de manter relações sexuais. Lopez Herrera e Antônio Chaves1 entendem que este dever de coabitação traduz-se tanto no imperativo de viverem juntos os consortes quanto o de prestarem, mutuamente, o débito conjugal. Sustenta Álvaro Villaça de Azevedo: um cônjuge tem o direito sobre o corpo do outro e vice-versa, daí os correspondentes deveres de ambos, de cederem seu corpo ao normal entendimento dessas relações intímas, não podendo, portanto, inexistir o exercício sexual, sob pena de restar inatendida essa necessidade fisiológica primária, comprometendo seriamente a estabilidade da família. 2 O exercício sexual seria uma conseqüência natural da plena comunhão de vida, uma forma de manter a estabilidade da família e a procriação. Excluindo-se práticas que atentassem contra a integridade física do outro, é como entende Maria Helena Diniz.3 Ocorre que, a prática de relações sexuais no casamento é algo que envolve o afeto, não podendo ser imputada por lei como uma obrigação a ser regularmente observada, cuja inobservância acarrete conseqüências jurídicas ou viole o próprio matrimônio. Entender assim é inobservar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos da personalidade das partes. Não pode um cônjuge dispor sobre o corpo do outro mais do que o seu titular, sobrepondo-se à vontade deste, figurando como se credor fosse de um débito conjugal. Impor a prática de relação sexual aos cônjuges é uma invasão da vida privada do casal, pois haveria de se regular os aspectos desta “obrigação”, como, por exemplo, os limites para a sua exigibilidade. Da mesma forma, haveria de se analisar a possibilidade do marido obrigar sua esposa a praticar atos sexuais e vice-versa, bem como a possibilidade de reparação de danos pela abstinência. Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,4 também não pode o dever de vida em comum (no domicílio conjugal) ser entendido como o de obrigatoriedade de viverem sobre o mesmo teto. Considera-se que uma obrigatoriedade neste sentido afetaria a liberdade dos cônjuges de poder dispor sobre a vida em comum, sendo que isto envolve o planejamento dos cônjuges LOPEZ HERRERA apud DINIZ, 2007, p. 130. AZEVEDO apud DINIZ, op. cit., p. 130. 3 DINIZ, op. cit., p. 149. 4 FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 306. 1 2 184 184 acerca de suas vidas, aos projetos e perspectivas para o casal e as decisões acerca de como viverem “juntos” respeitando suas respectivas vontades. É plenamente possível que os indivíduos que formam um casal optem por viver em locais diferentes sem, contudo, deixarem de ter comunhão de vida. A respeito disto, tem-se a súmula 382 do STF 1 prevendo que a vida em comum no domicílio conjugal não é indispensável para a configuração da união estável. Ocorre que, este não é um entendimento unânime na jurisprudência, para Caio M. S. Pereira e Flávio Tartuce: “as núpcias instauram entre os cônjuges a vida em comum no domicílio conjugal, pois o matrimônio requer coabitação, e esta, por sua vez, exige comunidade de existência.”2 Maria Helena Diniz defende que o dever de vida em comum no domicílio conjugal só haveria de ser afastado em casos excepcionais, cujas circunstâncias realmente o impossibilitasse, pois, segundo a autora, trata-se de dever de ordem pública sem o qual não existe o casamento Para a autora e os demais que compartilham deste entendimento, a coabitação consiste na vida dos cônjuges no mesmo local e o abandono voluntário do lar, sem justo motivo durante um ano contínuo, reveste-se de caráter injurioso, autorizando, por isso, o pedido de indenização por dano moral e de separação judicial.3 2.3.3 Dever de Mútua Assistência Previsto no inciso III do artigo 1566 do CC, este dever abrange aspectos morais e materiais, o compromisso de atendê-lo é publicamente firmado na própria cerimônia de casamento, com a promessa feita pelos cônjuges, nesta ocasião, de respectivamente se amarem e respeitarem, tanto na alegria quanto tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. A comunhão plena prevista no artigo 1511 do CC4 está intimamente ligada ao dever de mútua assistência. No dizer de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald 5 essa mútua assistência é justificável a partir da idéia da comunhão de vida e é forma específica de materialização da solidariedade social (familiar) abraçada como princípio da República pelo art. 3º da Lex Fundamentalis. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 382. A vida em comum sob o mesmo teto,“more uxorio”, não é indispensável à caracterização do concubinato. Diário da Justiça, Brasília, 8 maio 1964. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Sumula_do_STF__1_a__736.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2014. 2 PEREIRA; TARTUCE apud DINIZ, 2007, p. 145. 3 DINIZ, op. cit., p. 151. 4 Código Civil Brasileiro, artigo 1511:”O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. Cf. BRASIL, 2002b. 5 FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 309. 1 185 185 Tendo por base o princípio da solidariedade, a mútua assistência deve perdurar até depois de dissolvido o matrimônio. É o que efetivamente se verifica na previsão de pensão alimentar devida pelo cônjuge que tem condições de prestar este auxílio ao cônjuge que dela necessita para viver. “O dever de assistência transborda os limites da vida em comum e se consolida na obrigação alimentar para além da dissolução do casamento.”1 É um dever inerente ao casamento. Caio M. S. Pereira afirma ser um dever que o casamento gera e que: não se concretiza no fornecimento apenas dos elementos matérias de alimentação e vestuário, que são óbvios. Inscrevem-se aí ainda a assistência moral, o amparo nas doenças, a solidariedade nas adversidades, como ainda o desfrute dos prazeres da vida na conformidade das posses e da educação de um e de outro.2 No dizer de Maria Helena Diniz, esses deveres abrangem os implícitos de sinceridade, zelo, honra e dignidade do cônjuge e da família. 2.3.4 Dever de Sustento, Guarda e Educação dos Filhos O dever de sustento, guarda e educação dos filhos foi imposto tanto pelo Código Civil ao tratar dos deveres conjugais, artigo 1566, IV, quanto pela Constituição em seu artigo 2273e pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.4 Consiste na verdade, em um dever individual dos pais para com os filhos, não necessariamente vinculado ao casamento, vez que se o casamento for dissolvido, não interferirá na necessária observância deste dever, ao contrário, permanece o dever de guarda e educação dos filhos, independente da guarda judicial, por exemplo. É um encargo de ambos os cônjuges em atenção ao princípio da isonomia, sendo que cada cônjuge deve sustentar e educar o filho na medida da sua real possibilidade. Neste sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho consideram que esse dever sofre de um equívoco em sua localização, pois a sua origem não DIAS, 2013, p. 277. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. v. 5, p. 173. 3 Artigo 277: ”É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldadee opressão.” Cf.BRASIL, 1988. 4 Artigo 4º:”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Cf. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. 1 2 186 186 deriva da condição de casado, mas sim da condição de pais. Ratificando tal entendimento, Caio M. S. Pereira1 denomina-os como deveres para com a prole. Entretanto, a inobservância da obrigação de cuidar integralmente dos filhos (que deveria projetar conseqüências, apenas, no que se refere ao relacionamento entre pai e filho, especificamente em relação ao poder familiar) pode autorizar a imputação de culpa, sem prejuízo de eventual sanção penal, conforme os artigos 2442 e 2643·, ambos do Código Penal e de eventual perda ou suspensão do poder familiar (CC, arts. 1.6374 e 1.6385), salienta Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald.6 2.3.5 Dever de Respeito e Considerações Mútuos O respeito e a consideração são devidos em qualquer relação social, todos os indivíduos merecem respeito, e isso é ainda mais imprescindível quando numa relação entre pessoas que se uniram, por afeto, na busca de uma realização pessoal, de um futuro em comum e de constituir uma família. Nesta senda, tem-se que o respeito e considerações mútuos são essenciais ao matrimônio, são o corolário da comunhão plena de vida. Este dever que estava contido dentro do dever de mútua assistência no Código Civil de 1916, fora destacado como inciso V do artigo 1566 no Código Civil de 2002. Baseia-se na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges e inspira-se, como afirma Carlos Roberto Gonçalves7, na dignidade da pessoa humana, que não é um simples valor moral, mas um valor jurídico, tutelado no art. 1º, III da CF 8. Incluem-se neste dever de respeito mútuo e considerações recíprocas: PEREIRA, 2002, p. 175. Art. 244: “Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo: Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País.” Cf. BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. 3 Código Penal brasileiro, art. 246: ”Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa.”. Cf. Ibid. 4 Código Civil brasileiro, art.1637: ”Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.” Cf. BRASIL, 2002b. 5 Código Civil brasileiro, art.1638: “Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:I – castigar imoderadamente o filho;II – deixar o filho em abandono;III – praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente”. Cf. Ibid. 6 FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 309. 7 GONÇALVES, 2013, p. 197. 8 Artigo. 1º, inciso III: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:III: a dignidade da pessoa humana;”. Cf. BRASIL, 1988. 1 2 187 187 além da consideração social compatível com o ambiente e com a educação dos cônjuges, o dever, negativo, de não expor um ao outro vexames e descrédito. É nesta alínea que se pode inscrever a “infidelidade moral”, que não chega ao adultério por falta de concretização das relações sexuais, mas que não deixa de ser injuriosa.1 Acerca deste dever, vale o dizer de Carlos Roberto Gonçalves: “O respeito à honra e à dignidade da pessoa impede que se atribuam fatos e qualificações ofensivas e humilhantes aos cônjuges, um ao outro, tendo em vista a condição de consortes e companheiros de uma comunhão plena de vida. ”2 No entanto, violações a este dever são recorrentes, principalmente quando os cônjuges figuram como partes em litígios judiciários. 2.3.6 Deveres Implícitos Como dito anteriormente, o rol do artigo 1566 do Código Civil não é taxativo, pois a vida conjugal pode exigir a observância de outros deveres. Assim, a doutrina nominou os deveres matrimoniais que não estão expressos em lei como “deveres implícitos”. Estes são os deveres que, como ensina Caio Mário da Silva Pereira, se distinguem dos atos de cortesia ou de assistência moral, dentre os quais se destacam: o dever de sinceridade, o de respeito pela honra e dignidade própria e da família, o dever de não expor o outro cônjuge a companhias degradantes, o de não conduzir a esposa a ambientes de baixa moral.3 Sendo que o grau de educação, a sensibilidade dos cônjuges, a religiosidade, de um ou do outro, são alguns dos aspectos a considerar, diante das circunstâncias objetivadas nos procedimentos judiciais em que se cogite de sopesar o relacionamento conjugal.4 No intuito de averiguar a possibilidade de responsabilização civil por dano moral nas relações matrimoniais decorrente de infração grave aos deveres conjugais, cumpre-se tratar sobre o instituto do dano moral, avaliando alguns pontos ligados à: sua configuração, natureza jurídica e hipóteses de cabimento. 3. O INSTITUTO DO DANO MORAL 3.1 DEFINIÇÃO Sabe-se que o dano é pressuposto da responsabilidade civil e que inexistindo, impossibilita qualquer pretensão indenizatória. Tendo adquirido extrema relevância, face ao reconhecimento do homem enquanto “ser moral por 1 2 3 4 188 PEREIRA, 2002, p. 176. GONÇALVES, 2013, p. 197. PEREIRA, 2002, p. 176. Ibid., loc. cit. 188 excelência”1, o dano moral, em um conceito positivo, pode ser entendido como a violação ao direito a dignidade. Alguns doutrinadores o define de forma negativa, como sendo a “contraposição do dano patrimonial” . Assim faz Aguiar Dias, que apresentando 2 uma concepção negativa da expressão, afirma: “quando ao dano não correspondem às características de dano patrimonial, estamos em presença do dano moral.” 3 Neste sentido, Pontes de Miranda ensina: “dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, só o atingindo como ser humano, não lhe atinge o patrimônio.”4 Criticas há à definição negativa do dano moral. Yussef Said Cahali, citando Dalmartello, aduz que este critério distintivo à base da exclusão revela-se insatisfatório defendendo ser mais razoável caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, “como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”5. Maria Celina Bodin de Morais também apresenta um conceito positivo e explica que a reparação do dano moral é a contrapartida do princípio da dignidade humana; “é o reverso da medalha”6. 3.2 CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL Carlos Roberto Gonçalves7 sustenta que os contornos e a extensão do dano moral devem ser buscados na própria Constituição, especificamente, no art. 5º, incisos V e X (acima citados), e no art 1º, inciso III. 8 Para Gonçalves, o julgador não deve se afastar das diretrizes nela traçadas, sob pena de considerar pequenos incômodos e meros desprazeres como dano moral. Neste sentido, prevalece o entendimento de que o direito não deve procurar indenizar o mero aborrecimento, irritação, desentendimento ou sensibilidade exacerbada. CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 17. 2 Ibid., p. 19. 3 DIAS apud CAHALI, op. cit., p. 19. 4 MIRANDA apud CAHALI, op. cit., p. 19. 5 DALMARTELLO, 1933, p. 55 et seq. apud CAHALI, 2011, p. 19. 6 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 132. 7 GONÇALVES, 2012, p. 492. 8 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a dignidade da pessoa humana;”. Cf. BRASIL, 1988. 1 189 189 De fato, não é qualquer embaraço que pode ensejar o dano moral. Só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo que estas só poderão ser consideradas dano moral quando estiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém, sustenta Sergio Cavalieri Filho.1 3.3 CONSOLIDAÇÃO DA REPARABILIDADE DO DANO MORAL NO DIREITO BRASILEIRO O primeiro Código Civil brasileiro, que entrou em vigor em 1916, fez algumas referências a reparabilidade do dano moral em seu artigo 79 (“Se a coisa perecer por fato alheio à vontade do dono, terá esta ação, pelos prejuízos contra o culpado”) e 159 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”2). Contudo, à época, vigorava a irreparabilidade do dano moral, este era admitido apenas em situações excepcionais, previstas expressamente em lei. Desse modo, “até relativamente pouco tempo atrás, entendia-se como contrário à moral e, portanto, ao Direito, todo e qualquer pagamento indenizatório em caso de lesão de natureza extrapatrimonial se esta se delineava unicamente como sofrimento” 3. Com o passar do tempo, no entanto, tornou-se insustentável tolerar que, ao ter um direito personalíssimo seu atingido, ficasse a vítima irressarcida, criandose um desequilíbrio na ordem jurídica, na medida em que estariam presentes o ato ilícito e a lesão a um direito (da personalidade), por um lado, e a impunidade, por outro, esclarece Maria Celina Bodin Morais.4 A situação se consolidou com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que, consagrou de forma expressa, em no mínimo dois incisos do artigo 5º, a reparabilidade do dano moral no direito brasileiro, ipsis literis: Art. 5º... Inciso V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; Inciso X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.5 1 2 3 4 5 190 CAVALIERI FILHO, 2010, p. 87. BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Diário Oficial [da] República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, 5 jan. 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. MORAES, 2003, p. 145. MORAES, op. cit., p. 148. BRASIL, 1988. 190 Desse modo, restou superada a discussão e inquestionável o cabimento de indenização por dano moral. A reparação da lesão a interesse extrapatrimonial foi, inclusive, elevada ao status de “Direitos e Garantias Fundamentais”. Neste sentido, o legislador ordinário, por meio do Código Civil brasileiro expressamente reconheceu a reparabilidade dos danos morais, em seu artigo 186, literis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”1 3.4. NATUREZA JURÍDICA DA REPARAÇÃO Acerca da natureza jurídica da reparação por danos morais tem-se entendido, hoje, que ela representa uma compensação, ainda que pequena pela tristeza inflingida injustamente a outrem. 2 A indenização por danos morais tem um caráter compensatório para a vítima, sancionatório para o causador do dano, e pedagógico para a sociedade, pois almeja compensar ao ofendido e gerar um desestímulo ao agressor e demais membros da sociedade. Não se trata de pagar um preço pela dor que o outro sofreu, e sim num modo de amenizar as conseqüências jurídicas da lesão ocasionada. Pois, sem dúvida, não há como reparar a dor, a mágoa ou sofrimento, não há um preço que possa ser atribuído a estas. A reparação consistirá, na realidade, numa compensação ao ofendido. Segundo Yussef Said Cahali, a reparação se faz através de uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a obrigação de pagamento de certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfativa.3 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho sustentam que haveria ainda o efeito psicológico da reparação, que seria o de prestigiar genericamente o respeito ao bem violado.4 4 DO CABIMENTO DO DANO MORAL POR INFRAÇÃO GRAVE AOS DEVERES CONJUGAIS Id., 2002b. GONÇALVES, 2012, p. 496. 3 CAHALI, 2011, p. 38. 4 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013, p. 124. 1 2 191 191 É dizer popular que “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”. Talvez esta frase, enquanto costumeira, tenha justificado a tolerância à existência de abusos nas relações conjugais. É cada vez mais recorrentes notícias de crimes passionais (violação imputável da norma penal a que o agente é impulsionado por uma paixão violenta e irreprimível, o ciúme)1, em que o fim ou mera fragilidade e inconstância da relação, acirrada pelo ciúme, “justifica” (enseja) o homicídio de um dos cônjuges pelo outro. Fato que, em relação a este crime incide a pena do direito penal, contudo, percebem-se constantes agressões entre cônjuges, também graves, de total desrespeito a própria pessoa humana e nítida violação aos deveres legais impostos a ambos os cônjuges, (art. 1566 do CC) 2 que não necessariamente são tutelados pela esfera penal e permanecem aceitas e toleráveis pela sociedade, pelo Estado e pelo direito. Mas, o direito tende a atentar-se para essas questões. É o que se verifica na doutrina e jurisprudência e o que será demonstrado neste estudo. De certo, inexiste motivo para que a relação entre cônjuges seja livre da interferência estatal no que tange à responsabilização pela infração grave aos deveres expressos no art.1566 do CC, bem como aos deveres implícitos cuja observância é indispensável à vida conjugal. Pelo que se percebe, há uma forte tendência à modificação de uma realidade que imuniza o cônjuge infrator. Em 2002 foi editado o Projeto de Lei n. 6.960, atual PL n. 699/ 2011, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, pretendendo incluir um § 2º ao art. 927 do Código Civil, com o seguinte texto: “Os princípios de responsabilidade civil aplicam-se também às relações de família”3. Contudo, o parecer do deputado Vicente Arruda rejeitou a proposta, sob o argumento de que a inclusão do referido parágrafo visava explicitar o óbvio. O deputado afirmou que não restam dúvidas acerca da aplicabilidade dos princípios de responsabilidade civil às relações de família. Sustentou que a referida proposta já parece vigente através da interpretação da norma do art. 186 do novo CC . 4 Importa mencionar que, no direito alienígena, especificamente na França, cuja legislação no dizer de Carlos Roberto Gonçalves, muito se aproxima da nossa, JUSBRASIL. Crime passional. [S.l.]: 2014a. Páginas de busca por tópicos. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/292452/crime-passional>. Acesso em: 21 jun. 2014. 2 Código Civil brasileiro, art. 1.566. “São deveres de ambos os cônjuges:I – fidelidade recíproca;II – vida em comum, no domicílio conjugal;III – mútua assistência; IV – sustento, guarda e educação dos filhos; V – respeito e consideração mútuos.” Cf. BRASIL, 2002b. 3 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.960, de 2002: (Do Sr. Ricardo Fiuza). Dá nova redação aos artigos 2º, [...] e 2045 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que "Institui o Código Civil”, acrescenta dispositivos e dá outras providências. Brasília: 12 jun. 2002a. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A86182238DE98C42AA 7C06B1D2475BE1.proposicoesWeb2?codteor=50233&filename=PL+6960/2002>. Acesso em: 13 jul. 2014. 4 ARRUDA apudDINIZ, 2013, p. 219. 1 192 192 há muito tempo se admite, tranquilamente, a ação de responsabilização entre homem e mulher, como procedimento autônomo ou como pedido adicional ao pedido de alimentos, em conseqüência da cessação do dever de socorro por culpa do cônjuge demandado.1 Maria Helena Diniz defende que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal pode acarretar dano moral e patrimonial e adverte ainda que a pretensão condenatória visando à reparação de dano moral e material pode ser feita através da reconvenção em ações de separação e divórcio.2 Nesse sentido, Mário Moacyr Porto disserta que a ação de responsabilidade civil entre marido e mulher fundamenta-se no artigo 159 (hoje, art. 186 do Código Civil) e é independente da ação que visa à dissolução litigiosa da sociedade conjugal e ao chamado “divórcio-sanção”. Sendo cumuláveis os pedidos, podendo ser formulados na mesma demanda (CPC, art. 292).3 O direito à reparação independe da natureza jurídica do casamento. Como se pôde observar, a teoria mista e eclética da natureza jurídica do casamento considera-o como um ato complexo de caráter contratual e institucional. Em sendo assim, entende-se que não se trata de uma responsabilidade civil contratual e que a culpa não há de ser absolutamente presumida com o só descumprimento dos deveres assumidos. Diante do fato concreto, a culpa civil obedecerá tanto à teoria da culpa pelo descumprimento de contrato, como a responsabilidade civil aquiliana, tomando de empréstimo os princípios, teorias e conceitos de culpa do Direito Civil. Insta frisar que mais do que um descumprimento de determinado contrato, tem-se o descumprimento da própria lei. Entendimento favorável a admissibilidade do dano moral nas relações conjugais é também o apresentado por Rolf Madaleno4, este autor sustenta que eram os tempos em que a estrutura hierarquizada da família, marcada pelo domínio do marido, chefe e provedor da sociedade conjugal, bem como o temor pelo perigo de proliferação de demandas triviais e o aumento dos conflitos judiciais familiares, justificava a imunidade ressarcitória entre os esposos. Compartilhando deste entendimento, ensina Yussef Said Cahali que: não há dúvida de que o cônjuge agredido em sua integridade física ou moral pelo outro tem contra este ação de indenização, com fundamento no art. 927 do CC, sem embargo de representar aquela ofensa uma causa que legitima uma separação judicial.5 1 2 3 4 5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 4. ed., rev. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 4, p. 67. Ibid., loc. cit. PORTO apudGONÇALVES, op. cit., p. 67/68. MADALENO, 2010, p. 481. CAHALI, op. cit., p. 589. 193 193 Alguns doutrinadores, no entanto, são contrários a aplicação do instituto do dano moral ao casamento. Alma Maria Rodríguez Guitian, citada por Madaleno, por exemplo, sustenta que “A legislação civil já prevê sanções próprias diante da culpa conjugal na falência do matrimônio e a única conseqüência jurídica da quebra de algum dever nupcial seria sua absorção como causa da separação judicial. ”1 Tal entendimento, data vênia, parece desarrazoado por dois motivos. Primeiro porque para o cônjuge que descumpre algum dos deveres conjugais, não necessariamente a separação figurará como sanção. Na verdade, muito provavelmente, a separação atingirá mais o cônjuge inocente, que além de suportar os danos morais a que o outro deu causa, terá de lidar com o difícil processo de separação. Assim, a separação não tem o escopo de afastar a responsabilidade pelos danos sofridos, não há razão para tal imunidade. Em segundo lugar, porque não mais se discute culpa no divórcio e a própria sobrevivência do instituto da separação, após a Emenda 66/2010, é questão controversa entre os doutrinadores brasileiros. Percebe-se, porém, que Alma Maria Rodríguez Guitian é contrária a indenização apenas em parte, pois embora defenda que o simples descumprimento de um dever conjugal pode não ser indenizável e que sua admissão poderia afetar a paz familiar, acarretando uma indesejável multiplicação de pleitos judiciais, esta autora, citada por Madaleno, afirma também que “a ocorrência de um dano em concreto a causar séria lesão a direito fundamental de familiar, seja ele moral ou patrimonial, não pode ser afastado da apreciação judicial e do ressarcimento pecuniário”2. Assim, Guitián apresenta algumas hipóteses por ela consideradas reparáveis: os danos a saúde, causados pela infidelidade, com o risco contágio por doenças venéreas ou pela AIDS; pelos danos a integridade física e psíquica provocados pelos maus tratos durante a convivência; os danos à honra, com os casos de infidelidade.3 Vale esclarecer que, não é a reparação do dano que irá afetar a paz familiar, esta paz foi atingida quando ocorreu o próprio descumprimento do dever matrimonial. Ademais, não é admissível que um direito deixe de ser assegurado, ou que um dano deixe de ser reparado, ou, ainda, que o próprio instituto do dano moral seja afastado sob o escopo de se evitar demandas judiciais. 1 2 3 194 GUITIÁN, 2009, p. 25 apudMADALENO, op. cit., p. 479. GUITIÁN, 2009, p. 25 apudMADALENO, 2010, p. 482. Ibid., loc. cit. 194 Admitir isto constitui nítida ofensa aos princípios e garantias constitucionais primordiais, como por exemplo, ao princípio da dignidade da pessoa humana e do acesso a justiça, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”1Este é um direito assegurado, de forma plena, a todos os cidadãos, conforme art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 4.1 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE FIDELIDADE Em novembro de 2013, teve repercussão no Estado da Bahia, a condenação de uma mulher, pela Justiça do município de São Gonçalo dos Campos, a pagar uma indenização por danos morais ao ex-marido, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). O motivo da condenação teria sido o desconhecimento do excônjuge de uma traição ocorrida há mais de 20 anos, bem como de que a filha registrada por ele na época (em decorrência da presunção de paternidade na constância do casamento) era, na realidade, filha de outro homem. Embora não tenha sido possível o acesso aos autos, visto que o processo corre em segredo de Justiça, tem-se notícia de que o cônjuge traído ingressou com ação negatória de paternidade, cumulada com pedido de indenização por danos morais contra a ex-esposa. Com a realização do exame de DNA e a comprovação de que não era pai biológico da filha que registrara há mais de duas décadas como sua, o juiz julgou procedente a ação, para determinar a retirada do nome do autor da certidão de nascimento da moça e o pagamento da indenização por danos morais.2 No aludido caso, tem-se além da violação clara aos deveres implícitos de respeito e sinceridade, uma grave violação ao dever de fidelidade fundamentando a decisão prolatada. Tem-se a concretização, pela jurisprudência, do que o presente trabalho defende, ou seja, da quebra de uma imunidade injustificável àqueles que infringem gravemente os deveres conjugais. Observa-se que o dano moral foi reconhecido tanto por conta do adultério quanto pelo fato do ex-marido ter, em decorrência da conduta da mulher, reconhecido a paternidade de uma filha que não era sua. 1 2 Art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Cf. BRASIL, 1988. BAHIA: mulher é condenada a pagar R$ 50 mil por esconder que filha era de outro homem. Correio, Salvador, 30 maio 2014. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/bahiamulher-e-condenada-a-pagar-r-50-mil-por-esconder-que-filha-era-de-outrohomem/?cHash=306cb2adb530bea54f099595e1935c43>. Acesso em: 23 jun. 2014. 195 195 Na realidade, historicamente, variando-se de acordo com o local, o costume e a religião, o adultério sempre foi reprimido e punido. Embora o adultério por parte da mulher sempre tenha sido punido com mais severidade. Nos dias atuais, contudo, a infração ao dever de fidelidade é comum e amplamente tolerada pela sociedade. Mas é preciso lembrar que tal conduta fere o próprio casamento, quebra a confiança e muitas vezes o afeto, abala o cônjuge comprometido e consiste em desrespeito tanto à pessoa do outro, quanto a uma determinação legal.1 De certo, ninguém pode pretender impedir a infração, e nem é isto o que se defende. Afinal, o direito não tem como impedi-la nem mediante expressa vedação legal. No entanto, há de se compensar a dor daquele que suportou os danos morais, há de se responsabilizar civilmente o infrator e há de se defender a lisura do casamento, instituto de extrema importância para o direito e para a sociedade. Contrário a esta reparação, o doutrinador Luiz Felipe Haddad afirma que: “por mais que esta conduta cause reprovação, no terreno ético-religioso, principalmente quando ostensiva e eivada de arrogância e deboche, não gera efeitos outros, senão o da dissolução da sociedade conjugal por culpa do cônjuge ofensor”2. José de Aguiar Dias, citado por Stoco, em contrapartida, defende ser incontestável o dano moral que o adultério acarreta e que, “em presença dele, a admissibilidade da ação reparatória não pode sofrer objeção, ainda que por parte dos que se negam a reconhecer a reparabilidade do dano moral” 3. Rui Stoco adverte que na França a jurisprudência formada na primeira metade do século passado foi, aos poucos, firmando entendimento no sentido de que o cônjuge, que suportou danos em virtude de infração aos deveres conjugais, “tem direito, além de pleitear o divorcio, também à indenização pelos danos sofridos, desde que não sejam decorrentes do próprio divórcio” 4. O dever de fidelidade é imposto por lei e embora o direito não tenha o poder de impedir a traição, o descumprimento não pode está imune de responsabilização civil. Por mais que o adultério seja algo bastante recorrente, sua previsibilidade não é motivo para afastar a compensação dos danos suportados pelo traído. Madaleno afirma ainda que, os defensores da preservação da paz familiar são contrários a responsabilização genérica dos arts. 186 e 927 no casamento ou 1 2 3 4 196 Art.1566, I do Código Civil: “São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca”. BRASIL, 2002b. HADDAD apudCAHALI, 2011, p. 589. DIAS, 1960, p. 15 apud STOCO, op. cit., p. 907. STOCO, op. cit., p. 907. 196 união estável, sob o argumento de que “constitui-se uma temeridade para a harmonia familiar a monetarização da quebra dos relacionamentos” 1.Ocorre que este argumento fere o próprio instituto do dano moral, sabe-se que a indenização não visa transformar a dor em pecúnia, ou pagar um preço pela dor, e sim um abrandamento, uma compensação pela dor sofrida. Não se trata de uma monetarização do fim do relacionamento, até porque não é este o fato que enseja eventual indenização. Como já dito, o instituto do dano moral consolidou-se no direito brasileiro e, também, é cabível na hipótese de violação ao dever de fidelidade, pois o adultério, ainda que não mais seja ato típico ensejador de punição civil ou pena criminal, não deixa de ser um ilícito civil, apto a ensejar o dever de reparação. Ademais, ainda em relação à violação ao dever de fidelidade, agora sob outro aspecto, vale frisar que a acusação infundada de adultério legítima o acusado a exigir reparação pelos danos morais advindos da acusação. Foi como julgou a 9ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos: a acusação infundada de adultério, feita pelo cônjuge varão à ex-mulher, quando já passados mais de dez anos da separação do casal, sujeitando a prole advinda do casamento a exame de DNA e a demanda anulatatória do registro civil, comprovando-se a paternidade e a temeridade da acusação (animus nocendi), como sendo ato ilícito, legitima-se a esposa acusada, a buscar reparação por dano moral.2 Importante dizer, também, que o (a) amante não responde civilmente face ao cônjuge traído, isto porque, quem tem o dever de fidelidade é o cônjuge adúltero. Não há sequer necessidade de se conhecer a pessoa do (a) amante na averiguação da responsabilidade civil do cônjuge infiel, pois foi este cônjuge quem feriu a confiança do outro e os compromissos firmados pelo matrimônio. Não é admissível que o cúmplice responda, principalmente se o consorte não for responsabilizado. Nesse sentido, afirma Alma Maria Rodríguez Guitián não ser concebível que o terceiro que se intromete na vida conjugal possa ser acionado por dano moral.3 Apesar disso, há a tese de solidariedade do amante pela maneira maliciosa de agir. No que tange a infidelidade virtual, há divergência acerca de as relações mantidas por meio virtual serem consideradas violação ao dever de fidelidade. Para parte da doutrina, devido à falta de contato físico, não há violação, e o adultério só 1 2 3 MADALENO, 2010, p. 480. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 9. Câmara. Porto Alegre, 28 nov. 2001, RJTJRS 213/213 apudCAHALI, 2011, p. 592. GUITIÁN apudMADALENO, 2010, p. 480. 197 197 se caracteriza pela conjunção carnal sendo os demais atos sexuais apenas injúria grave.1 Seguindo essa corrente, não haveria de se falar em ressarcimento por dano moral em decorrência das relações firmadas e mantidas exclusivamente pela internet ainda que estas relações venham a se apresentar como íntimas ou se revestir de intensidade e compromisso, mesmo que por conta delas o cônjuge adúltero esteja traindo a confiança e lealdade do seu consorte, ou, privando-se da companhia do seu consorte ao destinar sua atenção ao companheiro virtual. Não parece razoável tal entendimento. Ainda que a vedação legal à prática de atos sexuais fora do casamento, em sua essência, tenha o escopo de impedir a concepção de prole ilegítima, a lealdade, a confiança e o respeito ao direito do outro são valores a serem observados dentro do matrimônio. Desse modo, entende-se que, embora na infidelidade virtual não haja o contato físico, este não é imprescindível para a configuração de violações a estes valores. Por ser um dever atrelado à lealdade, parece mais coerente entender de forma ampla a violação ao dever de fidelidade, abrangendo nesta a infidelidade virtual. Por fim, vale concluir que nem todo caso de descumprimento do dever de fidelidade gera indenização, esta dependerá da demonstração do dano em cada caso concreto. Mas, a infração ao dever de fidelidade conjugal é fundamento bastante para sustentar condenação de cônjuge adúltero. 4.2 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE VIDA EM COMUM, NO DOMICÍLIO CONJUGAL O dever de vida em comum, no domicílio conjugal consiste num dever de coabitação e se traduz tanto no imperativo de viverem juntos os consortes quanto o de prestarem mutuamente o débito conjugal.2 Contudo, há divergência quanto à obrigatoriedade dos cônjuges viverem juntos sob o mesmo teto bem como, quanto à obrigatoriamente terem de se relacionar sexualmente. Assim, cabe aqui tratar acerca da possibilidade de se pleitear indenização por danos morais quando houver abandono do lar sem justo motivo ou quando houver a recusa na prestação do débito conjugal. Para alguns juristas o abandono do lar reveste-se de caráter injurioso e autoriza o pedido de indenização por dano moral 3·, pois, havendo recusa de viver em comum, o abandonado poderá pleitear indenização por dano moral e requerer a separação judicial.4 CARVALHO NETO apud FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 303. LOPEZ HERRERA apud DINIZ, 2007, p. 130. 3 DINIZ, op. cit., p. 151. 4 DINIZ, 2007, p. 151. 1 2 198 198 O abandono do lar por mais de um ano é hipótese inconteste de indenização por dano moral. O cônjuge abandonado merece ser indenizado porque sofre com o abandono, por ser tratado com desrespeito e descaso. Trata-se de um desrespeito tanto à pessoa do cônjuge quanto aos princípios matrimoniais, aos compromissos firmados e à própria família. Pode-se inferir então que, tem-se neste uma violação grave ao dever de vida em comum, no domicílio conjugal e tal violação induz ao fim da relação de forma ofensiva e repreensível. Todavia, nem todo afastamento do lar pode ser considerado abandono. O fiel cumprimento do dever de “viverem juntos sob o mesmo teto” pode ser relativizado em situações excepcionais, em decorrência, por exemplo, de doença que obrigue o afastamento (para o tratamento ou para evitar contágio), de exercício de profissão, encargos públicos, dentre outras. Estas hipóteses hão de ser admitidas quando estiverem revestidas de necessidade, temporaneidade e concordância de ambos os cônjuges. Ou seja, deve existir uma real necessidade, deve ser por um determinado período de tempo e os cônjuges devem concordar. Importa que os cônjuges decidam juntos acerca do não cumprimento deste dever. É imprescindível que para eles tal infração não represente uma ameaça à estabilidade do casamento, embora isto seja um pouco imprevisível. Independente do afastamento físico e de estarem impossibilitados de prestarem o débito conjugal, os consortes podem reafirmar entre si o compromisso de sustentarem uma relação respeitosa e a devida atenção aos valores e princípios matrimoniais. Desse modo, entende-se que a infração grave ao dever de vida em comum no domicilio conjugal, no que tange em viver juntos, ocorre e enseja indenização quando configurar-se abandono do lar. Ou seja, quando um dos cônjuges, por simples liberalidade e por longo período de tempo, sair do local em que vivem. Em relação ao débito conjugal, entende-se que, embora as relações sexuais sejam inerentes ao casamento, é preciso levar em consideração o caráter íntimo destas relações. Mesmo que a ausência do exercício sexual abale o matrimônio e até lhe gere uma instabilidade, não poderá o Direito torná-lo exigível perante a justiça. É inadmissível uma invasão jurídica que considere a recusa do débito conjugal fundamento para indenização em danos morais. Nesta senda, a hipótese de indenização em danos morais por abstinência sexual é afastada. Sob outro prisma, vale citar que a tentativa forçada, ainda que dentro do casamento, é indenizável. É possível tipificar como estupro condutas que violem a integridade física do outro quando, valendo-se da condição de casado, o cônjuge usa da força para praticar relações sexuais. Neste sentido, o sadismo erótico e a prática sexual anormal ou vexatória que viole princípios morais ou integridade física 199 199 são, também, hipóteses de cabimento de indenização por dano moral, como aponta Maria Helena Diniz.1 4.3 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA O dever de mútua assistência tem por base o princípio da solidariedade. O instituto compreende tanto a assistência moral ou imaterial quanto a assistência material. A assistência moral é ampla e consiste numa solidariedade que deve está presente em todos os aspectos da vida em comum e em todos os momentos visando à proteção aos direitos da personalidade do outro. Há divergência acerca de esta assistência imaterial ser ou não um dever por conta do caráter moral que a reveste. Contudo, a assistência está prevista em lei como um dever e é inadmissível uma restrição interpretativa da norma para aplicá-la apenas às questões materiais. Além disso, entende-se que a assistência moral envolve o auxílio, a solidariedade, o zelo num momento de doença (dever de socorro) e estes são essenciais à vida em comum, bem como inerentes a própria relação conjugal. A assistência material consiste no dever de auxílio ou ajuda financeira. É exigível quando se está diante da necessidade de um dos cônjuges e possibilidade econômica do outro. Levam-se em consideração as condições econômicas e sociais do casal e envolve a devida comunhão de esforços na luta da vida. A infração ao dever de assistência, tanto material quanto imoral, pode provocar danos morais e fazer surgir a pretensão indenizatória. Ensina Maria Helena Diniz que “a violação do dever de assistência constitui injúria grave, que pode dar origem à ação de responsabilidade civil por dano moral.”2 Em relação ao dever de assistência material, devido ao seu caráter alimentar, tem-se uma responsabilidade civil objetiva. Importa salientar que a solidariedade entre os cônjuges subsiste mesmo depois de extinta a sociedade conjugal e se concretiza por meio da obrigação alimentar, sendo que permanece mesmo diante da demonstração de culpa pela separação. Insta frisar que obrigação alimentar não obsta a indenização por dano moral, pois a primeira não visa à responsabilização do cônjuge infrator nem a reparação dos danos. Assim, não têm o mesmo objeto e, portanto, não se excluem. 4.4 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS 1 2 200 DINIZ, 2013, p. 218-219. DIAS, 2013, p. 133. 200 O dever de sustento, guarda e educação dos filhos é de cada consorte para com os seus filhos e exigível independentemente da constância do casamento. Deriva da condição de pai ou de mãe e não da condição de cônjuge, até porque muitas pessoas têm filhos sem ter constituído matrimônio. Contudo, embora tratar-se de um dever individual e intransferível, quando uma das partes se omite, a outra fica sobrecarregada nas obrigações para com a prole. Assim, quando o dever for infringido por um dos pais e em função disto o outro venha a “assumir” todas as responsabilidades em total ausência de divisão das obrigações, surgirá para o que as assumiu o direito de ser ressarcido pelos danos que esta sobrecarga provocou. Devido ao descaso do cônjuge faltoso, configurado no descumprimento deste dever, o cônjuge presente acaba tentando suprir a falta do outro e fica integralmente responsável pelo sustento e educação dos filhos. Indiscutivelmente a situação de sobrecarga provoca danos morais que, quando demonstrados deverão ser ressarcidos. Portanto, admissível a responsabilização do infrator. Sobre outro aspecto, salienta-se que em sendo um dever legal imposto a ambos os pais e independente do casamento ou de quem tenha a guarda judicial, não poderá um dos cônjuges tentar afastar o filho da presença do outro nem criar embaraços ao seu cumprimento. Se um deles considerar necessário o afastamento deve buscar o poder judiciário, por possuir competência para determiná-lo. Mas, se ao contrário, incorre em ato ilícito no sentido de impedir o cumprimento do presente dever e em decorrência disto causar danos ao outro, caberá a responsabilização civil. 4.5 DA INFRAÇÃO AO DEVER DE RESPEITO E CONSIDERAÇÃO MÚTUOS O dever de respeito e consideração mútuos foi imposto de forma autônoma apenas no Código Civil de 2002, em seu artigo 1566, inciso V. Indiscutivelmente, a relação entre cônjuges deve ser pautada na adequação e respeito exigíveis em toda e qualquer relação humana, posto que envolve uma comunhão de vida, uma intimidade e privacidade, assim, quando a infração a este dever consistir em infração grave a dignidade do outro, ensejará responsabilização civil. A infração grave pode se dá por inúmeras formas, mas é evidenciada, por exemplo, quando os cônjuges se valem de qualificações ofensivas e humilhantes, um ao outro, em litígios judiciários. Tal infração também é notória na injúria grave por meio de conduta desonrosa devido à solidariedade de honras decorrente do casamento. 201 201 4.6 DA INFRAÇÃO AOS DEVERES IMPLÍCITOS Em sendo assim, a infração grave aos deveres conjugais implícitos também possibilita a responsabilização civil. Sem dúvida, diante do caso concreto, analisarse-á a realidade social e econômica dos cônjuges para fins de configuração da infração e eventual responsabilização, mas o dano decorrente da ausência da sinceridade exigível na relação, da ofensa a dignidade do cônjuge ou de sua família, dentre tantas outras hipóteses, há de ser reparado. 4.7 AS SEVÍCIAS As sevícias podem ser entendidas como os maus-tratos, consistentes em ofensas físicas violentas ou flagelações infligidas a alguém, ou falta intencional de proteção e assistência à sua pessoa, por parte do agente, sob cujo poder ou autoridade ela se encontra e que com esse procedimento revela crueldade e torna insuportável a vida em comum. É praticada ordinariamente pelo marido, pelo pai ou mãe, tutor ou curador.1 Nesse sentido, é inconteste que os maus tratos, os atos de crueldade, tortura ou espancamento, quando praticados tanto pelo marido quanto pela esposa trará responsabilização civil, sem exclusão da penal. É uma das situações em que a indenização compensatória e sancionatória resta evidente, isto porque consiste em violação a integridade física do cônjuge e, embora não seja uma violação direta aos deveres elencados no art. 1566, comporta condenação em danos morais. 4.8 A PRESCINDIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO PARA O CABIMENTO DA REPARAÇÃO Para que seja configurado o dano moral entre cônjuges, não é necessária a separação. Existindo a conduta ilícita, o nexo causal e a demonstração do dano moral, surgirá à possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil e de reparação dos danos independente da subsistência da sociedade conjugal. Embora a continuidade da relação depois de marcada por um conflito judicial seja de difícil visualização, quando ocorrer, não afastará a pretensão indenizatória. 1 202 JUSBRASIL. Sevícia. [S.l.]: 2014b. Páginas de busca por tópicos. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/297502/sevicia>. Acesso em: 21 jun. 2014. 202 A reconciliação entre os consortes não é apta a afastar a responsabilização civil e nem mesmo a influenciar ou suspender o andamento de eventual demanda reparatória existente entre eles, a menos que este seja à vontade inconteste deles. Acerca disto, Yussef Said Cahali afirma:“o cônjuge agredido tem ação indenizatória contra o outro, independente da dissolução da sociedade conjugal, ou mesmo depois desta.”1 Portanto, entende-se que a dissolução do casamento não é imprescindível à ação reparatória entre os cônjuges. 4.9 A NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO PELA SIMPLES EXTINÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO É importante ressaltar que a simples extinção do vínculo afetivo não configura dano moral indenizável. É como disserta Carlos Roberto Gonçalves, carece de fundamento legal, o pedido de indenização por dano moral fundado no simples fato da ruptura conjugal.2 E não poderia ser diferente. Como já foi dito em capítulo anterior, ambos os cônjuges são livres para constituir e deixar de constituir o matrimônio e o Direito não pode punir alguém que, por cessado o afeto mantedor da relação, decide separar-se. Contudo, se esta separação provocar dano moral a um dos cônjuges e este for demonstrado, poderá surgir a pretensão indenizatória. É como ensina Gonçalves: “provado, no entanto, que a separação, provocada por ato injusto do outro cônjuge, acarretou danos, sejam materiais ou morais, além daqueles já cobertos pela pensão alimentícia (sustento, cura, vestuário e casa), a indenização pode ser pleiteada”3. Assim, entende-se que a só dissolução do matrimônio não fundamenta a ação indenizatória. Isto porque, quando extinto o afeto, não poderá o direito, por via indireta, ser contrário à extinção do vínculo matrimonial, muito menos pretender punir alguma das partes por isto. Mesmo que a dissolução da sociedade conjugal seja desagradável e frustrante para algumas pessoas, o dano moral indenizável não decorre da pura e simples separação, e sim, das situações em que, concomitante a esta, houver infração grave aos deveres conjugais. CONCLUSÃO CAHALI, 2011, p. 589. GONÇALVES, 2009, p. 66. 3 GONÇALVES, 2009, p. 66. 1 2 203 203 No presente artigo, buscou-se estudar a possibilidade de aplicação do instituto do dano moral no casamento por infração grave aos deveres conjugais. Ao observar as peculiaridades do instituto do dano moral, percebeu-se que em face de um dano e demais pressupostos da responsabilidade civil, surgirá a pretensão de responsabilização do agente causador do dano. Nota-se que a admissibilidade da reparação por danos morais consolidouse com a Constituição de 1988, de maneira tal que não restringiu a sua aplicabilidade, assim, é cabível em todas as relações humanas, inclusive na relação conjugal. Diante de todo o exposto e analisado, é possível concluir que, embora o casamento seja uma relação marcada pelo afeto e por sentimentos mais diversos, os danos morais decorrentes de violações graves aos deveres dispostos no art. 1566 do Código Civil merecem ser tutelados. Percebe-se que estes deveres são impostos por lei e visam resguardar o respeito aos compromissos assumidos pelo matrimônio, o respeito entre os cônjuges, e conseqüentemente, a lisura do matrimônio. Ademais, é importante explicar que fora considerado o caráter compensatório e sancionatório da indenização por danos morais, partindo-se do pressuposto de que esta visa compensar o ofendido, amenizar a tristeza que lhe fora inflingida injustamente e gerar um desestímulo ao agressor. Não há, portanto, motivo para imunizar a relação conjugal das regras da responsabilidade civil. Ao contrário, é razoável que se possa responsabilizar o cônjuge que ao inobservar a lei e os princípios que regem o casamento, infringir gravemente os deveres conjugais, bem como compensar o cônjuge que suportou o dano decorrente da infração. Os deveres conjugais são extremamente importantes ao casamento, pilares da própria relação e essenciais à solidez do instituto. Deste modo, carecem da tutela do Estado, conclamam pela interferência deste no sentido de atribuir consequências ao seu descumprimento. Desse modo, no que tange a infração grave ao dever de fidelidade concluise que: a) cabe o dano moral pela prática de adultério; b) é admissível a reparação do cônjuge que, por conta da presunção de paternidade dos filhos havidos no casamento, assume a paternidade de criança concebida em relação adulterina da esposa; c) a acusação infundada de adultério legítima o acusado a exigir reparação pelos danos morais advindos da acusação; d) muito embora na infidelidade virtual não haja o contato físico este não é imprescindível à configuração da violação ao dever de fidelidade; 204 204 e) o (a) amante não responde civilmente face ao cônjuge traído, mas se admita a solidariedade do amante pela maneira maliciosa de agir; f) nem todo caso de descumprimento do dever de fidelidade gera indenização, esta dependerá da demonstração do dano em cada caso concreto. Quanto a infração grave ao dever de vida em comum, no domicílio conjugal a pesquisa aponta que: a) o abandono do lar reveste-se de caráter injurioso e autoriza o pedido de indenização por dano moral, mas nem todo afastamento do lar pode ser considerado abandono; b) o fiel cumprimento do dever de vida em comum, no domicílio conjugal, quanto ao imperativo “viver juntos”, pode ser afastado em situações excepcionais, quando houver necessidade, temporaneidade e consenso entre os cônjuges; c) no que tange ao débito conjugal, considerou-se o caráter íntimo dessas relações e entendeu-se por descabida a hipótese de indenização em danos morais por abstinência sexual; d) a tentativa forçada de manter relação sexual, ainda que dentro do casamento, é indenizável. Sobre a infração grave ao dever de mútua assistência, conclui-se que: a) tanto em relação a assistência moral quanto a imaterial, a infração pode provocar danos morais e fazer surgir a pretensão indenizatória; b) a responsabilidade civil será objetiva em relação ao descumprimento do dever de assistência material, pois envolve um direito alimentar; c) a obrigação alimentar não obsta a indenização. No que tange à infração grave ao dever de sustento, guarda e educação dos filhos, entende-se que: a) quando um dos cônjuges se omite, o outro fica sobrecarregado nas obrigações para com os filhos e terá direito a indenização pelos danos decorrentes desta sobrecarga; b) não poderá um dos cônjuges tentar afastar o filho da presença do outro nem criar embaraços ao cumprimento deste dever, de modo que a pratica de ato ilícito neste sentido pode ensejar dano moral. Mediante a exposição revelou-se também, o cabimento do dano moral por infração grave ao dever de respeito e considerações mútuos, bem como por 205 205 infração aos deveres implícitos, quando houver ofensa à dignidade do outro. Esclareceu-se ainda que, as sevícias pode ensejar responsabilização. Conclui-se também que, a dissolução do casamento não é imprescindível à ação reparatória entre os cônjuges, ou seja, a indenização é cabível independentemente da ruptura do vínculo. Por fim, foi exposto que o dano não ocorre com a simples extinção da sociedade conjugal. Assim, é necessário que o Direito brasileiro considere a possibilidade de dano moral no casamento de modo que coíba graves infrações aos deveres conjugais. Dessa forma, nada impede que novas proposições possam ser oferecidas, através de novas pesquisas, bem como da análise específica de casos concretos, quando poderão ser apreciadas novas hipóteses de descumprimento que acarrete condenação entre cônjuges, de modo a atingir uma aplicação mais coerente das normas jurídicas. É preciso esclarecer que, com a característica inovadora e dinâmica das relações sociais e do direito, não será possível esgotar todas as situações de descumprimento dos deveres conjugais em que a condenação em danos morais pode ocorrer, uma vez que o que se defende no presente trabalho é que toda vez que os deveres conjugais restarem gravemente violados e esta violação gerar danos, poderá o operador do direito socorrer-se das normas da responsabilidade civil aplicáveis ao caso. 206 206 REFERÊNCIAS ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2013. ______. ______. 4. ed., rev. São Paulo: Malheiros, 2005. BAHIA: mulher é condenada a pagar R$ 50 mil por esconder que filha era de outro homem. Correio, Salvador, 30 maio 2014. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/bahia-mulher-e-condenada-apagar-r-50-mil-por-esconder-que-filha-era-de-outrohomem/?cHash=306cb2adb530bea54f099595e1935c43>. Acesso em: 23 jun. 2014. BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.960, de 2002: (Do Sr. Ricardo Fiuza). Dá nova redação aos artigos 2º, [...] e 2045 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que "Institui o Código Civil”, acrescenta dispositivos e dá outras providências. Brasília: 12 jun. 2002a. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A86 182238DE98C42AA7C06B1D2475BE1.proposicoesWeb2?codteor=50233&filename= PL+6960/2002>. Acesso em: 13 jul. 2014. ______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. ______. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. ______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 11 jan. 2002b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. ______. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 8 ago. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. ______. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Diário Oficial [da] República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, 5 jan. 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. ______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 12 jul. 2014. ______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.183.378/RS. Relator: 207 207 Min. Luis Felipe Salomão. 4. Turma. Brasília, 25 out. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 1. fev. 2012b. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&s equencial=1099021&num_registro=201000366638&data=20120201&formato=PDF >. Acesso em: 28 maio 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 382. A vida em comum sob o mesmo teto, “more uxorio”, não é indispensável à caracterização do concubinato. Diário da Justiça, Brasília, 8 maio 1964. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Sumula_do_STF_ _1_a__736.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2014. CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. ______. ______. 9. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 22. ed., rev. e atual. de acordo com a Reforma do CPC. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 5. ______. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 7. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 5. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 6. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de família : as famílias em perspectiva constitucional. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 6. ______; ______. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil. 11. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 3. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 6. ______. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 4. ed., rev. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 4. ______. Responsabilidade civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. JUSBRASIL. Crime passional. [S.l.]: 2014a. Páginas de busca por tópicos. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/292452/crime-passional>. Acesso em: 21 jun. 2014. ______. Sevícia. [S.l.]: 2014b. Páginas de busca por tópicos. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/297502/sevicia>. Acesso em: 21 jun. 2014. MADALENO, Rolf. Responsabilidade civil na conjugalidade e alimentos compensatórios. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 7., 2009, Belo Horizonte. Família e responsabilidade: teoria e prática do direito de família. Coordenado por Rodrigo da Cunha Pereira. Porto Alegre: Magister, IBDFAM, 2010. p. 473-498. 208 208 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civilconstitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Resolução nº 217 A (III), de 10 de dezembro de 1948. Declaração universal dos direitos humanos. Paris: 1948. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3oUniversal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 12 jul. 2014. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. v. 5. ______. ______. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. v. 5. ______. ______. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 5. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 8. ed., rev., atual. e ampl., com comentários ao Código civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 209 209 Doutrina Código de Defesa do Consumidor x Convenção de Montreal: qual ordenamento jurídico aplicar para garantir os direitos dos usuários de transporte aéreo internacional Claudia de Sá Cardoso Schkrab1 Resumo: O artigo enfocará a dificuldade dos aplicadores do direito ao enfrentar a busca do consumidor brasileiro pelo ressarcimento após sofrer prejuízos decorrentes de viagens internacionais. O assunto é rico em bibliografia, vez que trata-se de tema tormentoso que atormenta os jurisconsultos há longa data, razão pela qual não navegaremos em mares tranqüilos, pelo contrário, sofreremos com fortes tempestades. Inicialmente, situaremos o leitor no universo jurídico, partindo do Direito Civil até chegarmos ao embrião do tema: responsabilidade civil do transportador aéreo. Para isso utilizaremos manuais jurídicos que têm como objetivo dar uma visão panorâmica e didático-pedagógica da matéria, sob análise. Não se perquire aprofundamento teórico, vez que nesse ponto estamos ambientando o leitor ao tema, em sede de direito interno. A doutrina esta dividida basicamente em duas grandes correntes doutrinárias com entendimentos antagônicos. Desta sorte, mister se faz estabelecer parâmetros de utilização das normas, sendo que o utilizado terá como enfoque o direito do usuário. Em um segundo momento perseguiremos a origem e evolução da responsabilidade civil do transportador aéreo no âmbito nacional e internacional. O tema não poderia ser abordado sem esse retrocesso histórico para colocar o leitor no momento da edição das convenções internacionais possibilitando a compreensão das motivações de cada ordenamento jurídico que rege a matéria. Por fim chegaremos ao ponto nodal do trabalho, quando enfrentaremos o conflito aparente de normas. No final do trabalho apresentaremos a conclusão da pesquisa e um posicionamento sobre a matéria. A importância do estudo está na transformação sofrida pela aviação que deixou de ser um luxo da elite da população, mormente no mundo atual, globalizado, em que as distâncias são minimizadas. Palavras-chave: Direitos do passageiro. internacional.Ordenamento jurídico aplicável 1 210 Transporte Terceira colocada no concurso de monografias "Aloysio Maria Teixeira”, na categoria acadêmico 210 aéreo I – INTRODUÇÃO Esta pesquisa busca definir qual norma será aplicada para disciplinar a responsabilidade civil no transporte aéreo internacional, através da pesquisa do posicionamento da doutrina e jurisprudência. A importância do esclarecimento da dúvida está no fato de que a aviação com o passar dos anos, transformou-se em um importante meio de transporte de passageiros, considerado seguro (segundo meio de transporte mais seguro, perdendo apenas para o elevador) e eficiente, o que atraiu um grande número de usuários. Mas, nem sempre foi assim. No início a aviação era um negócio de risco, com dificuldade para atrair investidores, por esta razão foram elaborados tratados e convenções internacionais que protegiam o setor em formação para possibilitar a abertura de mercado. Em 1929, com o objetivo de uniformizar a regulamentação internacional do setor, foi editada a Convenção de Varsóvia, que previa indenização restrita aos usuários. Em 1999, em Montreal, a OACI – Organização de Aviação Civil Internacional - um órgão da ONU realizou uma nova convenção que substituiu o sistema varsoviano, caminhando para o equilíbrio de interesses entre transportadores e usuários. Hoje, o panorama da aviação aérea internacional é completamente distante do seu início, transformou-se em um negócio lucrativo, que envolve interesses de Estados estrangeiros, passageiros de diversas nacionalidades e companhias aéreas que alcançam várias partes do planeta. Dessa forma, é mister que se estabeleçam regras a serem utilizadas no caso de algo no contrato de transporte dar errado. O primeiro ponto a se definir na busca da solução é determinar qual a natureza do transporte aéreo, isto é, se o transporte é doméstico ou internacional. Nesse momento é importante trazer a definição de alguns conceitos necessários á compreensão da investigação. Iniciaremos com a definição de contrato de transporte 1 “contrato de transporte é o contrato pelo qual alguém se vincula, mediante retribuição, a transferir de um lugar para outra pessoa ou bens.” 1 Pontes de Miranda apud GONÇALVES, Carlos Roberto Aspectos Relevantes do Contrato de Transporte e da Responsabilidade Civil do Transportador. Revista Autônoma de Direito Privado, Curitiba: Juruá, nº 3, abr./jun.2007, fls.59. 211 211 Pontes de Miranda apud GONÇALVES, Carlos Roberto Aspectos Relevantes do Contrato de Transporte e da Responsabilidade Civil do Transportador. Revista Autônoma de Direito Privado, Curitiba: Juruá, nº 3, abr./jun.2007, fls.59. Por transporte aéreo internacional, temos o artigo 1º, alínea 2ª, da Convenção de Montreal que estabelece: “o contratado pelas partes, cujo ponto de partida e destino, haja ou não interrupção ou transbordo, estejam situados no território de dois Estados distintos, que sejam participantes da referida Convenção, ou no território de apenas um Estado, participante da Convenção, desde que prevista escala no território de qualquer outro Estado, ainda que não seja este integrante da Convenção.” A sua caracterização esta no ponto de partida ou destino sejam de países diferentes. Assim, através da pesquisa e do estudo da questão pode-se concluir que há, ainda, uma grande divergência quanto à norma que deve ser aplicada. Daí advém a necessidade de analisarmos a hierarquia de normas, sua aplicabilidade e a ponderação de interesses e, por fim chegarmos à conclusão da pesquisa. Como primeira questão norteadora temos: De que maneira a responsabilidade civil do transportador aéreo internacional de passageiros está inserida no Direito Brasileiro? Inicialmente, iremos nos situar na legislação pertinente, no âmbito interno. Assim, examinaremos o Direito Civil mais especificamente a responsabilidade civil contratual, seguindo para a responsabilidade do transportador e alcançando a responsabilidade civil pelo transporte aéreo internacional de passageiros. Continuaremos a jornada perguntando: Qual foi a origem da responsabilidade civil do transportador aéreo e sua evolução no âmbito nacional e internacional? O estudo da origem é fundamental para entendermos onde está a ligação entre os dois ordenamentos jurídicos passíveis de aplicação e posteriormente o porquê das diferentes correntes doutrinárias defenderem posicionamentos antagônicos. No âmbito nacional, a responsabilidade civil pelos danos oriundos da navegação aérea era regulada pelo Código Civil, em seguida vieram o Código Brasileiro do Ar de 1938, o novo Código Brasileiro do Ar de 1967, culminando com o Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986, os quais possuem disciplina igual à da Convenção de Varsóvia. 212 212 A Constituição Federal de 1988, alterou o panorama jurídico nacional aproximando-o da realidade. As novidades alcançaram a responsabilidade civil do transportador aéreo. Desta forma, o sistema varsoviano de responsabilidade civil do transportador aéreo, passou a ser questionado pelos operadores do direito, vez que para alguns era incompatível com a atual Carta Magna. No âmbito internacional, temos a convenção de Montreal, cujo papel é de modernizar os critérios de indenização pré-estabelecido na Convenção de Varsóvia. Nesse momento da pesquisa seremos capazes de esclarecer o seguinte questionamento: Existe um conflito de normas na aplicação da responsabilidade do transportador aéreo? Em regra, encontramos conflitos aparentes na legislação interna de um país. No caso sob exame, a doutrina está dividida em duas correntes com entendimentos diametralmente opostos. Assim, a pergunta seguinte só poderia ser: qual o ordenamento jurídico aplicável? sendo certo que a resposta dependerá de extensa análise das questões anteriores. Para alcançar o intento da pesquisa e resolver as questões norteadoras, deve-se lançar mão de objetivos específicos, alcançados ao longo da construção da pesquisa. A pesquisa se justifica pela relevância social, uma vez que cresce a cada dia o transporte aéreo de passageiros e com o aumento dos vôos, eleva-se também os riscos corridos pelos usuários. Nesse caso, a importância do artigo está no fato de que se trata de um direito de cunho social e aplicação no dia/dia dos usuários, sendo certo que, como todo direito, é a tradução dos anseios e da realidade social do seu tempo. Ademais, é importante ressaltar que o acréscimo dos danos aos usuários geram um número cada vez maior de ações no judiciário, o que por si só já justificaria o tema do artigo, além do que trata-se de fonte de pesquisa para o exercício do cargo de assessoria ao órgão julgador da 2ª instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual desempenho. Dentro do universo do transporte aéreo, várias questões podem suscitar prejuízos para o usuário como: extravio de bagagem, overbooking, atraso ou cancelamento de vôos, etc. A aviação, como é cediço, depende das condições meteorológicas e das condições operacionais dos aeroportos. Fatores adversos decorrentes do clima e dos equipamentos de auxílio à navegação aérea podem ser determinantes. 213 213 A atividade aeronáutica, atualmente, conta com avançada tecnologia e com grandes empresas, prestando um de serviço em massa, o que acarreta a necessidade da proteção destes pelo ordenamento jurídico. 214 214 II – A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DIREITO BRASILEIRO 2.1. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL Inicialmente devemos compreender o que é a responsabilidade civil e para tal precisamos de alguns conceitos básicos. Em singelas palavras, a responsabilidade surge da violação de um dever jurídico preexistente (obrigação) e gera o dever de reparar o dano. Ocorre que a responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual dependendo se o dever jurídico preexistente violado decorre de contrato ou de lei, respectivamente. Na responsabilidade contratual já existe relação jurídica entre as partes, ao contrário da responsabilidade extracontratual, onde é o fato danoso que estabelece esse laço, segundo Aguiar Dias1. A doutrina pondera que é importante diferenciar que, em regra, na responsabilidade contratual, a culpa é presumida (ou seja, a vítima só tem que demonstrar o inadimplemento da obrigação), salvo se se tratar de obrigação de meio em que a culpa será provada, que é a regra na responsabilidade extracontratual e subjetiva, onde cabe a vítima fazer a prova da culpa. Sobre responsabilidade civil extracontratual é oportuno trazer a lição do Des.Sergio Cavalieri Filho2, segundo o qual: “Sempre que quisermos saber quem é o responsável teremos que identificar aquele a quem a lei imputou a obrigação, porque ninguém poderá ser responsabilizado por nada sem ter violado dever jurídico preexistente. ” 2.1.1 ORIGEM Há controvérsias sobre a origem da responsabilidade contratual, entretanto a doutrina leciona que foram os juristas franceses, na época da revolução industrial, os responsáveis pelo seu ressurgimento nos tempos modernos. Na época eram comuns os acidentes nas indústrias e nos meios de transporte, devido a falta de preparo para a função. O objetivo dos juristas franceses foi evitar que as vítimas tivessem que provar a culpa do empregador ou transportador pautados na pré-existência de uma relação jurídica entre as partes, onde a obrigação já lhes é conhecida. 1 2 AGUIAR DIAS apud CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.148 Ibid., p. 275 215 215 2.1.2 CONCEITO O muitas vezes citado Cavalieri, leciona que1 “ é infração a um dever especial estabelecido pela vontade dos contraentes, por isso decorrente de relação obrigacional preexistente” e mais a diante completa52 “todas as vezes que o dever jurídico violado tem a sua fonte em um contrato, em um negócio jurídico pelo qual o próprio devedor se obrigou, teremos a responsabilidade contratual.” 2.1.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL Registra o insigne professor Cavalieri que são necessários 3 pressupostos: a existência de um contrato válido entre o devedor e o credor; a inexecução do contrato; dano e relação de causalidade entre este e o inadimplemento. Se o contrato possuir alguma causa de invalidade, não se forma e consequentemente não produz efeito, não gera obrigação e muito menos indenização. Com relação ao segundo requisito, ele está presente porque quando o devedor descumpre o contrato, faz nascer uma nova obrigação que se coloca no lugar da primeira. No feliz registro do professor Aguiar Dias 3,“obrigação de reparar o prejuízo conseqüente à inexecução da obrigação assumida.” É importante lembrar que o caso fortuito e a força maior afastam a responsabilidade do devedor, nos termos do artigo 393 do Novo Código Civil. E por fim, o artigo 403, do Novo Código Civil dispõe que deve existir uma relação direta e imediata entre a inexecução e o dano. 3.1. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR 3.1.a CONTRATO DE TRANSPORTE O Código Civil de 1916 não fez referência ao contrato de transporte porque seu projeto foi elaborado por Clóvis Beviláqua, próximo da virada para o século XX, quando o transporte coletivo ainda encaminhava. Em 1912, foi editado o Decreto nº 2.681, mais conhecido como Lei das Estradas de Ferro, a primeira legislação que tratou da responsabilidade do transportador. Inicialmente, destinava-se apenas aos conflitos surgidos no transporte envolvendo estradas de ferro, porém, em razão da sua atualização para 1 2 3 216 Ibid., p.276. Ibid., p.278. AGUIAR DIAS apud CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.281. 216 a época, foi utilizada, analogicamente, para solucionar questões referentes ao transporte terrestre, até ser revogada pelo Novo Código Civil. É importante lembrar que foi a doutrina francesa que reviveu a responsabilidade contratual, com o objetivo de facilitar a situação jurídica dos passageiros já que, não precisa mais provar a culpa do transportador, que possui o dever de levar o passageiro, são e salvo, ao seu destino. De acordo com Cavalieri, apesar do artigo 17, do supracitado Decreto, falar em culpa presumida, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros era objetiva, vez que não permitia ao transportador provar que não teve culpa. Só poderia afastar a responsabilidade com as causas de exclusão do nexo causal, sendo certo que se fosse culpa presumida para afastar a responsabilidade bastaria provar que não agiu com culpa. Esse é o posicionamento do Novo Código Civil, nos termos do artigo 734. 3.1.1. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Trata-se de contrato de adesão, vez que as cláusulas já estão previamente definidas quando da aceitação pelo passageiro. É ainda consensual, bilateral, oneroso, comutativo, não formal e possui cláusula de incolumidade, nos dizeres de Cavalieri1. 9 Ibid., p.29. 3.1.2. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO 3.1.3 BREVE HISTÓRIA DA AVIAÇÃO O autor Paulo Henrique de Souza Farias leciona2 que, no mundo, o primeiro voo com decolagem, em máquina voadora mais pesada que o ar, com meios próprios e controlado, ocorreu em outubro de 1906, no campo de Bagatelle, na França, com a aeronave chamada 14 bis, efetuado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont. Mais a frente completa que as primeiras viagens aéreas regulares foram realizadas durante a primeira Guerra Mundial, pelo postal. serviço de comunicação 3 O transporte aéreo no Brasil teve início em 1927 porém, apenas no período entre 1940 e 1960 é que houve uma expansão no setor. 1 2 3 CAVALIERI FILHO ,op. cit., p. 294. FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Juarez de Oliveira, 2003.p.27. Ibid., p.29. 217 217 A modernização das aeronaves na década de 60 ajudaram a reduzir os custos, porém limitou os serviços às cidades maiores. Apenas, a partir de 1975 foi criado um sistema de transporte regional. O número maior de aeronaves aliado ao fluxo de viagens aumentou o risco de acidentes. O Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já falecido, Fernando Celso Guimarãres, aduz que1, “[...]Nos primórdios da aviação comercial, quando a tecnologia aeronáutica mal deixara o berço, engatinhando nas pranchetas dos primeiros expertos da engenharia aérea, para se lançar à aventura das viagens pelos ares, a elevação do home às alturas, por meio de engenhocas e equipamentos que até aos menos desavisados pareciam contrariar as leis da natureza, envolvia riscos de toda ordem, capazes mesmo de desestimularem os espíritos mais aventureiros. ” O Departamento de Aviação Civil já divulgou que com um crescimento de 7% ao ano, no transporte aéreo, em 2010 ocorrerá um grave acidente aéreo, a cada 10 ou 15 dias. 2.2.4. TRANSPORTE AÉREO INTERNO A responsabilidade civil pelos danos oriundos da navegação aérea era regulada pelo Código Civil, por força do art. 84 do Decreto nº 16.983, 1925, que aprovou o primeiro Regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aérea. Após, veio o Código Brasileiro do Ar de 1938 (Decreto-Lei nº 483, de 08.06.1938), sobreveio o novo Código Brasileiro do Ar de 1967 (Decreto-Lei nº 32, de 18.11.1966), culminando com o Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986 (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986), que estabelece no artigo 215 o que é transporte interno2: “Considera-se doméstico e é regido por este Código todo transporte em que os pontos de partida, intermediário e de destino estejam situados em território nacional.” O artigo 22, XI, da Constituição Federal, estabelece que é privativo à União legislar sobre trânsito e transporte3. De acordo com Cavalieri1, o Código Brasileiro de Aeronáutica possui duas peculiaridades: a presunção 1 2 3 218 GUIMARÃES apud FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Editora Juarez de Oliveira, 2003.p.133. UCHÔA, André. Responsabilidade civil do transportador aéreo: tratados internacionais, leis especiais e código de proteção e defesa do consumidor.Rio de Janeiro: Renovar, 2002.p.13. FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Juarez de Oliveira, 2003.p. 96. 218 de responsabilidade não poderá ser elidida por fortuito interno ou externo e nem em fato exclusivo de terceiro. Apenas a culpa exclusiva do passageiro ou seu estado de saúde precário podem afastar a responsabilidade do transportador aéreo nacional. Nos termos dos artigos 246 e 257, do Código Brasileiro de Aeronáutica, a responsabilidade é tarifada. A justificativa é a viabilização do serviço aéreo sob pena de quebra das empresas aéreas. Cavalieri sustenta que o Código de Defesa do Consumidor derrogou esses dispositivos vez que essas empresas são prestadoras de serviço público, logo tem responsabilidade objetiva integral (artigo 22 e § único do Código de Defesa do Consumidor) e devem respeitar o regime de indenização integral previsto nos artigos 6º, I e VI, 25 do Código Consumerista. O mestre, mais adiante sustenta que, o Código de Defesa do Consumidor é posterior ao Código Brasileiro de Aeronáutica e por serem ambas leis nacionais o primeiro deve prevalecer. Ademais, continua o professor 2. “ [...]ao assim fazer, disciplinou não só aquilo que ainda não estava disciplinado como, ainda, alterou a disciplina que já existia em leis especiais, vale dizer concentrou em um único diploma a disciplina legal de todas as relações contratuais e extracontratuais do mercado de consumo brasileiro.” É importante lembrar que nos casos de dolo ou culpa grave do transportador, dispõe o artigo 248, do Código Brasileiro de Aeronáutica que a responsabilidade deixa de ser limitada e passa a ser regida pelo direito comum. 2.2.5 TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 2.2.5.1.CONCEITO O Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelece no artigo 1º3, “O Direito Aeronáutico é regulado pelos tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação complementar.” Juan A. Lena Paz4, conceitua Direito aeronáutico internacional, “Como o que pode ser caracterizado pelo conjunto de normas convencionadas pelos Estados, para dar regras à navegação aérea internacional e às relações jurídicas, públicas e privadas.” O aludido mestre leciona que5, 1 2 3 4 5 op. cit., p. 326 Ibid, p.327. FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Editora Juarez de Oliveira, 2003.p.54. PAZ apud FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Editora Juarez de Oliveira, 2003.p37. Ibid, p.38 219 219 Considera-se "transporte aéreo internacional" o contratado pelas partes, cujo ponto de partida e destino, haja ou não interrupção ou transbordo, estejam situados no território de dois Estados distintos, que sejam participantes da referida Convenção, ou no território de apenas um Estado, participante da Convenção, desde que prevista escala no território de qualquer outro Estado, ainda que não seja este integrante da Convenção (art. 1º, alínea 2ª da Convenção de Montreal). Há duas correntes sobre à validade dos tratados internacionais. A primeira é a corrente dualista segundo a qual só se aplica o Direito internacional, quando recepcionado no Direito interno. Não existe conflito vez que não são diferentes. Já a teoria monista, defende um sistema único e se divide em 3 correntes: nacionalistas, que defendem a hierarquia superior do direito interno em razão da Constituição Federal. Os internacionalistas são da opinião contrária devendo prevalecer a norma internacional sob pena de descrédito do Estado. Por fim os jusnaturalistas que pregam o desprezo de ambos os ordenamentos em prol do Direito natural. 2.2.5.2. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO No início da aviação, havia muita resistência por parte dos investidores em função dos riscos que a nova atividade oferecia. Por essa razão foram elaborados tratados e convenções internacionais, para possibilitar a abertura do promissor mercado. - Convenção de Varsóvia Em 1929, responsabilidade foi das elaborada empresas a Convenção aéreas, com o de Varsóvia, objetivo de pioneira na uniformizar a regulamentação internacional do setor, consagrou um sistema de responsabilidade civil limitada, responsabilidade contratual subjetiva das empresas transportadoras, com culpa presumida e inversão do ônus da prova. O Sistema de Varsóvia tinha como cerne a indenização célere, mas limitada, superável, apenas quando houvesse dolo ou culpa grave. Foi criado para atenuar a responsabilidade e a carga indenizatória do transportador. Proteção ao setor e não ao usuário Os prejuízos, devem ser indenizados de acordo com os limites constantes da tabela de valores pré-determinada pelos tratados internacionais, salvo se comprovar caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima . 220 220 Após a Segunda Guerra Mundial houve um aumento do transporte aéreo internacional e consequentemente de acidentes. Surgiu a necessidade da atualização dos valores indenizatórios do Sistema de Varsóvia. Os EUA denunciaram, em 1965, a Convenção de Varsóvia. Foi o primeiro cisma do Sistema de Varsóvia. Em seguida aconteceram outras reações. O sistema de Varsóvia sofreu várias emendas, dentre elas o Protocolo de Haia, em 1955 e o Protocolo de Guatemala, de 1971, seguidos pelos protocolos Adicionais de Montreal nos 1, 2, 3 e 4 de 1975, os quais converteram o FrancoOuro ou Poincaré para os Direitos Especiais de Saque (moeda escritural criada pelo FMI, utilizada como reserva dos Estados), culminando com a Convenção de Montreal, em 28 de maio de 1999. - Convenção de Montreal Em 28 de Maio de 1999, reunidos na sede da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), em Montreal, 582 representantes de 118 Estados e 11 organizações internacionais preparavam-se para a Convenção para a Unificação de Certas Regras para o Transporte Aéreo Internacional com o objetivo (art. 55 e em seu preâmbulo) de modernizar e consolidar os diversos instrumentos integrantes do Sistema de Varsóvia, através da adoção de um instrumento único, uniforme e passível de ratificação. Só poderia entrar em vigor no sexagésimo (60º) dia a contar do depósito do trigésimo (30º) instrumento de ratificação pelos Estados (art. 53). Vale lembrar que a nova legislação só entrou em vigor, no Brasil, após ser promulgada pelo Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006 só podendo ser aplicada quando ratificada pelos países de origem e de destino do vôo. Caso contrário, vale o Sistema de Varsóvia. - Da responsabilidade civil do transportador na convenção de Montreal - Inovações: Entre as inovações da Convenção de Montreal, destaca-se a criação do sistema dúplice de responsabilidade, além da modificação do critério de avaliação, no caso do extravio de bagagens Assim nos casos de morte ou lesão corporal, a responsabilidade do transportador é considerada objetiva até o limite de US$ 120.000. Na parte que superar esse valor, é subjetiva. Assim a convenção de Montreal simplificou e modernizou os documentos de transporte; aumentou os limites de responsabilidade em caso de atraso no transporte de passageiros destruição, perda ou atraso no transporte de; criou um 221 221 mecanismo automático para a revisão de limites; estabeleceu o pagamento adiantado em caso de acidente, para assistência imediata, em conformidade às exigências da lei nacional, dedutível do quantum outorgado a posteriori a título de indenização; - Benefícios para o usuário: Atualizou os limites de responsabilidade civil, com a aceitação de revisões periódicas; permitiu a estipulação contratual de limites mais elevados de compensação ou, até mesmo de responsabilidade ilimitada, e possibilitou a antecipação de pagamentos compensatórios às vítimas de sinistros aéreos. Outra inovação da Convenção de Montreal é a previsão de dois níveis de compensações. Um é o pagamento compulsório, que deve ser feito imediatamente depois do acidente, mediante comprovação dos danos -- ao contrário do que acontece hoje, quando qualquer quantia só é paga mediante demanda judicial ou quando a empresa operadora concorda em pagar o valor acordado entre as partes. O segundo nível de indenização se baseia na presunção de culpa da transportadora, sem que haja limite de responsabilidade. A Convenção de Montreal também inova quanto às jurisdições nas quais poderão tramitar os processos. Pelas regras que ainda vigoram no Brasil, as vítimas e respectivas famílias só podem recorrer na jurisdição onde residem, desde que a empresa aérea opere no local. Pelo novo sistema, a nacionalidade do passageiro não importa para fins de fixação dessa jurisdição, mas, sim, o local de sua residência ou domicílio no momento do acidente. Além disso, também serão considerados para efeito de jurisdição o local do domicílio da empresa aérea, o local da matriz ou filial da empresa; local de contratação do bilhete de passagem e, finalmente, o local de destino do vôo contratado pela vítima do sinistro. 2.2.6 CONFLITO APARENTE DE NORMAS O Brasil ratificou os diversos tratados internacionais acerca da responsabilidade civil do transportador aéreo, internalizando suas disposições mediante publicação de Decreto presidencial. No entanto normas legislativas internas foram criadas limitando, e até retirando, privilégios outorgados pela normatização internacional, mediante a expansão dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/1990), editado em observância ao direito fundamental consagrado no art. 5o, XXXII da Carta Constitucional, consagrou o princípio da restitutio in integrum (reparação 222 222 integral dos danos sofridos), calcada na responsabilidade objetiva (independente de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocasionado), sempre que houver prejuízos decorrentes de uma relação de consumo. Isso acabou por gerar um aparente conflito de normas entre os regimes jurídicos interno (CDC) e internacional (Convenção de Montreal), no que se refere à responsabilidade civil consumerista. Passou do a transportador aéreo comunidade jurídica a decorrente de uma relação questionar a incidência da Convenção Internacional ou do diploma interno de proteção e defesa do consumidor , havendo posição de ambos os lados. Na realidade, não se discute a supremacia de uma norma sobre outra, e sim a aplicabilidade da norma nacional mais recente naquilo que for contrária ao tratado, ou a sua aplicabilidade de forma subsidiária à norma internacional, no que esta for vaga. Paulo Henrique de Souza Freitas já definia que a maior divergência existente sobre o tema está em se estabelecer se será aplicada as Convenções Internacionais, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. Sustentam os defensores da aplicabilidade do Código Cosumerista que a indenização limitada dos tratados são inconstitucionais vez que impõem um risco não criado ao consumidor. Antonio Herman V.Benjamin, citado por Paulo Henrique de Souza Freitas, disciplina que, “[...] no que tange a limitação da responsabilidade civil, tanto a Convenção, como o Código Brasileiro de Aeronáutica padecem de doença incurável, posto que de fundo constitucional. O resultado é que havendo relação jurídica de consumo, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se, inteiramente, ao transporte aéreo, doméstico ou internacional, na medida em que, tacitamente (por incompatibilidade) – (Lei de Introdução ao Código Civil, art.2º, inc. 1º)revogou ele os privilégios estatutários da indústria, principalmente quando garante, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Nessa linha, é imprescindível trazer à colação o Informativo nº525, referente ao Recurso Especial nº 1.202.013, de São Paulo, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em, 18 de junho de 2013, bem como o Informativo nº 0490 referente ao Recurso Especial nº1.281.090, de São Paulo, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em, 07 de fevereiro de 2012 ambos, pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Terceira Turma DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS DECORRENTES DA QUEDA DE AERONAVE. É de cinco anos o prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento de danos sofridos pelos moradores de casas atingidas pela queda, em 1996, de aeronave pertencente a pessoa jurídica nacional e de direito privado prestadora de serviço de transporte aéreo. Isso porque, na hipótese, verifica-se a configuração de um fato do serviço, ocorrido no âmbito de relação de consumo, o que enseja a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. Com efeito, nesse contexto, enquadra-se a sociedade 223 223 empresária no conceito de fornecedor estabelecido no art. 3º do CDC, enquanto os moradores das casas atingidas pela queda da aeronave, embora não tenham utilizado o serviço como destinatários finais, equiparam-se a consumidores pelo simples fato de serem vítimas do evento (bystanders), de acordo com o art. 17 do referido diploma legal. Ademais, não há dúvida de que o evento em análise configura fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, em consonância com o disposto do art. 14 do CDC. Importante esclarecer, ainda, que a aparente antinomia entre a Lei 7.565/1986 — Código Brasileiro de Aeronáutica —, o CDC e o CC/1916, no que tange ao prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento em caso de danos sofridos por terceiros na superfície, causados por acidente aéreo, não pode ser resolvida pela simples aplicação das regras tradicionais da anterioridade, da especialidade ou da hierarquia, que levam à exclusão de uma norma pela outra, mas sim pela aplicação coordenada das leis, pela interpretação integrativa, de forma a definir o verdadeiro alcance de cada uma delas à luz do caso concreto. Tem-se, portanto, uma norma geral anterior (CC/1916) — que, por sinal, sequer regulava de modo especial o contrato de transporte — e duas especiais que lhe são posteriores (CBA/1986 e CDC/1990). No entanto, nenhuma delas expressamente revoga a outra, é com ela incompatível ou regula inteiramente a mesma matéria, o que permite afirmar que essas normas se interpenetram, promovendo um verdadeiro diálogo de fontes. A propósito, o CBA regula, nos arts. 268 a 272, a responsabilidade do transportador aéreo perante terceiros na superfície e estabelece, no seu art. 317, II, o prazo prescricional de dois anos da pretensão de ressarcimento dos danos a eles causados. Essa norma especial, no entanto, não foi revogada, como já afirmado, nem impede a incidência do CDC quando evidenciada a relação de consumo entre as partes envolvidas. Destaque-se, por oportuno, que o CBA não se limita a regulamentar apenas o transporte aéreo regular de passageiros, realizado por quem detenha a respectiva concessão, mas todo serviço de exploração de aeronave, operado por pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, com ou sem fins lucrativos. Assim, o CBA será plenamente aplicado, desde que a relação jurídica não esteja regida pelo CDC, cuja força normativa é extraída diretamente da CF (art. 5º, XXXII). Ademais, não há falar em incidência do art. 177 do CC/1916, diploma legal reservado ao tratamento das relações jurídicas entre pessoas que se encontrem em patamar de igualdade, o que não ocorre na hipótese. REsp 1.202.013-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2013. Quarta Turma RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PRESCRIÇÃO. CONFLITO ENTRE O CBA E O CDC In casu, busca-se saber qual o prazo de prescrição aplicável à pretensão daquele que alegadamente experimentou danos morais em razão de acidente aéreo ocorrido nas cercanias de sua residência. Em 2003, a recorrida ajuizou ação objetivando indenização por danos morais contra a companhia aérea ora recorrente, noticiando que, em 1996, o avião de propriedade desta caiu a poucos metros de sua casa. Alegou que o acidente acarretou-lhe incapacidade para continuar trabalhando em seus afazeres domésticos durante longo período, em razão do abalo psicológico gerado pelo acidente. O juízo singular julgou extinto o feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, aplicando ao caso o prazo bienal previsto no art. 317, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). O tribunal de justiça aplicou a prescrição vintenária prevista no CC/1916, anulando a sentença e determinando novo julgamento. Sobreveio o REsp, no qual sustenta a recorrente, em síntese, omissão no acórdão recorrido e prescrição da pretensão indenizatória do autor, seja pela aplicação do prazo bienal previsto no CBA seja pela aplicação quinquenal prevista no CDC. A Turma entendeu que não se aplica o prazo geral prescricional do CC/1996, por existirem leis específicas a regular o caso, entendimento sufragado no REsp 489.895-SP. Apesar de o terceiro – vítima do acidente aéreo – e o transportador serem, respectivamente, consumidor por equiparação e fornecedor, o fato é que o CDC não é o único diploma a disciplinar a responsabilidade do transportador por danos causados pelo serviço prestado. O CBA disciplina também o transporte aéreo e confere especial atenção à responsabilidade civil do transportador por dano tanto a passageiros quanto a terceiros na superfície. Não obstante isso, para além da utilização de métodos clássicos para dirimir conflitos aparentes entre normas, busca-se a força normativa dada a cada norma pelo ordenamento constitucional vigente, para afirmar que a aplicação de determinada lei – e não de outra – ao caso concreto é a solução que melhor realiza as diretrizes insculpidas na lei fundamental. Por essa ótica hierarquicamente superior aos métodos hermenêuticos comuns, o conflito entre o CDC 224 224 e o CBA – que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor – deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Assim, as vítimas de acidentes aéreos localizadas em superfície são consumidores por equiparação (bystanders), devendo ser a elas estendidas as normas do art. 17 do CDC, relativas a danos por fato do serviço. De qualquer modo, no caso em julgamento, a pretensão da autora está mesmo fulminada pela prescrição, ainda que se aplique o CDC em detrimento do CBA. É que os danos alegadamente suportados pela autora ocorreram em outubro de 1996, tendo sido a ação ajuizada somente em maio de 2003, depois de escoado o prazo de cinco anos a que se refere o art. 27 do CDC. Diante dessa e de outras considerações a Turma deu provimento ao recurso. Precedente citado: REsp 489.895-SP, DJe 23/4/2010. REsp 1.281.090-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/2/2012. Cumpre destacar que o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor 1 estabelece que os tratados ou convenções internacionais só serão aplicáveis quando aumentam os direitos dos consumidores nunca para suprimi-los. Antes do advento da Convenção de Montreal (1999) existia ainda o argumento de que os tratados ao serem ratificados possuem força de lei ordinária podendo ser revogado por lei posterior. In casu, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, teria revogado à Convenção de Varsóvia/Haia respectivamente de 1929 e 1955. A professora Cláudia Lima Marques, confirma que não existe mais a superioridade do Tratado sobre a Constituição e leciona que o conflito entre a lei interna e externa continua. O mestre Eduardo Arruda Alvim elenca que fazem parte dessa corrente Nelson Nery Jr.,Rosa Maria B.B. de Andrade Nery, Antônio Herman V. Benjamin e Carlos Roberto Gonçalves. Defendendo posição diametralmente oposta Luis Camargo Pinto de Carvalho aponta que os povos cultos limitam a responsabilidade do transportador aéreo por tratados internacionais. Ademais, trata-se de lei (Código Brasileiro de Aeronáutica) especial. Este também é o entendimento de José da Silva Pacheco, segundo o qual o tratado prevalece sobre a lei interna. Art. 7º - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 1 225 225 Arnaldo Susseking, Ricardo Alvarenga e José Gabriel Assis de Almeida, por sua vez defendem a preponderância do Direito internacional sobre o Direito nacional sendo que o último aduz que, “[...] só é possível haver transporte aéreo internacional no Brasil porque o Estado Brasileiro subscreveu e ratificou a Convenção de Varsóvia e outros tratados internacionais que disciplinam o tráfico aéreo internacional, e assim, comprometeu a respeitar esses tratados, e por isso... o Brasil não é livre ( como não o são os demais Estados signatários) para regular diferentemente do estabelecido nesses tratados, a matéria da responsabilidade civil emergente de transporte aéreo internacional.” O Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado a fato ocorrido no estrangeiro. Para o aludido autor o Código Brasileiro de Aeronáutica só será aplicado na omissão da convenção. Para esses autores o país que adere a um tratado internacional, está obrigado a cumpri-lo sob pena de por em risco a subsistência da navegação aérea e conseqüente responsabilidade na esfera internacional. Outro argumento utilizado a favor da limitação é que o risco deve ser repartido com o usuário, sendo certo que trata-se de pessoa de condição econômica privilegiada que aceita o risco em troca da velocidade do transporte. Elio Monnerat Solon Pontes1 19, afirma que, “[...] é lamentável que, por inadvertência ou sumário desconhecimento, a Suprema Corte de qualquer país se aventure a sobrepor-se à ordem jurídica internacional, mediante a banalização de normas de caráter internacional livre, consciente, formal e espontaneamente acolhidas pelos poderes constituídos competentes e incorporadas definitivamente, ao direito positivo de qualquer país, admitido sua derrogação ou abrogação sem prévia denúncia dos atos de que se originam.” Para Paulo Henrique de Souza Freitas, não há inconstitucionalidade no tratado que limita a indenização no transporte aéreo vez que decorrente de acordo bilateral de vontade entre passageiro e transportador aéreo. Ademais, com a responsabilidade limitada o transportador aéreo pode programar-se para eventuais indenizações. Antes do advento da Convenção de Montreal (1999) o posicionamento dos juristas do Direito aeronáutico era de que o critério correto a ser adotado era o da especificidade, vez que o Código de Defesa do Consumidor, é norma de caráter geral ao passo que os tratados são normas especiais. Dessa forma, norma geral não revoga norma especial. 1 226 PONTES apud FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Editora Juarez de Oliveira, 2003. 226 Atualmente, vários desses argumentos não podem mais ser utilizados vez que a Convenção de Montreal é posterior ao Código de Defesa do Consumidor. Apesar disso, prevalece a aplicação do Código Consumerista sob o fundamento de que este foi editado em observância a direito fundamental consagrado no artigo 5º, XXXII, da Constituição da República. Ademais, a indenização limitada, mantida na Convenção de Montreal é inconstitucional por impor risco não criado ao consumidor. Não se pode esquecer do artigo 7º do Código do Consumidor. Ademais, o argumento do risco repartido não tem mais lugar no mundo de conglomerados das empresas aéreas. Não se pode olvidar que a proteção e a defesa do consumidor são princípios constitucionais, que afastam a hipótese de aplicação da responsabilidade limitada. Cumpre ressaltar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem interpretado a questão do aparente conflito de normas de forma a atribuir ao transportador aéreo a responsabilidade objetiva, não suprimindo nem mesmo as hipóteses de caso fortuito e força maior. Igualmente, tem adotado o princípio da reparação na extensão integral do dano sofrido, consagrando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos casos de responsabilidade civil do transportador aéreo e afastando a Convenção de Montreal, em relação ao tema. Segundo entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 80.004/SE, a Constituição da República se sobrepõe aos tratados e convenções ratificados pelo Brasil, os quais se integram ao ordenamento jurídico pátrio com a mesma força de leis infraconstitucionais. Desta forma, a convenção de Montreal é incompatível com o regime de defesa e proteção do consumidor instituído pela constituição. Com relação à jurisprudência, os Tribunais dos Estados já viam aplicando o Código de defesa do consumidor . No STJ, havia divergência jurisprudencial entre a 3ª e 4ª turmas, que formam a 2º Seção de Direito Privado. A 3ª Turma já decidia no sentido da aplicação do Código de defesa do consumidor. O STJ, manifestou entendimento confirmando a aplicação do Código consumerista 36 O mundo mudou, razão pela qual devemos olhar novamente para as companhias aéreas e afastar a imagem da ousadia dos primeiros inventores. Hoje vemos conglomerados econômicos e empresas lucrativas, ao passo que vai longe o tempo em que era compreensível admitir a divisão do prejuízo com o passageiro. CONCLUSÃO A primeira questão norteadora (De que maneira a responsabilidade civil do transportador aéreo internacional de passageiros está inserida no Direito 227 227 Brasileiro?) foi abordada através do panorama apresentado no tópico Responsabilidade civil e o Direito Brasileiro, onde conceituamos a responsabilidade civil e a dividimos em contratual e extracontratual, tendo sido apresentada a origem e seus pressupostos . Após, aprofundamos para a responsabilidade do transportador, relembrando o que é o contrato de transporte de passageiros e quais são suas características para finalmente chegarmos na responsabilidade do transportador aéreo. Antes, porém foi apresentada a história da aviação e da legislação brasileira sobre o tema. Neste ponto respondemos a segunda questão norteadora: Qual foi a origem da responsabilidade civil do transportador aéreo e sua evolução no âmbito nacional e internacional? Com a terceira questão (Existe um conflito de normas na aplicação da responsabilidade do transportador aéreo?) caminhamos para o ápice do trabalho. Apresentamos as duas correntes que abordam o tema e, por fim, nos posicionamos pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo após a assinatura da Convenção de Montreal, sob o fundamento da base constitucional do Código, aliado a inconstitucionalidade da indenização limitada, com fulcro no artigo 7º, do Código Consumerista. O Código Consumerista é o diploma mais adequado à realidade atual e à linha principiológica constitucional brasileira, na medida em que expande os direitos da parte vulnerável na relação jurídica de consumo, restando afastada, por conseguinte, a aplicação das ultrapassadas normas internacionais, no que se refere à responsabilidade civil do transportador aéreo. 228 228 REFERÊNCIAS CAVALCANTI, André Uchôa. Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo: tratados internacionais, leis especiais e Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 1.ed.Rio de Janeiro: Renovar, 2002. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. FREITAS, Paulo Henrique de Souza. Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico. 1. ed. São Paulo : Editora Juarez de Oliveira, 2003. GONÇALVES, Carlos Roberto. Aspectos Relevantes do Contrato de Transporte e da Responsabilidade Civil do Transportador. Revista Autônoma de Direito Privado, Curitiba: Juruá, nº 3, abr./jun.2007. PACHECO, José da Silva. Da nova Convenção sobre o Transporte Aéreo Internacional de 28 de maio de 1999.Revista Brasileira de Direito Aéroespacial . Rio de Janeiro: Disponível em WWW.sbda.org.br.Acesso em 12 jan,2009. 229 229
Download