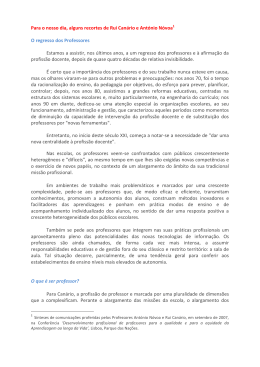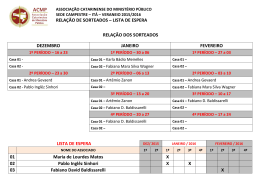FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO FACULDADE CASTELO BRANCO CONTOS SELECIONADOS – Vest - 2014 Conto 1- Apelo Dalton Trevisan Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor. http://www.releituras.com/daltontrevisan_apelo.asp 2- CONTO DE VERÃO Nº 2: BANDEIRA BRANCA - Luís Fernando Veríssimo Disponível em http://revistatrip.uol.com.br/revista/221/salada/conto-de-verao-nordm-2-bandeirabranca.html Ele: tirolês. Ela: odalisca. Eram de culturas muito diferentes, não podia dar certo. Mas tinham só quatro anos e se entenderam. No mundo dos quatro anos todos se entendem, de um jeito ou de outro. Em vez de dançarem, pularem e entrarem no cordão, resistiram a todos os apelos desesperados das mães e ficaram sentados no chão, fazendo um mantinha de confete, serpentina e poeira, até serem arrastados para casa, sob ameaças de jamais serem levados a outro baile de Carnaval. Encontraram-se de novo no baile infantil do clube, no ano seguinte. Ele com o mesmo tirolês, agora apertado nos fundilhos, ela de egípcia. Tentaram recomeçar o mantinha, mas dessa vez as mães reagiram e os dois foram obrigados a dançar, pular e entrar no cordão, sob ameaça de levarem uns tapas. Passaram o tempo todo de mãos dadas. Só no terceiro Carnaval se falaram. — Como é teu nome? — Janice. E o teu? — Píndaro. — O quê?! — Píndaro. — Que nome! Ele de legionário romano, ela de índia americana. *** Só no sétimo baile (pirata, chinesa) desvendaram o mistério de só se encontrarem no Carnaval e nunca se encontrarem no clube, no resto do ano. Ela morava no interior, vinha visitar uma tia no Carnaval, a tia é que era sócia. — Ah. Foi o ano em que ele preferiu ficar com a sua turma tentando encher a boca das meninas de confete, e ela ficou na mesa, brigando com a mãe, se recusando a brincar, o queixo enterrado na gola alta do vestido de imperadora. Mas quase no fim do baile, na hora do Bandeira branca, ele veio e a puxou pelo braço, e os dois foram para o meio do salão, abraçados. E, quando se despediram, ela o beijou na face, disse “Até o Carnaval que vem” e saiu correndo. No baile do ano em que fizeram 13 anos, pela primeira vez as fantasias dos dois combinaram. Toureiro e bailarina espanhola. Formavam um casal! Beijaram-se muito, quando as mães não estavam olhando. Até na boca. Na hora da despedida, ele pediu: — Me dá alguma coisa. — O quê? — Qualquer coisa. — O leque. O leque da bailarina. Ela diria para a mãe que o tinha perdido no salão. *** No ano seguinte, ela não apareceu no baile. Ele ficou o tempo todo à procura, um havaiano desconsolado. Não sabia nem como perguntar por ela. Não conhecia a tal tia. Passara um ano inteiro pensando nela, às vezes tirando o leque do seu esconderijo para cheirá-lo, antegozando o momento de encontrá-la outra vez no baile. E ela não apareceu. Marcelão, o mau elemento da sua turma, tinha levado gim para misturar com o guaraná. Ele bebeu demais. Teve que ser carregado para casa. Acordou na sua cama sem lençol, que estava sendo lavado. O que acontecera? — Você vomitou a alma — disse a mãe. Era exatamente como se sentia. Como alguém que vomitara a alma e nunca a teria de volta. Nunca. Nem o leque tinha mais o cheiro dela. Mas, no ano seguinte, ele foi ao baile dos adultos no clube — e lá estava ela! Quinze anos. Uma moça. Peitos, tudo. Uma fantasia indefinida. — Sei lá. Bávara tropical — disse ela, rindo. Estava diferente. Não era só o corpo. Menos tímida, o riso mais alto. Contou que faltara no ano anterior porque a avó morrera, logo no Carnaval. — E aquela bailarina espanhola? — Nem me fala. E o toureiro? — Aposentado. A fantasia dele era de nada. Camisa florida, bermuda, finalmente um brasileiro. Ela estava com um grupo. Primos, amigos dos primos. Todos vagamente bávaros. Quando ela o apresentou ao grupo, alguém disse “Píndaro?!” e todos caíram na risada. Ele viu que ela estava rindo também. Deu uma desculpa e afastou-se. Foi procurar o Marcelão. O Marcelão anunciara que levaria várias garrafas presas nas pernas, escondidas sob as calças da fantasia de sultão. O Marcelão tinha o que ele precisava para encher o buraco deixado pela alma. Quinze anos, pensou ele, e já estou perdendo todas as ilusões da vida, começando pelo Carnaval. Não devo chegar aos 30, pelo menos não inteiro. Passou todo o baile encostado numa coluna adornada, bebendo o guaraná clandestino do Marcelão, vendo ela passar abraçada com uma sucessão de primos e amigos de primos, principalmente um halterofilista, certamente burro, talvez até criminoso, que reduzira sua fantasia a um par de calças curtas de couro. Pensou em dizer alguma coisa, mas só o que lhe ocorreu dizer foi “pelo menos o meu tirolês era autêntico” e desistiu. Mas, quando a banda começou a tocar Bandeira branca e ele se dirigiu para a saída, tonto e amargurado, sentiu que alguém o pegava pela mão, virou-se e era ela. Era ela, meu Deus, puxando-o para o salão. Ela enlaçando-o com os dois braços para dançarem assim, ela dizendo “não vale, você cresceu mais do que eu” e encostando a cabeça no seu ombro. Ela encostando a cabeça no seu ombro. *** Encontram-se de novo 15 anos depois. Aliás, neste Carnaval. Por acaso, num aeroporto. Ela desembarcando, a caminho do interior, para visitar a mãe. Ele embarcando para encontrar os filhos no Rio. Ela disse “quase não reconheci você sem fantasias”. Ele custou a reconhecê-la. Ela estava gorda, nunca a reconheceria, muito menos de bailarina espanhola. A última coisa que ele lhe dissera fora “preciso te dizer uma coisa”, e ela dissera “no Carnaval que vem, no Carnaval que vem” e no Carnaval seguinte ela não aparecera, ela nunca mais aparecera. Explicou que o pai tinha sido transferido para outro estado, sabe como é, Banco do Brasil, e como ela não tinha o endereço dele, como não sabia nem o sobrenome dele e, mesmo, não teria onde tomar nota na fantasia de falsa bávara... — O que você ia me dizer, no outro Carnaval? — perguntou ela. — Esqueci — mentiu ele. Trocaram informações. Os dois casaram, mas ele já se separou. Os filhos dele moram no Rio, com a mãe. Ela, o marido e a filha moram em Curitiba, o marido também é do Banco do Brasil... E a todas essas ele pensando: digo ou não digo que aquele foi o momento mais feliz da minha vida, Bandeira branca, a cabeça dela no meu ombro, e que todo o resto da minha vida será apenas o resto da minha vida? E ela pensando: como é mesmo o nome dele? Péricles. Será Péricles? Ele: digo ou não digo que não cheguei mesmo inteiro aos 30, e que ainda tenho o leque? Ela: Petrarco. Pôncio. Ptolomeu... *Histórias brasileiras de verão, Copyright by © Luis Fernando Verissimo editora Objetiva, Rio de Janeiro (RJ) 3- CONTO: "Caso de Chá", por Carlos Drummond de Andrade http://espacobotequim.blogspot.com.br/2011/12/conto-caso-de-cha-por-carlos-drummond.html A casa da velha senhora fica na encosta do morro, tão bem situada que ali se aprecia o bairro inteiro, e o mar é uma de suas riquezas visuais. Mas o terreno em volta da casa vive ao abandono. O jardineiro despediu-se há tempos; hortelão, não se encontra nem por milagre. A velha moradora resigna-se a ver crescer a tiririca na propriedade que antes era um brinco. Até cobra começou a passear entre a folhagem, com indolência; é uma cobrinha de nada, mas sempre assusta. O verdureiro que faz ponto na rua lá embaixo ofereceu-se para matá-la. A boa senhora reluta, mas não pode viver com uma cobra tomando banho de sol junto ao portão, e a bicha é liquidada a pau. Bom rapaz, o verdureiro, cheio de atenções para com os fregueses. Na ocasião, um problema o preocupa: não tem onde guardar à noite a carrocinha de verduras. – Ora, o senhor pode guardar aqui em casa. Lugar não falta. – Muito agradecido, mas vai incomodar a madame. – Incomoda não, meu filho. A carrocinha passa a ser recolhida nos fundos do terreno. Todas as manhãs o dono vem retirá-la, trazendo legumes frescos para a gentil senhora. Cobra-lhe menos e até não cobra nada. Bons amigos. – Madame gosta de chá? – Nâo posso tomar, me dá dispepsia, me põe nervosa. – Pois eu sou doido por chá. Mas está tão caro que nem tenho coragem de comprar. Posso fazer um pedido? Quem sabe se a madame, com esse terreno todo sem aproveitar, não me deixa plantar uns pés, pouquinha coisa, só para o meu consumo? Claro que deixa. Em poucas horas o quintal é capinado, tudo ganha outro aspecto. Mão boa é a desse moço: o que ele planta é viço imediato. A pequenina cultura de chá torna alegre outra vez a terra abandonada. Não faz mal que a plantação se vá estendendo por toda a área. A velha senhora sente prazer em ajudar o bom lavrador. Alegando que precisa fazer exercício, caminhando com cautela pois enxerga mal, ela rega as plantinhas, que lhe agradecem a atenção prosperando rapidamente. – Madame sabe: minha intenção era colher só uma pequena quantidade. Mas o chá saiu tão bom que os parentes vivem me pedindo um pouco e eu não vou negar a eles. É pena madame não experimentar. Mas não aconselho: se faz mal, não deve mesmo tocar neste chá. O filho da velha senhora chegou da Europa esta noite. Lá ficou anos estudando. Achou a mãe lépida, bem disposta. – E eu trabalho, sabe, meu querido? Todos os dias rego a plantação de chá que um moço me pediu licença para fazer no quintal. Amanhã de manhã você vai ver a beleza que está. O verdureiro já havia saído com a carrocinha. A senhora estende o braço, mostra com orgulho a lavoura que, pelo esforço em comum, é também um pouco sua. O filho quase caiu duro: – A senhora está maluca? Isso nunca foi chá, nem aqui nem na Índia. Isso é maconha, mamãe! 4- A DOIDA (www.educacional.com.br/upload/blogsite/3765/3765501/) (Carlos Drummond de Andrade In: Contos de Aprendiz.) A doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado. E a rua descia para o córrego, onde os meninos costumavam banhar-se. Era só aquele chalezinho, à esquerda, entre o barranco e um chão abandonado; à direita, o muro de um grande quintal. E na rua, tornada maior pelo silêncio, o burro pastava. Rua cheia de capim, pedras soltas, num declive áspero. Onde estava o fiscal, que não mandava capiná-la? Os três garotos desceram manhã cedo, para o banho e a pega de passarinho. Só com essa intenção. Mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário: que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses benefícios, ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandade. E isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria. E os três sentiamse inclinados a lapidar a doida, isolada e agreste no seu jardim. Como era mesmo a cara da doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas, conversando na calma. Só o busto, recortado, numa das janelas da frente, as mãos magras, ameaçando. Os cabelos, brancos e desgrenhados. E a boca inflamada, soltando xingamentos, pragas, numa voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturadas a termos populares, dos quais alguns pareciam escabrosos, e todos fortíssimos na sua cólera. Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto (contava mais de 60 anos, e loucura e idade, juntas, lhe lavravam o corpo). Corria, com variantes, a história de que fora noiva de um fazendeiro, e o casamento, uma festa estrondosa; mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a, no calor do bate-boca; ela rolou escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebentando-se. Os dois nunca mais se viram. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara, e esclareciam que certa manhã o velho sentira um amargo diferente no café, ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a morrer – mas nos racontos antigos abusava-se de veneno. De qualquer modo, as pessoas grandes não contavam a história direito, e os meninos deformavam o conto. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego, e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pão na caixa de madeira, à entrada, e eclipsava-se. Diziam que nessa caixa uns primos generosos mandavam pôr, à noite, provisões e roupas, embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável. Às vezes uma preta velha arriscava-se a entrar, com seu cachimbo e sua paciência educada no cativeiro, e lá ficava dois ou três meses, cozinhando. Por fim a doida enxotava-a. E, afinal, empregada nenhuma queria servi-la. Ir viver com a doida, pedir a bênção à doida, jantar em casa da doida, passou a ser, na cidade, expressões de castigo e símbolos de irrisão. Vinte anos de tal existência, e a legenda está feita. Quarenta, e não há mudá-la. O sentimento de que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, instalou-se no espírito das crianças. E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam uma pedra. A princípio, como justa penalidade. Depois, por prazer. Finalmente, e já havia muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a idéia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso. Em vão os pais censuravam tal procedimento. Quando meninos, os pais daqueles três tinham feito o mesmo, com relação à mesma doida, ou a outras. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que se desse um jeito para internar a doida. Mas como? O hospício era longe, os parentes não se interessavam. E daí – explicava-se ao forasteiro que porventura estranhasse a situação – toda cidade tem seus doidos; quase que toda família os tem. Quando se tornam ferozes, são trancados no sótão; fora disto, circulam pacificamente pelas ruas, se querem fazê-lo, ou não, se preferem ficar em casa. E doido é quem Deus quis que ficasse doido... Respeitemos sua vontade. Não há remédio para loucura; nunca nenhum doido se curou, que a cidade soubesse; e a cidade sabe bastante, ao passo que livros mentem. Os três verificaram que quase não dava mais gosto apedrejar a casa. As vidraças partidas não se recompunham mais. A pedra batia no caixilho ou ia aninhar-se lá dentro, para voltar com palavras iradas. Ainda haveria louça por destruir, espelho, vaso intato? Em todo caso, o mais velho comandou, e os outros obedeceram na forma do sagrado costume. Pegaram calhaus lisos, de ferro, tomaram posição. Cada um jogaria por sua vez, com intervalos para observar o resultado. O chefe reservou-se um objetivo ambicioso: a chaminé. O projétil bateu no canudo de folha-de-flandres enegrecido – blem – e veio espatifar uma telha, com estrondo. Um bem-te-vi assustado fugiu da mangueira próxima. A doida, porém, parecia não ter percebido a agressão, a casa não reagia. Então o do meio vibrou um golpe na primeira janela. Bam! Tinha atingido uma lata, e a onda de som propagou-se lá dentro; o menino sentiu-se recompensado. Esperaram um pouco, para ouvir os gritos. As paredes descascadas, sob as trepadeiras e a hera da grade, as janelas abertas e vazias, o jardim de cravo e mato, era tudo a mesma paz. Aí o terceiro do grupo, em seus 11 anos, sentiu-se cheio de coragem e resolveu invadir o jardim. Não só podia atirar mais de perto na outra janela, como até, praticar outras e maiores façanhas. Os companheiros, desapontados com a falta do espetáculo cotidiano, não, queriam segui-lo. E o chefe, fazendo valer sua autoridade, tinha pressa em chegar ao campo. O garoto empurrou o portão: abriu-se. Então, não vivia trancado? ...E ninguém ainda fizera a experiência. Era o primeiro a penetrar no jardim, e pisava firme, posto que cauteloso. Os amigos chamavam-no, impacientes. Mas entrar em terreno proibido é tão excitante que o apelo perdia toda a significação. Pisar um chão pela primeira vez; e chão inimigo. Curioso como o jardim se parecia com qualquer um; apenas era mais selvagem, e o melão-de-são-caetano se enredava entre as violetas, as roseiras pediam poda, o canteiro de cravinas afogava-se em erva. Lá estava, quentando sol, a mesma lagartixa de todos os jardins, cabecinha móbil e suspicaz. O menino pensou primeiro em matar a lagartixa e depois em atacar a janela. Chegou perto do animal, que correu. Na perseguição, foi parar rente do chalé, junto à cancelinha azul (tinha sido azul) que fechava a varanda da frente. Era um ponto que não se via da rua, coberto como estava pela massa de folha gemo A cancela apodrecera, o soalho da varanda tinha buracos, a parede, outrora pintada de rosa e azul, abria-se em reboco, e no chão uma farinha de caliça denunciava o estrago das pedras, que a louca desistira de reparar. A lagartixa salvara-se, metida em recantos só dela sabidos, e o garoto galgou os dois degraus, empurrou cancela, entrou. Tinha a pedra na mão, mas já não era necessária; jogou-a fora. Tudo tão fácil, que até ia perdendo o senso da precaução. Recuou um pouco e olhou para a rua: os companheiros tinham sumido. Ou estavam mesmo com muita pressa, ou queriam ver até aonde iria a coragem dele, sozinho em casa da doida. Tomar café com a doida. Jantar em casa da doida. Mas estaria a doida? A princípio não distinguiu bem, debruçado à janela, a matéria confusa do interior. Os olhos estavam cheios de claridade, mas afinal se acomodaram, e viu a sala, completamente vazia e esburacada, com um corredorzinho no fundo, e no fundo do corredorzinho uma caçarola no chão, e a pedra que o companheiro jogará. Passou a outra janela e viu o mesmo abandono, a mesma nudez. Mas aquele quarto dava para outro cômodo, com a porta cerrada. Atrás da porta devia estar a doida, que inexplicavelmente não se mexia, para enfrentar o inimigo. E o menino saltou o peitoril, pisou indagador no soalho gretado, que cedia. A porta dos fundos cedeu igualmente à pressão leve, entreabrindo-se numa faixa estreita que mal dava passagem a um corpo magro. No outro cômodo a penumbra era mais espessa parecia muito povoada. Difícil identificar imediatamente as formas que ali se acumulavam. O tato descobriu uma coisa redonda e lisa, a curva de uma cantoneira. O fio de luz coado do jardim acusou a presença de vidros e espelhos. Seguramente cadeiras. Sobre uma mesa grande pairavam um amplo guarda-comida, uma mesinha de toalete mais algumas cadeiras empilhadas, um abajur de renda e várias caixas de papelão. Encostado à mesa, um piano também soterrado sob a pilha de embrulhos e caixas. Seguia-se um guarda-roupa de proporções majestosas, tendo ao alto dois quadros virados para a parede, um baú e mais pacotes. Junto à única janela, olhando para o morro, e tapando pela metade a cortina que a obscurecia, outro armário. Os móveis enganchavam-se uns nos outros, subiam ao teto. A casa tinha se espremido ali, fugindo à perseguição de 40 anos. O menino foi abrindo caminho entre pernas e braços de móveis, contorna aqui, esbarra mais adiante. O quarto era pequeno e cabia tanta coisa. Atrás da massa do piano, encurralada a um canto, estava a cama. E nela, busto soerguido, a doida esticava o rosto para a frente, na investigação do rumor insólito. Não adiantava ao menino querer fugir ou esconder-se. E ele estava determinado a conhecer tudo daquela casa. De resto, a doida não deu nenhum sinal de guerra. Apenas levantou as mãos à altura dos olhos, como para protegê-los de uma pedrada. Ele encarava-a, com interesse. Era simplesmente uma velha, jogada num catre preto de solteiro, atrás de uma barricada de móveis. E que pequenininha! O corpo sob a coberta formava uma elevação minúscula. Miúda, escura, desse sujo que o tempo deposita na pele, manchando-a. E parecia ter medo. Mas os dedos desceram um pouco, e os pequenos olhos amarelados encararam por sua vez o intruso com atenção voraz, desceram às suas mãos vazias, tornaram a subir ao rosto infantil. A criança sorriu, de desaponto, sem saber o que fizesse. Então a doida ergueu-se um pouco mais, firmando-se nos cotovelos. A boca remexeu, deixou passar um som vago e tímido. Como a criança não se movesse, o som indistinto se esboçou outra vez. Ele teve a impressão de que não era xingamento, parecia antes um chamado. Sentiu-se atraído para a doida, e todo desejo de maltratá-la se dissipou. Era um apelo, sim, e os dedos, movendo-se canhestramente, o confirmavam. O menino aproximou-se, e o mesmo jeito da boca insistia em soltar a mesma palavra curta, que entretanto não tomava forma. Ou seria um bater automático de queixo, produzindo um som sem qualquer significação? Talvez pedisse água. A moringa estava no criado - mudo, entre vidros e papéis. Ele encheu o copo pela metade, estendeu-o. A doida parecia aprovar com a cabeça, e suas mãos queriam segurar sozinhas, mas foi preciso que o menino a ajudasse a beber. Fazia tudo naturalmente, e nem se lembrava mais por que entrara ali, nem conservava qualquer espécie de aversão pela doida. A própria idéia de doida desaparecera. Havia no quarto uma velha com sede, e que talvez estivesse morrendo. Nunca vira ninguém morrer, os pais o afastavam se havia em casa um agonizante. Mas deve ser assim que as pessoas morrem. Um sentimento de responsabilidade apoderou-se dele. Desajeitadamente, procurou fazer com que a cabeça repousasse sobre o travesseiro. Os músculos rígidos da mulher não o ajudavam. Teve que abraçar-lhe os ombros – com repugnância – e conseguiu, afinal, deitá-la em posição suave. Mas a boca deixava passar ainda o mesmo ruído obscuro, que fazia crescer as veias do pescoço, inutilmente. Água não podia ser, talvez remédio... Passou-lhe um a um, diante dos olhos, os frasquinhos do criado-mudo. Sem receber qualquer sinal de aquiescência. Ficou perplexo, irresoluto. Seria caso talvez de chamar alguém, avisar o farmacêutico mais próximo, ou ir à procura do médico, que morava longe. Mas hesitava em deixar a mulher sozinha na casa aberta e exposta a pedradas. E tinha medo de que ela morresse em completo abandono, como ninguém no mundo deve morrer, e isso ele sabia que não apenas porque sua mãe o repetisse sempre, senão também porque muitas vezes, acordando no escuro, ficara gelado por não sentir o calor do corpo do irmão e seu bafo protetor. Foi tropeçando nos móveis, arrastou com esforço o pesado armário da janela, desembaraçou a cortina, e a luz invadiu o depósito onde a mulher morria. Com o ar fino veio uma decisão. Não deixaria a mulher para chamar ninguém. Sabia que não poderia fazer nada para ajudá-la, a não ser sentar-se à beira da cama, pegar-lhe nas mãos e esperar o que ia acontecer. Conto 5- IDEIAS DO CANÁRIO – Machado de Assis Um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração. No princípio do mês passado, — disse ele, — indo por uma rua,sucedeu que um tílburi à disparada, quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de umna loja de belchior. Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado, que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história, como podiam ter alguns dos objetos que vendia, nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vidas. A loja era escura, atulhada das cousas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampa, tampas sem panela, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pêlo, caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, dois cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, duas máscaras de arame para o carnaval que há de vir, tudo isso e o mais que não vi ou não me ficou de memória, enchia a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro, igualmente velhas. Lá para dentro, havia outras cousas mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Ia a sair, quando vi uma gaiola pendurada da porta. Tão velha como o resto, para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava lhe estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho davam àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de algum naufrágio, que ali foi parar íntegro e alegre como dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima, de poleiro em poleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque falo a gente retórica; em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu, de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do pássaro, e murmurei baixinho palavras de azedume. — Quem seria o dono execrável deste bichinho, que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno, que o vendeu para ir jogar uma quiniela? E o canário, quedando-se em cima do poleiro, trilou isto: — Quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente; vai-te curar, amigo. — Como — interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu a esta casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério, como um raio de sol? — Não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que tens visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito, mas estou vendo que confundes. — Perdão, mas tu não vieste para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado. — Que dono? Esse homem que aí está é meu criado, dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco; mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se a linguagem, se as idéias. A linguagem, posto me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim, para verificar se estava acordado; a rua era a mesma, a loja era a mesma loja escura, triste e úmida. O canário, movendo a um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe então se tinha saudades do espaço azul e infinito. — Mas, caro homem, trilou o canário, que quer dizer espaço azul e infinito? — Mas, perdão, que pensas deste mundo? Que cousa é o mundo? O mundo, redargüiu o canário com certo ar de professor, o mundo é uma loja de belchior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego; o canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Nisto acordou o velho, e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira, como o resto dos objetos que vendia, e soube que sim, que o comprara a um barbeiro, acompanhado de uma coleção de navalhas. — As navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele. — Quero só o canário Paguei lhe o preço, mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda da minha casa, donde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul. Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabeto a língua do canário, por estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, primeiros séculos, geologia e flora das ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc. Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando. Não tendo mais família que dois criados, ordenava lhes que não me interrompessem, ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente, ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem, e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos. Não é mister dizer que dormia pouco, acordava duas e três vezes por noite, passeava à toa, sentia me com febre. Afinal tornava ao trabalho, para reler, acrescentar, emendar. Retifiquei mais de uma observação, — ou por havê-la entendido mal, ou porque ele não a tivesse expresso claramente. A definição do mundo foi uma delas. Três semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo. — O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima; o canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo o mais é ilusão e mentira. Também a linguagem sofreu algumas retificações, e certas conclusões, que me tinham parecido simples, vi que eram temerárias. Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemãs, não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las. Nos últimos dias, não saía de casa, não respondia a cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e pôr lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a esse homem faltava qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo; o criado não era amador de pássaros. Um sábado amanheci enfermo, a cabeça e a espinha doíam-me. O médico ordenou absoluto repouso; era excesso de estudo, não devia ler nem pensar, não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Assim fiquei cinco dias; no sexto levantei-me, e só então soube que o canário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi para esganar o criado; a indignação sufocou-me, caí na cadeira, sem voz, tonto. O culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado, o passarinho é que fugira por astuto. — Mas não o procuraram? Procuramos, sim, senhor; a princípio trepou ao telhado, trepei também, ele fugiu, foi para uma árvore, depois escondeu-se não sei onde. Tenho indagado desde ontem, perguntei aos vizinhos, aos chacareiros, ninguém sabe nada. Padeci muito; felizmente, a fadiga estava passada, e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra de canário. Indaguei, corri, anunciei, e nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo, que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras dos arrabaldes. Passeávamos nela antes de jantar, quando ouvi trilar esta pergunta: — Viva, Sr. Macedo, por onde tem andado que desapareceu? Era o canário; estava no galho de uma árvore. Imaginem como fiquei, e o que lhe disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doido; mas que me importavam cuidados de amigos? Falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação, naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca e circular. — Que jardim? que repuxo? — O mundo, meu querido. — Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Indignado, retorqui-lhe que, se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo; até já fora uma loja de belchior. — De belchior? trilou ele às bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de belchior? Texto extraído do livro “O Alienista e outros contos”, Editora Moderna – São Paulo, 1995, pág. 73. 6- Baleia Graciliano Ramos A CACHORRA Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pêlo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa nas base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tenção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que advinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta: - Vão bulir com a Baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não se difereciavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiquiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sinhá vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos: prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se: naturalmente a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da Baleia. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da Baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como sinhá Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga: - Capeta excomungado. Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho. Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu, e sinhá Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada, gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais, achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando as barúna e as porteiras, açulando um cão invisível contra animais invisíveis: -Ecô! ecô! Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a e esfregar as peladuras no pé de turco, levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi-se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos de Baleia, que se pôs latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na caca chorando alto. Fabiano recolheu-se. E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí por um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino, aos pulos. Defronte do carro de bois faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojarse ali: cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e quando se levantava, tinha as folhas e gravetos colados às feridas, era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteira, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latina: uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tomavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximavase. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava: certamente os preás tinha fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano: tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham-se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio, o fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzilos ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a importância em que se achava nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar cabras: àquela hora cheiros de suçuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavamlhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil no barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava no cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, sinhá Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E, findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam, um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do outro peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava, espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, certamente sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. _______________ Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas secas, 82ªed. Rio de Janeiro: Record. 2001. p. 85-91.
Download